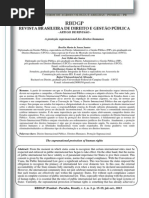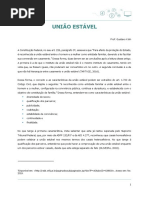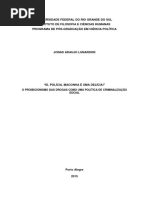Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o Estado Brasileiro: Incentivo Na Construção de Políticas Públicas
Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o Estado Brasileiro: Incentivo Na Construção de Políticas Públicas
Enviado por
BrunoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o Estado Brasileiro: Incentivo Na Construção de Políticas Públicas
Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o Estado Brasileiro: Incentivo Na Construção de Políticas Públicas
Enviado por
BrunoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o Estado Brasileiro: Incentivo Na Construção de Políticas Públicas
Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o Estado Brasileiro: Incentivo Na Construção de Políticas Públicas
Enviado por
BrunoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
Tratados Internacionais de Direitos Humanos e
o Estado Brasileiro: incentivo na construção de
políticas públicas
Luís Renato Vedovato1
Michelle Camille Barreto 2
Recebido em 08 julho de 2015
Aprovado em 16 outubro de 2015
DOI: 10.18829/2Frp3.v1i2
RESUMO
Esse trabalho apresenta elementos para o entendimento do processo de internalização dos tra-
tados internacionais no Brasil. São estudados quais são os atores envolvidos no processo, qual
o contexto dos direitos humanos no mundo, como foi elaborado o Sistema Internacional de
Direitos Humanos, como o Brasil se insere nesse contexto e quais são os principais tratados e
convenções que o país é signatário. Verifica-se também a atuação do Estado brasileiro frente à
proteção dos direitos fundamentais, sua estrutura política e organizacional, os principais atores
na garantia das políticas de proteção dos direitos fundamentais, nas três esferas da
Administração Pública e quais Planos e Programas estão vigentes atualmente.
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Avaliação de políticas.
Mapeamento.
ABSTRACT
This work presents elements for understanding the internationalization process of international
tre- aties in Brazil. Are studied which actors are involved in this process, what is the humans
rights con- text in the world, how was elaborated the Human Rights International System, how
Brazil is inserted in this context and which are the main treaties and conventions that the
country is signatory. It is also verified the Brazilian State acting in front of human rights
protection, your politic and organiza- tional structure, the main actors in guarantee policies of
fundamental rights, in the three spheres of government and what are the Plans and Programs
currently in effect.
Keywords: Fundamental Rights. Evaluation of Policies.
Mapping.
1. Introdução
A abordagem inicial do tema é inafastavelmente relacionada a como os direitos humanos
são vistos no Brasil, principalmente pelos órgãos do Estado, além de como a ratificação de
Tratados Internacionais influenciaram e influenciam no cotidiano das normas brasileiras.
A redemocratização do país foi o marco inicial na história da busca pela efetivação dos direitos
humanos no Brasil. A Constituição de 1988 surge como indicativo do interesse de ampliar
o rol de direitos e garantias dos cidadãos brasileiros, o que se pode perceber pelo artigo 5º,
1. Professor da Universidade de Campinas (UNICAMP). lrvedovato@gmail.com
2. Graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
barretoc.michelle@gmail.com
32 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
que diz respeito a todos os direitos, tanto individuais quanto coletivos, especialmente pela
cláusula de abertura contida no parágrafo 2o do referido artigo.
O Brasil mostra-se interessado em atuar na busca da proteção dos direitos humanos ao rea-
lizar a ratificação dos dois pactos de grande influência para a garantia dos direitos. O Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, que inserem o Brasil no Sistema Internacional de Proteção dos Direitos
Humanos, algo que se aprofunda quando, posteriormente, em 2006, o Brasil passa a fazer
parte do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
No Brasil, o processo de negociação da ratificação dos tratados internacionais tem início
com a assinatura, que é de competência do presidente da República. Uma vez assinado pelo
presidente, o tratado é encaminhado ao Congresso Nacional para a aprovação interna. Com
a ratificação, de competência do Executivo, dos tratados, o país assume a responsabilidade
de seguir as especificações acordadas e de implementá-las por meio de decreto legislativo
(RAMOS, 2014). Dessa maneira, o Direito Internacional e o Direito Interno devem interagir
para o cumprimento dos objetivos firmados.
Para tornar mais compreensível o processo de internalização das normas internacionais, este
trabalho apresenta como objetivos principais: (i) verificar quais são os principais tratados de
proteção dos direitos humanos ratificados pelo Brasil; (ii) fazer um levantamento dos órgãos
federais ligados à proteção dos direitos humanos; (iii) identificar os programas nacionais
de proteção dos direitos humanos; e (iv) catalogar as instituições públicas que promovem a
proteção dos direitos humanos.
Para elucidar o processo de vinculação do Estado ao tratado internacional, deve-se, primei-
ramente, entender o contexto em que o país e o mundo se encontram, quais atores interna-
cionais, tratados e jurisdições foram adotados internamente, saber quais atores participam
do processo e também o que a Administração Pública pode e deve fazer para a garantia dos
direitos humanos.
2. Metodologia
A metodologia utilizada nas pesquisas jurídicas se apresenta num campo delicado. É neces-
sário diferenciar metodologia como método de trabalho e metodologia como abordagem
metodológica.
Na primeira situação, há pouca variação, já que a pesquisa jurídica costuma limitar-se à
análise de doutrina e da jurisprudência. A pesquisa que se propõe realizar enquadra-se nesse
método de trabalho, já que outros métodos – estatísticos, pesquisa de campo, etc – a ela não
se aplicam.
33 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
A abordagem metodológica, que normalmente é deixada de lado quando se fala em meto-
dologia de pesquisa, pode ser dogmática, sociológica, estatística, empírica, filosófica, entre
outras. O presente projeto de pesquisa tem caráter essencialmente dogmático.
A análise do Direito vigente (nacional, estrangeiro e internacional), especialmente do Direito
vigente na visão daqueles que o aplicam – os tribunais, tanto nacionais quanto estrangeiros
–, faz parte da tarefa da dimensão empírica da dogmática jurídica. Por fim, e com base nos
resultados das análises conceitual e empírica, objetiva-se fornecer uma resposta adequada
para o problema enfrentado. Aí reside a dimensão normativa, que pretende prescrever solu-
ções. É essa multidimensionalidade que expressa o caráter prático desta pesquisa.
Não se busca aqui a realização de uma análise teórica que se esgota em si mesma. Pretende-
-se, pelo contrário, não só contribuir para a discussão sobre a nacionalidade e os direitos fun-
damentais, mas também fornecer subsídios para a atividade jurisprudencial, especialmente
aquela ocupada com a proteção dos direitos fundamentais.
3. Desenvolvimento
3.1 Contexto dos Direitos Humanos no Mundo
Para iniciar o estudo sobre os direitos humanos, deve-se ter em mente o que se considera
como sendo direitos humanos. Segundo Ramos (2014), os direitos humanos são um conjunto
de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana digna, pautada na liberdade,
igualdade e dignidade. Também são eles dotados de quatro ideias-chave: universalidade, es-
sencialidade, superioridade normativa e reciprocidade.
A visão contemporânea dos direitos humanos, expressa na Declaração e Programa de Ação
de Viena de 1993, afirma em seu parágrafo 5°: “Todos os direitos humanos são universais,
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos
humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ên-
fase” (Conferência de Viena, 1993). Piovesan (2004) define a visão contemporânea dos direi-
tos humanos como “uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de
conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e
culturais”, reforçando a necessidade de uma visão de proteção integral dos direitos humanos,
de maneira que a universalização dos direitos humanos demonstra a capacidade de proteção
dos direitos além das fronteiras nacionais.
Diante desses conceitos básicos, parte-se para o entendimento da evolução dos direitos nos
mais variados ordenamentos jurídicos do mundo. Tem início aí a compreensão do pensa-
mento moderno e contemporâneo sobre direitos humanos.
34 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
Após a segunda Guerra Mundial, os países passam a adotar uma nova perspectiva no campo
dos direitos. A proteção dos direitos humanos ganha relevância, com a justificativa de pre-
venir e impedir que atrocidades, como as cometidas nas guerras, se repetissem. Essencial-
mente, no entanto, o crescimento da proteção internacional dos direitos humanos se deve à
tentativa dos Estados de se legitimarem interna e internacionalmente. Tem-se, assim, a ne-
cessidade de abrigar os direitos humanos, de maneira que se busca uma concordância entre
os países do mundo em alcançar a paz e a resolução dos conflitos, facultando aos Estados um
amplo esforço para garantir e proteger tais direitos.
Diante da intenção mundial de promoção de direitos, em 1945 (que pode ter fundamento ex-
clusivamente na busca de legitimação pelos Estados), formaliza-se a criação da Organização
das Nações Unidas (ONU), por meio da Carta das Nações Unidas, com o intuito de discutir
e propor ações específicas para a proteção internacional dos direitos humanos. Nesse con-
texto, em 1948, é aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecida como
Declaração de Paris, concretizada pela Resolução 217 A (III), da Assembleia Geral, em 10 de
dezembro, por 48 votos a zero e oito abstenções, efetivadas por África do Sul, Arábia Saudita,
Bielorrússia, Checoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia e União Soviética. Segundo Laffer
(1948), a declaração é o primeiro texto de alcance internacional que trata de maneira abran-
gente da importância dos direitos humanos, representando um marco na afirmação histórica
desses direitos, como critério organizador e humanizador da vida coletiva na relação entre
governantes e governados. A Declaração Universal é formada pela composição da indivisi-
bilidade e universalidade dos direitos (PIOVESAN, 2004), inaugurando as discussões sobre
proteção internacional dos direitos humanos.
Ao elaborar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por meio da Comissão de Di-
reitos Humanos, a intenção da ONU era estabelecer um marco normativo vinculante aos
Estados, com o objetivo de fortalecer a ideia de proteção dos direitos fundamentais. Esse
marco deveria ser seguido pela elaboração de um tratado internacional de direitos humanos.
Porém, os Estados potências já na época (Estados Unidos e União Soviética) concentraram
seus esforços na Guerra Fria. Foi somente em 1966 que dois pactos de extrema importância
foram aprovados: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional
dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. A união desses três elementos seria a chamada
“Carta Internacional dos Direitos Humanos”, que, segundo Ramos (2014), representou a sis-
tematização da proteção dos direitos humanos.
Para Bilder (2004), o Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste em focar as re-
gras internacionais, procedimentos e instituições de desenvolvimento para implementar o
conceito e promover o respeito aos direitos humanos em todos os países. Aponta que, para
começar a se criar uma cultura de proteção aos direitos fundamentais, todos os países do
35 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
mundo devem tomar para si a responsabilidade de garantir aos seus cidadãos as condições
adequadas de uma vida digna.
A responsabilidade internacional de assegurar às populações mínimas condições de sobre-
vivência e dignidade, facilita a internalização pelo Estado da ideia de que os direitos civis
devem ser respeitados e protegidos, convergindo com uma pressão das sociedades em barrar
os comportamentos ofensivos de discriminação, escravidão, perseguição e exclusão, entre
outras formas de autoritarismos. Entretanto, no cenário mundial, fortalece-se a ideia de que
a proteção dos direitos humanos não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é,
não deve se restringir à competência nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica exclusiva,
porque revela tema de legítimo interesse internacional (PIOVESAN, 2001).
Sobre o Direito Internacional dos Direitos Humanos, Cançado Trindade escreve:
Entendo o Direito Internacional dos Direitos Humanos como o corpus juris de salvaguar-
da do ser humano, conformado, no plano substantivo, por normas, princípios e conceitos
elaborados e definidos em tratados e convenções, e resoluções de organismos internacio-
nais, consagrando direitos e garantias que têm por propósito comum a proteção do ser
humano em todas e quaisquer circunstâncias, sobretudo em suas relações com o poder
público, e, no plano processual, por mecanismos de proteção dotados de base convencio-
nal ou extraconvencional, que operam essencialmente mediante os sistemas de petições,
relatórios e investigações, nos planos tanto global como regional. Emanado do Direito
Internacional, este corpus juris de proteção adquire autonomia, na medida em que regu-
la relações jurídicas dotadas de especificidade, imbuído de hermenêutica e metodologia
próprias. (TRINDADE, 2006, p. 412)
Dessa maneira, as forças internacionais interagem para a consolidação da recém-criada Or-
ganização das Nações Unidas, priorizando, assim, as ações protetivas dos direitos humanos,
revelando a necessidade de solidificação da sua proteção internacional e impulsionando a
criação de um Sistema Internacional.
3.2 O Sistema Internacional de Direitos Humanos
A criação de um Sistema Internacional de Direitos Humanos foi necessária para abrigar os
Estados diante da nova configuração da ordem mundial. A normatização em forma de tra-
tados, convenções e pactos, entre outros dispositivos, acelerou o processo de internacionali-
zação dos direitos e determinou a entrada dos países no Sistema. A Organização das Nações
Unidas (ONU) tomou a frente de todo o processo e, diante dos artigos da Carta das Nações
Unidas, deu procedência à formação do Sistema.
Intencionalmente, a universalização dos direitos, explicitada na II Conferência Mundial de
Direitos Humanos, ocorrida em Viena, em 1993, também impulsionou a vontade dos Estados
em afugentar situações como as cometidas no período anterior e durante a Segunda Guerra
Mundial (ou fortaleceu a sua legitimação), de maneira que a criação do sistema normativo de
proteção dos direitos humanos pela ONU foi um grande avanço para o período.
36 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
O Sistema de Proteção dos Direitos Humanos estabelece normas a serem seguidas pelos
Estados adeptos por meio de tratados internacionais, promovendo um alinhamento do pen-
samento ético sobre os direitos humanos entre tais Estados (PIOVESAN, 2001). Por ser um
sistema global, algumas regiões sentem a necessidade de criar sistemas locais mais específi-
cos. Dessa forma, são criados os Sistemas Europeu, Americano e Africano, para promover e
disseminar os valores de proteção aos direitos humanos, em conjunto com o sistema global
formado pela ONU (AGU, 2014).
Os sistemas global e regional não são dicotômicos. Eles revelam a mesma vontade de prote-
ção dos direitos, diante da Declaração Universal. Piovesan (2001) argumenta que os sistemas
compõem um universo instrumental de proteção dos direitos humanos no plano internacio-
nal. Diante dessa visão os diversos sistemas interagem para beneficiar os indivíduos prote-
gidos. Adotar esses sistemas, somando-os ao sistema interno nacional, tem a finalidade de
proporcionar maior efetividade na proteção e promoção dos direitos fundamentais.
Para Ramos (2012), a explicação para a entrada dos países no sistema global, adotando a
proteção dos direitos como linha de frente de suas ações, permitindo a fiscalização global de
suas políticas, limitando suas políticas e criando obrigações jurídicas, pode ser revelada por
seis motivos. São razões que podem não se aplicar da mesma maneira para todos os Estados,
mas de alguma forma influenciam suas decisões. Os motivos são: o próprio Direito Interna-
cional dos Direitos Humanos; o anseio de adquirir legitimidade política na arena internacio-
nal e distanciar-se das ditaduras; o estabelecimento de diálogo entre os povos, revestido pelo
seu conteúdo ético; motivos econômicos, com a finalidade de oferecer um padrão mínimo da
sociedade para atrair investidores; a atuação da sociedade civil organizada, gerando pressão
sobre os governos para atuarem ativamente na promoção dos direitos; e, por fim, a mobiliza-
ção das comunidades na reivindicação de direitos básicos não respeitados.
Benoni (2009) afirma que a consolidação institucional do Sistema Internacional de Direitos
Humanos da ONU, pautado nos tratados e convenções, coincidiu com a atribuição ao Con-
selho Econômico e Social e à Comissão de Direitos Humanos o papel de definir os padrões
internacionais de proteção que os Estados deveriam seguir. Contudo, apenas depois da déca-
da de 60, os países realmente demonstraram sua proatividade no cumprimento das normas
internacionais. Diante desse contexto, Alves (2011) considera o período de 1947-1967 como
excessivamente politizado e seletivo, o que resultou em abstencionismo e intervencionismo
durante as fases de evolução do sistema.
A argumentação de Benoni (2009) revela que esse processo culminou na dissolução da Co-
missão e na organização do Conselho de Direitos Humanos, formado em 2006, por meio da
Resolução 60/251 da Assembleia Geral. O conselho teve a intenção de criar mecanismos de
37 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
avaliação e monitoramento mais eficazes na proteção dos direitos humanos, para inibir o
descumprimento dos acordos feitos pelos países associados ao Sistema Global.
Deve ser mencionado que o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos, segundo Piovesan
(2001), possui quatro dimensões de acordo com: a determinação por consenso internacional
de parâmetros mínimos de proteção dos direitos humanos; a conciliação entre as gramá-
ticas internacionais e nacionais sobre garantia de direitos e deveres; a criação de órgãos de
proteção, como comitês, relatorias e cortes, entre outros organismos; e, por fim, a criação de
mecanismos de monitoramento voltados à implementação dos direitos assegurados interna-
cionalmente. Essas características complementam e auxiliam as atividades dos países dentro
do Sistema. Um dos mecanismos mais utilizados entre as normas é a ratificação de tratados
e convenções, de maneira que os países se sujeitam a seguir as regras internacionais e partem
para uma visão mais progressiva e protetiva dos direitos fundamentais.
Partindo da explicação de Ramos (2014), entende-se que o Sistema gere um conjunto de me-
canismos por meio de órgãos direta ou indiretamente ligados à ONU. Esses organismos são
divididos em onusianos, aqueles ligados diretamente à ONU e apoiados por tratados ligados
à ONU, e aqueles independentes, previstos nos tratados. Na primeira classificação, encon-
tram-se o Conselho de Direitos Humanos, relatores especiais de Direitos Humanos e o Alto
Comissariado de Direitos Humanos. Já na segunda classificação, podem ser encontrados os
comitês criados por tratados internacionais de âmbito universal e o Tribunal Penal Interna-
cional (subdividido em cortes regionais).
Pode-se entender que a proteção internacional age em três eixos: o Sistema Universal (ONU),
com seus pactos, protocolos e convenções, o Sistema Regional Americano (OEA), com pro-
tocolos e convenções e os mecanismos internacionais de proteção e monitoramento dos Di-
reitos Humanos, com conselhos, comitês e comissões.
Diante do panorama geral criado sobre os Sistemas, uma explicação mais detalhada sobre o
que são os tratados de direitos humanos se faz necessária. Nesses termos, colocar a situação
do Brasil perante a ratificação dos mesmos segue o caminho lógico da formação da proteção
dos direitos humanos no país.
3.3 Principais Tratados e Convenções e Posição do Brasil no Sistema
Internacional
A Constituição Federal de 1988 adicionou ao cotidiano das normas brasileiras artigos funda-
mentais para a proteção dos direitos humanos, fato que revela a importância de se garantir
aos cidadãos parâmetros mínimos de convivência em sociedade. Por meio do artigo 5º, do
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, alterado pela Emenda Constitucional
nº 45/2004, a Constituição prevê um novo cenário na proteção dos direitos do homem.
38 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
Estão presentes na Constituição de 1988 os dispositivos legais sobre os tratados internacio-
nais ratificados pelo Brasil. A hierarquia destes (apesar de haver a defesa de que não há o es-
tabelecimento dessa hierarquia) e a dos tratados que não envolvem direitos humanos seguem
o artigo 102, inciso III, alínea b; o artigo 105, inciso III, alínea a; e o artigo 47. Diante destes
artigos, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que os tratados internacionais, em geral
incorporados, possuem estatuto normativo equivalente às leis ordinárias. Entretanto, para
Ramos (2014), a respeito da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos hou-
ve intenso debate doutrinário, podendo ser identificadas quatro posições de maior repercus-
são: a natureza supraconstitucional, a natureza constitucional, a natureza equiparada à lei
ordinária federal e a natureza supralegal. Já a Emenda Constitucional nº 45/2004 introduziu
o parágrafo 3º, que afirma: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.”
As posições defendidas envolviam a constitucionalidade, a equivalência a emendas constitu-
cionais, a dúvida sobre a posição dos tratados anteriores a essa emenda e, segundo Piovesan
(2006), a incorporação dos tratados anteriores ou posteriores deveriam ter estatuto consti-
tucional.
Diante das discussões geradas sobre os tratados de direitos humanos, vale descrever o pro-
cesso de incorporação destes na norma brasileira. Ramos (2014) revela as quatro fases do
processo: a assinatura pelo chefe de Estado (presidente, de acordo com a CF/88, artigo 84,
inciso VIII), a aprovação pelo Congresso Nacional, a ratificação e, finalmente, o decreto pre-
sidencial ou de promulgação).
A Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, de 1969, traz dois princípios interes-
santes para o estudo: o Princípio da Boa-Fé e o do Livre Consentimento. Por estes princí-
pios, o Estado deve cumprir o tratado ratificado, uma vez que o foi por livre consentimento
de adesão. Assim, cabe ao Estado responder por suas ações. Na interpretação de Piovesan
(2001), esses princípios, somados ao artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Huma-
nos, consagram ao Estado o princípio de seguir a norma mais favorável, seja ela proveniente
do Direito Internacional ou do nacional. Diante desse conceito, vale ressaltar que as regras
dos tratados internacionais só se aplicam aos Estados-parte. O interesse de se vincular aos
tratados deve ser legítimo, de maneira que, ao término do processo de ratificação, o Estado
esteja apto a cumprir o tratado em vigor, com a aplicação de suas normas.
No Brasil, o processo de vinculação a tratados internacionais de direitos humanos se inicia
após o período da redemocratização, sendo que os principais pactos e convenções podem ser
encontrados, na ordem precisamente separada por Piovesan (2009), da seguinte maneira: a
39 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 1989; b) da
Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em
28 de setembro de 1989; c) da Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de
1990; d) do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro de 1992; e) do
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 24 de janeiro de 1992;
f) da Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992; g) da Con-
venção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27
de novembro de 1995; h) do Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena
de Morte, em 13 de agosto de 1996; i) do Protocolo à Convenção Americana referente aos Di-
reitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), em 21 de agosto de 1996;
j) da Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação con-
tra Pessoas Portadoras de Deficiência, em 15 de agosto de 2001; k) do Estatuto de Roma, que
cria o Tribunal Penal Internacional, em 20 de junho de 2002; l) do Protocolo Facultativo à
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em
28 de junho de 2002; m) do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança
sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados, em 27 de janeiro de 2004; n) do
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre Venda, Prostituição e
Pornografia Infantis, também em 27 de janeiro de 2004; e o) do Protocolo Facultativo à Con-
venção contra a Tortura, em 11 de janeiro de 2007. Podemos incluir, após 2007, a Convenção
das Nações Unidas para a Proteção do Direito das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, em 25 de agosto de 2009.
Diante dessa nova configuração, pode-se entender que o posicionamento defendido pelo
país nas discussões internacionais corresponde a uma visão democrática e coerente com os
interesses nacionais, buscando o aprimoramento de um sistema capaz de tomar decisões
legítimas e justas (BENONI, 2009). Nesse contexto, o aparelho estatal ganha mais força e
legitimidade para implantar mecanismos de proteção e promoção dos direitos humanos,
consolidando-se, assim, a posição do Brasil internacional e nacionalmente.
3.4 O Estado Brasileiro frente aos Direitos Humanos
A origem da criação do Estado é ponto fundamental para iniciar o entendimento da sua
estruturação no Brasil. Não se pretende aqui realizar um estudo profundo das origens do
Estado, porém é de suma importância ter em mente que sua construção como conceito é
relevante para a compreensão dos processos vividos pelo país.
Tem-se, nas palavras de Bobbio (2007), que a história das instituições se desenvolveu poste-
riormente à história das doutrinas, o que significa que os ordenamentos de um determinado
sistema político tornaram-se conhecidos por meio da reconstrução, deformação ou ideali-
zação que os escritores fizeram. Hobbes identificou-se com o Estado absoluto, Locke com a
40 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
monarquia parlamentar, Montesquieu com o Estado limitado, Rousseau com a democracia,
Hegel com a monarquia constitucional, entre outros autores. Entretanto, a evolução histórica
do pensamento sobre as instituições caminhou no sentido da emancipação das doutrinas,
ampliando os ordenamentos civis para além das formas jurídicas, dirigindo o olhar para o
funcionamento concreto das instituições, sobre a formação do aparato administrativo, o que
levou à construção do Estado moderno e contemporâneo.
Nos processos que deram origem ao Estado moderno, se encaixam as etapas de transfor-
mação do puro Estado de Direito em Estado Social, revelando o Estado como uma forma
complexa de organização social. Nesse sentido, surge a ideia de que a função das instituições
políticas é dar resposta às demandas sociais sob a forma de decisões coletivas vinculadas à
sociedade, gerando um sistema de retroalimentação através da demanda- resposta (BOBBIO,
2007).
Diante da formação do aparato administrativo e das ações do Estado moderno, tem-se a
necessidade de definir a forma de organização do Estado brasileiro atual. A organicidade do
Estado brasileiro se dá por meio da Constituição Federal de 1988, em seu Título III - Da Or-
ganização do Estado, Capítulo I - Da Organização Político-Administrativa, artigo nº 18, que
diz “A organização político–administrativa da República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta
Constituição”. Compete também ao Estado brasileiro a divisão dos poderes em Executivo,
Legislativo e Judiciário, cada um com suas funções e atribuições. O sistema de governo atual
é o presidencialismo na forma da República Federativa do Brasil. Nesses termos temos a se-
guinte configuração:
Tabela 1 – Organização do Estado no Brasil
Federação Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal; Supe-
rior Tribunal de Justiça; Tribunais
Deputados federais (513) e Regionais Federais; Tribunal
Governo Federal
Nível federal Senadores (81): Congresso Superior Eleitoral; Tribunais
(Presidente e Ministros)
Nacional Regionais Eleitorais; Conselho
Nacional de Justiça; Superior
Tribunal Militar.
Tribunais de Justiça
(desembargadores) e Juízes
Governos estaduais Deputados estaduais:
Estaduais (primeira instância);
Nível estadual (governadores e Assembleias Legislativas
Justiça Militar Estadual; Juizados
secretários de governo) (27)
Especiais Cíveis; Juizado de
Pequenas Causas.
Governos municipais
Vereadores: Câmaras de
Nível municipal (prefeitos e secretários -
Vereadores (5.570)
municipais)
Fonte: Adaptado da Constituição Federal de 1988.
41 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
Cada nível da Federação apresenta determinadas competências, bem discriminadas na
Constituição Federal de 1988. Isso mostra mais uma vez a evolução do país no pensar das
normas do Estado. Sabe-se que do artigo 18 ao artigo 135 são observados todos os aspectos
da Administração Pública, com a determinação de atores e ações. Desta maneira, vale en-
tender como a proteção dos direitos humanos está abrigada no país e quais são os atores que
agem em seu favor.
Para entender a proteção dos direitos humanos no Brasil, é preciso começar pela Declaração
e Programa de Ação da Conferência Mundial de Viena, de 1993. Em seu item 71, orienta
os países a elaborar programas de direitos humanos e, com isso, criar políticas públicas de
promoção aos direitos fundamentais. Ao seguir essa determinação, o Brasil edita o Decreto
nº 1.904, em 1996, criando o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-I), com o
objetivo de diagnosticar a situação da proteção dos direitos no país. Trouxe como missão
dar visibilidade aos problemas referentes aos direitos humanos e estipular e coordenar os
esforços para superar as dificuldades, com foco na implementação desses direitos. O Pro-
grama conta com a articulação do governo e da sociedade civil. Ramos (2014) ressalta que
o PNDH-I não possui força vinculante, o que significa que não gera obrigatoriedade, mas
orienta a conduta das ações governamentais, por meio dos seus agentes. Com o Programa,
inaugura-se um processo de consulta e debate com a sociedade civil, representados pelos
seminários regionais ocorridos em seis localidades no período de 1995 a 1996. A construção
do plano foi elaborada pelo Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São
Paulo. Este foi apresentado na I Conferência Nacional de Direitos Humanos, de abril de 1996,
promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, com o apoio de
diversas organizações da sociedade civil.
O segundo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-II), aprovado pelo Decreto
nº 4.229, de 13 de maio de 2002, tem foco nos direitos sociais. Sua aplicação foi posterior aos
seminários regionais, com ampla participação de organizações da sociedade civil. Foi com-
plementado pela consulta pública por meio da internet, realizada pela Secretaria dos Direitos
Humanos do Governo Federal. O PNDH-II foi mais a fundo na questão e trouxe 518 tipos
de ações governamentais para a realidade brasileira. Isso com foco nos diretos sociais, como
direito à saúde, à educação, à previdência e assistência social, ao trabalho, à moradia, a um
meio ambiente saudável, à alimentação, à cultura e lazer, entre outras propostas voltadas à
educação da sociedade na cultura de respeito aos direitos humanos. Percebe-se que as pro-
posições elaboradas visavam suprir as principais carências de ação governamental da época,
vislumbrando uma sociedade menos desigual e mais justa, principalmente para as pessoas
que se encontravam em situação de pobreza.
42 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
Em 2009, pelo Decreto nº 7.037 de 21 de dezembro, o terceiro Programa Nacional de Diretos
Humanos (PNDH-III) foi lançado. Este, porém, foi resultado de maiores discussões envol-
vendo a já criada Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, a
Secretaria de Direitos Humanos, organizações da sociedade civil e representantes de órgãos
públicos. Esses atores em conjunto compilaram, após a 11ª Conferência Nacional de Direitos
Humanos, um relatório da conferência para dar orientações às próximas ações do Governo
Federal na atuação em favor dos direitos humanos. O documento não foi totalmente con-
templado pelo Governo Federal, mas foi utilizado como base para a elaboração do Programa.
Ramos (2014) explana sobre as várias diferenças entre os programas (PNDH-I, PNDH-II e
PNDH-III), sendo que o primeiro limitou-se a elaborar ações com base na Declaração de
Direitos Humanos e nos tratados internacionais. Por terem sido realizados pelo Núcleo de
Estudos da Violência (NEV/USP), os dois primeiros têm certa continuidade na ideia de po-
líticas públicas de proteção e promoção aos direitos humanos. Já o terceiro, como resultado
da conferência, adotou eixos orientadores e diretrizes, detalhando as dimensões dos direi-
tos humanos e utilizando a linguagem dos movimentos de diretos humanos. Justamente
por conter essa linguagem, grupos organizados da sociedade se manifestaram contrários a
determinadas ideias defendidas no programa, como a discriminação do aborto, laicização
do Estado, responsabilidade social dos meios de comunicação, conflitos sociais no campo e
repressão política da ditadura militar. Por pressões realizadas, o governo editou o Decreto
nº 7.177/2010, alterando sete ações e eliminando duas ações do PNDH-III, mostrando que
o tema de direitos humanos é polêmico, principalmente para a sociedade desigual do país.
Um mecanismo desenvolvido para acompanhar a execução do PNDH-III, representado pelo
monitoramento e acompanhamento das ações, indica a necessidade de contínua verificação
da situação brasileira. Por esse motivo, a Revisão Periódica Universal, realizada em 2008, se
comprometeu a estabelecer um instrumento para monitorar a situação de direitos humanos
em todo o país.
Os Programas Nacionais devem ser implantados por organismos de Estado. A partir desse
entendimento, é necessária a definição dos principais atores do aparato administrativo, bem
como localizar os centros formadores de políticas públicas na defesa dos direitos humanos.
3.5 Secretarias e órgãos ligados à proteção dos direitos humanos
O primeiro órgão a ser mencionado no âmbito federal é a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República. Esta Secretaria teve sua evolução em conjunto com a evolução do
pensamento em direitos humanos. Inicialmente chamava-se Secretaria Nacional de Direitos
Humanos e estava vinculada ao Ministério da Justiça. Por força do Decreto nº 2.193/97 seria
o órgão a coordenar e acompanhar a execução do PNDH-I. A Lei nº 10.683/2003 tirou o
43 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
vínculo da Secretaria com o Ministério da Justiça, ligando-a à Presidência da República, com
o nome de Secretaria Especial de Direitos Humanos. Este nome não permanece de maneira
a mostrar que a preocupação com o tema é permanente. Em 2010, pela Lei nº 12.314, de 19
de agosto, são estabelecidas as competências do órgão, sendo elas: a) Assessoramento dire-
to e imediato ao Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes voltadas à
promoção dos direitos da cidadania, da criança e do adolescente, do idoso e das minorias e à
defesa dos direitos das pessoas com deficiência e promoção da sua integração à vida comu-
nitária; b) Coordenação da política nacional de direitos humanos, em conformidade com as
diretrizes do PNDH; c) Articulação de iniciativas e apoio a projetos voltados para a proteção
e promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por organismos governamen-
tais quanto por organismos da sociedade; d) Exercício das funções de ouvidoria nacional
de direitos humanos, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias; de forma sublime
compiladas pelo professor Ramos (2014).
Vale compilar a sua estruturação, uma vez que ela age de acordo com subtemas. Tem-se a
seguinte composição: 1. Gabinete; 2. Ouvidoria de Direitos Humanos; 3. Órgãos Específicos
Singulares divididos em: a) Secretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos; b) Se-
cretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; c) Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente; d) Secretaria Nacional de Promoção
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 4. Órgãos Colegiados: a) Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana (CDDPH); b) Conselho Nacional de Combate à Discriminação
(CNDC); c) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE); d) Con-
selho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA); e) Conselho Nacio-
nal dos Direitos do Idoso (CNDI); f) Conselho Nacional de Promoção do Direito Humano à
Alimentação (CNPDHA).
Outras duas secretarias são de extrema importância no cenário da proteção dos direitos fun-
damentais no Brasil. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria
de Políticas para as Mulheres. Ambas em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos
têm status ministerial, e suas estruturas básicas são bem parecidas, sendo compostas pelos
conselhos, gabinete, Secretaria Executiva e subsecretarias. O que difere são os Conselhos,
sendo eles Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher.
A separação dos temas sobre questões raciais e de gêneros em secretarias próprias, nos revela
que estes são objetos de profundas mudanças na sociedade brasileira. Por isso, são de extre-
ma importância as ações promovidas e as políticas delineadas nesses dois núcleos formado-
res. O destaque se faz na realização de políticas antidiscriminatórias de ordem nacional com
a promoção da igualdade de gêneros e de raça, combatendo a intolerância e o preconceito.
44 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
Uma medida promovida pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial foi o
planejamento, a coordenação da execução e a avaliação do Programa Nacional de Ações Afir-
mativas do Governo Federal, regulado pelo Decreto nº 4.228/2002. Cabe também sublinhar
a ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em conjunto com a ONU MULHERES,
que vem reforçando as políticas brasileiras e lutando para disseminar a cultura de promoção
e proteção dos direitos das mulheres para, então, alcançar a igualdade entre gêneros. Esta
ação também envolve as raças e etnias, uma vez que a mulher deixa de ser subjugada e passa
a ter papel fundamental na sociedade machista atual.
Deve-se também ressaltar a ação dos Conselhos, Comitês e Comissões no trato das questões
ligadas à proteção dos direitos, principalmente na formulação e implantação de políticas pú-
blicas específicas para cada área determinada pelos organismos citados. Os Planos Nacionais
temáticos também devem ser ressaltados, pois por meio deles é que as ações governamentais
são delimitadas.
Ainda na esfera federal, pode-se destacar a Comissão de Direitos Humanos e Minorias
(CDHM) da Câmara dos Deputados, criada em 1995 com caráter permanente. É considerada
referência na discussão de políticas públicas de direitos humanos e responsável pela organi-
zação das conferências nacionais de direitos humanos. Tais eventos auxiliaram a elaboração
dos Programas Nacionais de Direitos Humanos (RAMOS, 2014). No âmbito do Poder Judici-
ário, merecem ser ressaltadas as ações do Ministério Público Federal, Procuradoria Federal
dos Direitos Humanos e da Defensoria Pública da União. Estes organismos não têm como
objetivo formular políticas públicas, mas garantir juridicamente a promoção e a proteção dos
direitos, por meio de seus instrumentos legais garantidos na Constituição Federal de 1988.
Na esfera estadual e municipal, há Conselhos Estaduais de Direitos Humanos, o Ministé-
rio Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado e defesa dos direitos humanos. Os
conselhos representam no plano estadual a coordenação das políticas estaduais de direitos
humanos. Servem como um prolongamento do plano nacional, mas com a participação da
sociedade civil nas conferências estaduais e municipais. Também utilizam mecanismos de
monitoramento e avaliação da situação de direitos humanos no estado, bem como fiscalizam
o avanço da implantação das políticas de direitos humanos na região. O Ministério Públi-
co e a Defensoria Pública agem no campo jurídico, com ações específicas para cada órgão,
mas seu objetivo fim também é a proteção dos direitos humanos. Há de se argumentar que
as ações municipais vão depender das políticas estaduais e da vontade de fazer cumprir as
determinações dos planos nacionais e das conferências estaduais. Ainda hoje vemos muitos
direitos desrespeitados. A luta para evidenciar cada vez mais o cumprimento dos direitos
humanos na sociedade é permanente e deve ser mantida.
45 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
4. Considerações Finais
Pode-se chegar à conclusão neste estudo que o Estado brasileiro foi fortemente influenciado,
ao efetivar a ratificação dos principais tratados internacionais de direitos humanos, a realizar
esforços no sentido de elaborar e implantar políticas públicas de proteção e promoção aos di-
reitos humanos. Foram determinantes nesse processo a ratificação dos Pactos Internacionais
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e dos Direitos Civis e Políticos, em conjunto com
a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, a Convenção contra a Tortura
e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da
Criança, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, entre outros já citados anteriormente.
É essencial destacar os principais atores na defesa e promoção dos direitos fundamentais no
Brasil. No âmbito federal, são as Secretarias de Direitos Humanos, Conselhos, Comitês e Co-
missões, além das Defensorias Públicas, Ministério Público e Procuradoria Federal dos Direi-
tos Humanos. Todos esses órgãos têm forte alinhamento de ações com os Planos e Programas
Nacionais de Direitos Humanos e realizam políticas de promoção e proteção dos direitos hu-
manos. Há também a presença de organizações da sociedade civil, Secretarias, Conselhos e
Conferências estaduais e municipais de direitos humanos e Secretarias Temáticas, envolvidas
no planejamento e execução de políticas para os grupos mais vulneráveis da população.
Fica evidente neste trabalho que os organismos internacionais ligados à ONU têm agido de
maneira efetiva no auxílio a políticas que promovam e protejam os direitos humanos no Brasil,
a partir de parcerias com as Secretarias de Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres e
de Promoção da Igualdade Racial na intenção de promover um amplo alcance das ações inter-
nacionais.
Por fim, pode-se concluir que o Brasil é exemplo de luta pelos direitos humanos na América
Latina, e que, apesar de seu recente histórico de democracia, vem caminhando para uma so-
ciedade menos desigual e mais coerente com as normas e tratados internacionais. Claramente,
porém, não se atingiu o pleno desenvolvimento de uma cultura de proteção e promoção dos
direitos humanos. Ainda existem muitas violações dentro do país, por parte de cidadãos, polí-
cias e governos, talvez alicerçadas nas raízes da discriminação, profundas na história brasileira.
Porém, com a forte atuação do Estado em promover estes conceitos de cidadania e igualdade,
junto com a sociedade civil organizada, seja possível chegar ao ideal de proteção integral dos
direitos fundamentais.
46 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
5. Referências Bibliográficas
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Disponível em: <uniãohttp://www.agu.gov.br/sistemas/
site/TemplateImagemTextoThumb.aspx?idConteudo=113927&id_site=4922>. Acesso em: 20
jun. 2014.
ALVES, José Augusto Lindgren. Os Direitos Humanos como tema Global. São Paulo: Pers-
pectiva, 2ª ed., 2011.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 jun. 2014.
BRASIL. Plano Nacional de Direitos Humanos I.1996. Disponível em: <http://dhnet.org.br/
dados/pp/pndh/textointegral.html>. Acesso em: 12 ago. 2014.
BRASIL. Plano Nacional de Direitos Humanos II. 2002. Disponível em: <http://dhnet.org.br/
dados/pp/edh/pndh_2_integral.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2014.
BRASIL. Plano Nacional de Direitos Humanos III. 2009. Disponível em: <http://www.sdh.
gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/pdfs/programa-nacional-de-direitos-huma-
nos-pndh-3>. Acesso em: 12 ago. 2014.
BRASIL. Relatório do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento. Agendas Transver-
sais, Monitoramento Participativo, v. 2, p. 818, 2013.
BENONI, Belli. A Politização dos Direitos Humanos: o Conselho de Direitos Humanos
das Nações Unidas e as resoluções sobre países. São Paulo: Perspectiva, 2009.
BILDER, R. B. An Overview of International Human Rights Law. Guide to Intelectual Hu-
man Rights Practice, 4ª ed., pp. 3-18, Transnational Publishers, 2004.
BOBBIO, N. Estado, governo, sociedade: Para uma teoria geral e política. Rio de Janeiro,
Paz e Terra, 14ª ed. 2007.
Conferência Nacional de Direitos Humanos, 1993. Declaração e Programa de Ação de Viena.
Disponível em: <http://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20
Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAn-
cia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20
de%201993.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2014.
LAFER, C. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) In: MAGNOLI, Demétrio
(org). A história da paz. São Paulo: Contexto, 2008, pp. 297-329.
47 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
RP3 - Revista de Pesquisa em Políticas Públicas ISSN: 2317-921X
PIOVESAN, F.; AMARAL JR, A.; JUBILUT, L. L. Hierarquia dos Tratados Internacionais
de Proteção dos Direitos Humanos: Jurisprudência do STF. In: Alberto do Amaral Jr.; Lilia-
na Lyra Jubilut. (Org.). O STF e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo:
Quartier Latin, 2009, v. 01, p. 123-145. Disponível em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/
militantes/flaviapiovesan/piovesan_tratados_sip_stf.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2014.
PIOVESAN, F. Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e Direitos Civis e Políticos. SUR, Re-
vista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 21-47, 2004. Disponível
em: <http://www.surjournal.org/index1.php>. Acesso em: 18 set. 2014.
PIOVESAN, F. Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. I Colóquio Inter-
nacional de Direitos Humanos. São Paulo, 2001. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/
direitos/sip/textos/a_pdf/piovesan_sip.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2014.
PIOVESAN, F. Ações afirmativas e direitos humanos. Revista USP, n. 69, pp. 36- 43, 2006.
Disponível em: <http://www.usp.br/revistausp/69/04-flavia.pdf>. Acesso em: 15 set. 2014.
RAMOS, A. de C. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014.
RAMOS, A. de C. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
REZECK F. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva,
2013.
TRINDADE, A. A. C. Desafios e conquistas no direito internacional dos direitos humanos
no século XXI. XXXIII Curso de Direito Internacional na Comissão Jurídica Interame-
ricana da OEA, Rio de Janeiro, 2006.
48 Edição nº 06 – 2º Semestre de 2015
Você também pode gostar
- Direitos - Humanos - Resumo Do Livro Da Flavia PiovesanDocumento33 páginasDireitos - Humanos - Resumo Do Livro Da Flavia PiovesanSandro Leony Costa60% (5)
- A Literatura de Autoria Feminina Na America LatinaDocumento26 páginasA Literatura de Autoria Feminina Na America LatinaCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Direitos Humanos - Flavia Piovesan - ResumoDocumento71 páginasDireitos Humanos - Flavia Piovesan - Resumomarcioazdf0% (1)
- Protocolo de Leitura - Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional - Flávia PiovesanDocumento3 páginasProtocolo de Leitura - Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional - Flávia PiovesanJeniffer SantanaAinda não há avaliações
- A Proteção Supranacional Dos Direitos HumanosDocumento5 páginasA Proteção Supranacional Dos Direitos HumanosPotirnAinda não há avaliações
- Revista de Direito Do Trabalho Vol 226 1Documento13 páginasRevista de Direito Do Trabalho Vol 226 1KoRp KakashiAinda não há avaliações
- A Sistematização Da Proteção Social à Luz Dos Direitos Humanos e Sua Materialização Nas Políticas PúblicasDocumento14 páginasA Sistematização Da Proteção Social à Luz Dos Direitos Humanos e Sua Materialização Nas Políticas PúblicasSilvia RomanAinda não há avaliações
- Aula 10 DHDocumento9 páginasAula 10 DHRafaele BritoAinda não há avaliações
- Unidade III - Psicologia e Políticas PúblicasDocumento41 páginasUnidade III - Psicologia e Políticas Públicasgabriel20012021Ainda não há avaliações
- 3 Sistema InternacionalDocumento30 páginas3 Sistema Internacionaldaniel.anchieta.gonzalezAinda não há avaliações
- Clarice Duarte - O Ciclo Das Políticas PúblicasDocumento30 páginasClarice Duarte - O Ciclo Das Políticas PúblicasALANDA DEALIS WAECHTLERAinda não há avaliações
- Direitos Emergentes na Sociedade Global: Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSMNo EverandDireitos Emergentes na Sociedade Global: Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSMAinda não há avaliações
- Politicas Publicas E Educacao em Direitos Humanos O PnedhE-5460340Documento23 páginasPoliticas Publicas E Educacao em Direitos Humanos O PnedhE-5460340Conta ConfigAinda não há avaliações
- 17 (P. 439 - 474) - 539 - LEGAL GROUNDS FOR OVERCOMING THE FALSE DICHOTOMY .Documento36 páginas17 (P. 439 - 474) - 539 - LEGAL GROUNDS FOR OVERCOMING THE FALSE DICHOTOMY .Áquila MazzinghyAinda não há avaliações
- Cidadania e Direitos Humanos PDFDocumento25 páginasCidadania e Direitos Humanos PDFCastro VanessaAinda não há avaliações
- 14 - Direitos Humanos e Controle de ConvencionalidadeDocumento21 páginas14 - Direitos Humanos e Controle de ConvencionalidadejeffersonAinda não há avaliações
- 9013-Texto do artigo-37998-1-10-20180227Documento13 páginas9013-Texto do artigo-37998-1-10-20180227serradelima.fabioAinda não há avaliações
- Direitos HumanosDocumento58 páginasDireitos HumanosKarine Beatriz RibeiroAinda não há avaliações
- Trabalho Final - Metodos e Tecnicas de Pessquisa - RevisadoDocumento8 páginasTrabalho Final - Metodos e Tecnicas de Pessquisa - RevisadoAntonio NetoAinda não há avaliações
- Direitos HumanosDocumento7 páginasDireitos HumanosAlessandra MonteiroAinda não há avaliações
- curso-42225-aula-04-r-politica-e-programas-de-direitos-humanos-v1_RedigidoDocumento49 páginascurso-42225-aula-04-r-politica-e-programas-de-direitos-humanos-v1_RedigidoValdeir WalkerAinda não há avaliações
- A Constituição Brasileira de 1988e Os Tratados Internacionais de Proteção Dos Direitos HumanosDocumento6 páginasA Constituição Brasileira de 1988e Os Tratados Internacionais de Proteção Dos Direitos HumanosMarco Antonio Floriano RodriguesAinda não há avaliações
- A Constituição Federal de 1988 e o Princípio Da Solidariedade Como Instrumentos de Realização Da Dignidade HumanaDocumento16 páginasA Constituição Federal de 1988 e o Princípio Da Solidariedade Como Instrumentos de Realização Da Dignidade HumanaWagner BertonAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Políticas PúblicasDocumento60 páginasDireitos Humanos e Políticas Públicasgorgita100% (1)
- Milani in Pinheiro Poltica ExternaDocumento38 páginasMilani in Pinheiro Poltica ExternasegundojuremitaAinda não há avaliações
- Hierarquia Tratados Direitos FreitasDocumento24 páginasHierarquia Tratados Direitos FreitasAmérico GonçalvesAinda não há avaliações
- Princípio Da Dignidade Da Pessoa HumanaDocumento13 páginasPrincípio Da Dignidade Da Pessoa HumanaRicardo Strympl DrachenAinda não há avaliações
- Flávia Piovesan Dignidade Da Pessoa Na CRDocumento15 páginasFlávia Piovesan Dignidade Da Pessoa Na CRPATRICIA FREITAS FIRMEAinda não há avaliações
- Discussões interdisciplinares em ciências humanas e sociais: Volume 3No EverandDiscussões interdisciplinares em ciências humanas e sociais: Volume 3Ainda não há avaliações
- Pdh3 10 Anos Depois Final Vs2Documento118 páginasPdh3 10 Anos Depois Final Vs2amandacarolinapratesAinda não há avaliações
- Igualdade Racial - Angélica Kely de Abreu e Antônio Teixeira Lima Júnior (2018)Documento41 páginasIgualdade Racial - Angélica Kely de Abreu e Antônio Teixeira Lima Júnior (2018)LekkerdingAinda não há avaliações
- Teoria Geral Dos Direitos HumanosDocumento37 páginasTeoria Geral Dos Direitos HumanosNicolasAinda não há avaliações
- Política de Segurança Pública - Uma Visão Crítica e AtualDocumento25 páginasPolítica de Segurança Pública - Uma Visão Crítica e AtualMarly RibeiroAinda não há avaliações
- texto 8 Direitos humanos no Brasil democrático –Documento34 páginastexto 8 Direitos humanos no Brasil democrático –Bárbara MartinsAinda não há avaliações
- CELINE DION BARBOSA BARCELLO GOUVEIA, Histórico de Teste - Simulado 2Documento10 páginasCELINE DION BARBOSA BARCELLO GOUVEIA, Histórico de Teste - Simulado 2Celine BarbosaAinda não há avaliações
- Programa Nacional de Direitos Humanos - o Que É - Politize!Documento5 páginasPrograma Nacional de Direitos Humanos - o Que É - Politize!Fabricio MaiaAinda não há avaliações
- Breve Estudo Da Evolução Do Direito InternacionalDocumento20 páginasBreve Estudo Da Evolução Do Direito InternacionaljurisvsmAinda não há avaliações
- 2015_araujo_eneida_direito_internacionalDocumento32 páginas2015_araujo_eneida_direito_internacionalConta AcadémicaAinda não há avaliações
- A Estratégia de Políticas Públicas em Direitos Humanos No Brasil No Primeiro Mandato LulaDocumento10 páginasA Estratégia de Políticas Públicas em Direitos Humanos No Brasil No Primeiro Mandato LulaMarcia RamiresAinda não há avaliações
- DHnet - Direitos Humanos Na InternetDocumento21 páginasDHnet - Direitos Humanos Na InternetAntonioMarquesAinda não há avaliações
- CONPEDI - Direitos Humanos - Conceito em Movimento-2.2021Documento18 páginasCONPEDI - Direitos Humanos - Conceito em Movimento-2.2021Andre PiresAinda não há avaliações
- A Defensoria InteramericanaDocumento17 páginasA Defensoria InteramericanaRenata TavaresAinda não há avaliações
- Aula 12- Política Nacional dos Direitos HumanosDocumento8 páginasAula 12- Política Nacional dos Direitos HumanosSAILAVELLOSOAinda não há avaliações
- A relação entre o ordenamento jurídico brasileiro em matéria de direitos humanos e o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos HumanosNo EverandA relação entre o ordenamento jurídico brasileiro em matéria de direitos humanos e o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos HumanosAinda não há avaliações
- 110810120946os Direitos Humanos No Contexto Da Globalização - Três Precisões Conceituais - Joaquín Herrera FloresDocumento19 páginas110810120946os Direitos Humanos No Contexto Da Globalização - Três Precisões Conceituais - Joaquín Herrera FloresLuciana FerreiraAinda não há avaliações
- Estrutura Do Pndh-3: Observações Importantes Sobre O Pndh-3Documento5 páginasEstrutura Do Pndh-3: Observações Importantes Sobre O Pndh-3nayelen nayaraAinda não há avaliações
- Trabalho Filosofia ANNADocumento11 páginasTrabalho Filosofia ANNAANTONIO MANUEL CHICOAinda não há avaliações
- 5.direitos Humanos No Brasil - EbookDocumento11 páginas5.direitos Humanos No Brasil - EbookbrunoAinda não há avaliações
- Constituição Federal de 1988 e os direitos humanosDocumento18 páginasConstituição Federal de 1988 e os direitos humanosfabruceAinda não há avaliações
- Percurso de Aprendizagem 1 2Documento24 páginasPercurso de Aprendizagem 1 2lalabatista2001Ainda não há avaliações
- 09 - Humanos e Filosofia (1)Documento24 páginas09 - Humanos e Filosofia (1)Estevão RochaAinda não há avaliações
- 1846 5805 1 PBDocumento25 páginas1846 5805 1 PBLarissa FerreiraAinda não há avaliações
- Artigo DeborahDocumento28 páginasArtigo DeborahbrendaAinda não há avaliações
- Apostila - Desafios Do Estado de DireitoDocumento68 páginasApostila - Desafios Do Estado de DireitoraphaelmecanicaAinda não há avaliações
- A Educação Enquanto Direito Social Fundamental e As Políticas Públicas de Concretização.Documento15 páginasA Educação Enquanto Direito Social Fundamental e As Políticas Públicas de Concretização.Patricia OlxAinda não há avaliações
- 1 - Institucionalização Das Políticas de Direitos HumanosDocumento10 páginas1 - Institucionalização Das Políticas de Direitos HumanosDaniela CaetanoAinda não há avaliações
- A Eficacia Juridica Das Decisoes Da Corte Interamericana de Direitos HumanosDocumento16 páginasA Eficacia Juridica Das Decisoes Da Corte Interamericana de Direitos HumanosAngelo JuniorAinda não há avaliações
- Caso Damião Ximenes Lopes: Mudanças E Desafios Após A Primeira Condenação Do Brasil Pela Corte Interamericana de Direitos HumanosDocumento21 páginasCaso Damião Ximenes Lopes: Mudanças E Desafios Após A Primeira Condenação Do Brasil Pela Corte Interamericana de Direitos Humanosalexssanderfariasvieira.4112Ainda não há avaliações
- Prismas Doutrinários e Jurisprudenciais: a eficácia horizontal dos direitos fundamentais no BrasilNo EverandPrismas Doutrinários e Jurisprudenciais: a eficácia horizontal dos direitos fundamentais no BrasilAinda não há avaliações
- Compilação De Estudos Do Direito ContemporâneoNo EverandCompilação De Estudos Do Direito ContemporâneoAinda não há avaliações
- A Hierarquia Dos Tratados Internacionais De Direitos Humanos No BrasilNo EverandA Hierarquia Dos Tratados Internacionais De Direitos Humanos No BrasilAinda não há avaliações
- Diário Oficial Da Paraíba Traz Lista de Aprovados em Concurso Da PM e BombeirosDocumento13 páginasDiário Oficial Da Paraíba Traz Lista de Aprovados em Concurso Da PM e BombeirosYves FeitosaAinda não há avaliações
- Revista Magister de Direito Penal e Processual PenalDocumento27 páginasRevista Magister de Direito Penal e Processual PenalAlessandro FernandesAinda não há avaliações
- The Beatles - A Unica Biografia Autorizada - Hunter DaviesDocumento4 páginasThe Beatles - A Unica Biografia Autorizada - Hunter DaviesabermasAinda não há avaliações
- Novo Codigo de Etica EnfermagemDocumento7 páginasNovo Codigo de Etica EnfermagemEd FariasAinda não há avaliações
- Sumário: Estado de GoiásDocumento55 páginasSumário: Estado de GoiásRosangela Da Silva SantosAinda não há avaliações
- Direito Das ObrigaçõesDocumento83 páginasDireito Das ObrigaçõesGonçalo RodriguesAinda não há avaliações
- Uniao Estavel-Curso FGVDocumento3 páginasUniao Estavel-Curso FGVLayla Roberta Silva SantosAinda não há avaliações
- Listado Autores Dominio PublicoDocumento781 páginasListado Autores Dominio PublicoAlvaro Manuel Abian FernandezAinda não há avaliações
- Teste 1 DA 2024Documento26 páginasTeste 1 DA 2024afrancisco23100% (1)
- Organização CriminosaDocumento1 páginaOrganização CriminosaHendersonAinda não há avaliações
- Apontamentos SucessoesDocumento8 páginasApontamentos Sucessoescarlos orlando mendoncaAinda não há avaliações
- Memorex Rodada 6Documento125 páginasMemorex Rodada 6Paula AriadnaAinda não há avaliações
- 2020 Apostila Filosofia 8ano 3triDocumento24 páginas2020 Apostila Filosofia 8ano 3triAna Ladia Silva100% (1)
- Ei Policia PDFDocumento46 páginasEi Policia PDFGarra iagoAinda não há avaliações
- Fundamentos Do Serviço Social: Aspectos Históricos Da Profissão Capítulo 2 - Questão Social: o Que É Afinal?Documento39 páginasFundamentos Do Serviço Social: Aspectos Históricos Da Profissão Capítulo 2 - Questão Social: o Que É Afinal?juliana ferreira baptistaAinda não há avaliações
- Resumo - O Controle de Constitucionalidade No Brasil - Gilmar MendesDocumento2 páginasResumo - O Controle de Constitucionalidade No Brasil - Gilmar MendesVâneaMelloAmaralAinda não há avaliações
- Administração Direta e IndiretaDocumento91 páginasAdministração Direta e IndiretaLucas AmorimAinda não há avaliações
- ccad848488e81dbacbf022dedbb6b3ccDocumento13 páginasccad848488e81dbacbf022dedbb6b3ccSonia Aparecida de Medeiros DamacenoAinda não há avaliações
- Resultado Preliminar - MojuDocumento356 páginasResultado Preliminar - MojuLucas FonsecaAinda não há avaliações
- Lei Orgânica Do Município de VotorantimDocumento55 páginasLei Orgânica Do Município de VotorantimBianca De Camargo RecheAinda não há avaliações
- Manual Do Vigilante-1.3Documento148 páginasManual Do Vigilante-1.3Fellipe MarinhoAinda não há avaliações
- Fundamentação Teórica Da ConciliaçãoDocumento6 páginasFundamentação Teórica Da ConciliaçãoJoão VitorAinda não há avaliações
- WarrantDocumento75 páginasWarrantLenyze GomesAinda não há avaliações
- Revista RDM 174 175Documento369 páginasRevista RDM 174 175Marco AurelioAinda não há avaliações
- Regulamento Premio Edmundo BettencourtDocumento4 páginasRegulamento Premio Edmundo Bettencourtmatosbeto9688Ainda não há avaliações
- Análises Críticas - Saúde MentalDocumento7 páginasAnálises Críticas - Saúde MentalJhonatan BAinda não há avaliações
- Principais Questoes Sobre o Marco Civil Da InternetDocumento24 páginasPrincipais Questoes Sobre o Marco Civil Da InternetMarco MagnoniAinda não há avaliações
- Aula 12 - AP Modelo de Laudo Pericial 12052022Documento8 páginasAula 12 - AP Modelo de Laudo Pericial 12052022AFMGAinda não há avaliações
- Recurso Junta - MODELODocumento8 páginasRecurso Junta - MODELOSimelmann AdvocaciaAinda não há avaliações