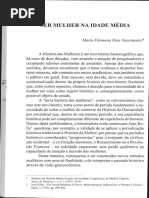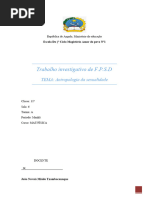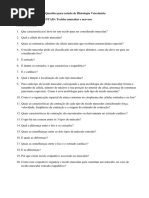v14 Artigo11 Misoginia
v14 Artigo11 Misoginia
Enviado por
PhabloDiasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
v14 Artigo11 Misoginia
v14 Artigo11 Misoginia
Enviado por
PhabloDiasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Direitos autorais:
Formatos disponíveis
v14 Artigo11 Misoginia
v14 Artigo11 Misoginia
Enviado por
PhabloDiasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MISOGINIA: A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NUMA VISÃO HISTÓRICA E
PSICANALÍTICA
MISOGINY: THE VIOLENCE AGAINST WOMEN IN A HISTORICAL AND
PSYCHOANALYTIC VISION
Geisa Maria Batista MOTERANI1
Felipe Mio de CARVALHO2
_________________________________________
Resumo: A misoginia é o prejuízo mais antigo do mundo e apresenta-se como um ódio ou aversão às
mulheres, podendo manifestar-se de várias maneiras, incluindo a discriminação sexual, denegrição,
violência e objetificação sexual das mulheres. Entre os diversos tipos de violências relacionadas
diretamente ou indiretamente com o gênero feminino estão as agressões físicas, psicológicas, sexuais,
multilações, perseguições; culminando em alguns casos no feminicídio. À medida que as sociedades
foram evoluindo, as formas discriminatórias contra a mulher se tornaram mais refinadas e nem por
isso menos inadmissíveis do que na época da pedra lascada. O repúdio às mulheres, às vezes com seus
contornos diferenciados, mais ou menos ocultos ou disfarçados, persistem em situações de opressão de
gênero, oriundas de um passado já bem remoto. Torna-se necessário, portanto, compreender a
historicidade desta disparidade, de forma a entender que a misoginia é em sua essência uma invenção,
e não um fato histórico. Considerando este contexto o presente trabalho pretende através de
levantamento bibliográfico estudar o contexto da misoginia em seus aspectos históricos e subjetivos
estabelecendo uma interlocução entre a construção histórica do feminino e a produção da
subjetividade da mulher.
Palavras-chave: Violência de gênero. Violência contra a mulher. Mulher e sociedade. Produção da
subjetividade da mulher.
Abstract: Misogyny is the oldest injury in the world and presents itself as a hatred or aversion to
women, and can manifest itself in various ways, including sexual discrimination, denigration, violence
and sexual objectification of women. Among the various types of violence directly or indirectly
related to the female gender are physical, psychological, sexual, multi-purpose, persecution;
culminating in some cases in feminicide. As societies evolved, the discriminatory forms against
women became more refined and therefore less inadmissible than at the time of the chipped stone. The
repudiation of women, sometimes with their differentiated contours, more or less hidden or disguised,
persist in situations of gender oppression, originating from a past that was already very remote. It is
therefore necessary to understand the historicity of this disparity in order to understand that misogyny
is in essence an invention, not a historical fact. Considering this context the present work intends
through a bibliographical survey to study the context of the misogyny in its historical and subjective
aspects establishing an interlocution between the historical construction of the feminine and the
production of the subjectivity of the woman
Keywords: Gender violence. Violence against women. Woman and society. Producing the subjectivity
of women.
1
Aluna do 10o. semestre do curso de Psicologia da FAC-FEA, Nutricionista. E-mail: geisamaria@hotmail.com
2
Graduado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Especialista em Psicologia da Saúde pelas
Faculdades Adamantineses Integradas (FAI). Psicólogo clínico de orientação psicanalítica, professor substituto
de Psicanálise e Psicologia geral na Faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba (FAC-FEA). .
E-mail: fmiocarvalho@hotmail.com
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
167
Introdução
A misoginia é um prejuizo que sobrevive ao tempo muito antes de ter nome. “Quando
se inventou a roda, a misoginia já estava dando quatro piruetas no ar”, declara a jornalista
argentina Marisa Avigliano (2010). A palavra apareceu pela primeira vez no Oxford English
Dictionary em 1656 e era definida como ódio e o desprezo para com as mulheres. A autora,
Avigliano (2010), lembra o fato de que a palavra Misoginia já havia aparecido em 1630 na
publicação “Swetman arraigned” em resposta a um texto escrito por Swetman no qual ele
atacava e depreciava as mulheres. A literatura mostra que a misoginia, o prejuízo mais antigo
do mundo, nunca saiu de moda, pois, conforme nos ensina Alambert (1986, apud BICALHO,
2001), as formas discriminatórias contra a mulher também se transformaram, à medida que as
sociedades humanas evoluíram, tornaram-se mais refinadas, sofisticadas, mas nem por isso
menos inadmissíveis do que na época da pedra lascada.
Alguns dicionários trazem as seguintes definições para o termo: ódio ou aversão às
mulheres, aversão ao contato sexual com as mulheres (Houaiss et al, 2004, p.1934); [...]
crença de que os homens são muito melhores que as mulheres (Cambridge Dictionary
Online, 2015); ódio ou aversão a mulheres ou meninas e que pode se manifestar de várias
maneiras, incluindo a discriminação sexual, denegrição as mulheres, violência e objetificação
sexual das mulheres. Cabe apontar que, etimologicamente, a palavra "misoginia" surgiu a
partir do grego misogynia, ou seja, a união das partículas “miseó”, que significa "ódio", e
gyné, que se traduz para “mulher”. (CUNHA, 2007, p. 386, 524).
Dominação e violência
A misoginia desenvolveu-se em muitos diferentes níveis, conforme explica Holland
(2010): desde o mais elevado plano filosófico nas obras dos pensadores gregos, que
contribuíram para configurar a forma como a sociedade ocidental pensa o mundo, nas ruas de
Londres do século XIX e também nas rodovias de Los Angeles, onde assassinos em série
deixaram um rastro de cadáveres de mulheres torturadas e mutiladas por onde passaram.
Ademais, citam-se os ascetas cristãos do século III, a caça às bruxas no final da Idade Média
(em que centenas de milhares e até milhões de mulheres foram queimadas na fogueira), até os
governantes Talibans do Afeganistão (do final do século XX); verfica-se em todas essas
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
168
culturas citadas a característica de dirigir a ira contra as mulheres e a sexualidade delas. Ainda
considerando a contemporaneidade, pode-se observar que a misoginia tem sido expressada
por grandes e renomados artistas e celebrada nas obras mais ínfimas e vulgares da pornografia
moderna. A história da misoginia é a historia de um ódio único, perdurável, que une
Aristóteles com Jack Estripador e o rei Lear com James Bond. (HOLLAND, 2010)
Starr (1993, p. 28, 29, 80, 99) cita, sendo apresentados respectivamente abaixo
exemplos de posturas misógenas presentes nas mitologias do mundo antigo, bem como em
várias religiões. Na concepção de Starr (1993), tais colocações se devem ao temor do que as
mulheres poderiam fazer se fossem livres. Segue tais citações que ilustram a conduta
misógina:
“É a lei da natureza que a mulher deva ser mantida sob o domínio do homem [...] tal é
a imbecilidade da mulher que é seu dever, em todos os aspectos, desconfiar de si própria e
obedecer ao marido”. (Confúcio, cerca de 500 a.C)
“A fêmea é fêmea em virtude de uma certa falta de qualidades [...] Pois a fêmea é, por
assim dizer, um macho mutilado e o catamênio (fluido menstrual) é sêmen, só que não puro;
pois apenas uma coisa ela não contém, que é o princípio da alma [...]. (Aristóteles, Século IV
a.C).
“[…] Dai-me qualquer doença que não seja um mal de coração, e qualquer mal que
não seja uma mulher. […]. (Apócrifo Eclesiátisco 25:13-26 , cerca de 200 a.C)
As colocações realizadas até o presente momento abrem espaço para a concepção que
será trabalhada durante este artigo, de que a misoginia é uma construção cultural que tem se
arrastando ao longo dos séculos através de diversos veículos: primeiramente através da
cultura grega e por religiões que foram influenciadas, posteriormente foi perpetuada no bojo
da contradição presente na Revolução Francesa. Especialmente em virtude da influência grega
que reverberou sobre o cristianismo, destaca-se que a mulher foi forçada ao longo dos séculos
a adotar uma postura de resignação – como se fosse de fato culpada da desgraça humana.
O surgimento da Misoginia
Pagels et al (1992 apud BICALHO, 2001) comenta sobre a discussão acerca das
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
169
desigualdades entre homens e mulheres, explicando que a mesma não é recente: dos gregos
antigos até bem pouco tempo atrás acreditava-se que a mulher era um ser inferior na escala
metafísica que dividia os seres humanos, e por isso somente os homens detinham o direito de
exercer uma vida pública. Dessa forma a autora conclui que a misoginia não é uma invenção,
é um fato histórico.
Conforme afirma Holland (2010), não é fácil datar com precisão as origens de um
prejuízo (pré conceito), entretanto para o autor a misoginia tem uma data de nascimento e um
berço: deve corresponder a algum momento do século VIII a.C, em alguma parte do
Mediterrâneo oriental. Assim, afirma o autor, foi nesta época que surgiram histórias da
criação na Grécia e na Judeia, histórias que iriam adquirir o poder de mito – e ao mesmo
tempo descreviam a queda do homem, nos quais a debilidade da mulher é responsável por
todo o sofrimento humano, a infelicidade e a morte. Embora os gregos tenham sido os
primeiros colonizadores do mundo intelectual ocidental, também ocuparam um lugar único
como pioneiros intelectuais de uma perniciosa visão das mulheres que persiste até a idade
moderna. (HOLLAND, 2010)
Acerca da influência dos mitos Holland (2010, p. 443) declara:
[...] os mitos se introduziram na corrente central da civilização ocidental,
impulsionado por dois de seus afluentes mais poderosos: na tradição judaica, tal
como relata o Genesis (que a maioria dos estadunidenses segue, aceitando como
uma verdade) a culpada é Eva, e na tradição grega é Pandora.
Silva (2010) explica que ao observar-se a constituição da sociedade grega, é possível
notar que as mulheres sempre ocupavam lugar de menor destaque, seus direitos e seus deveres
estavam sempre voltados para a criação dos filhos e os cuidados do lar, voltadas a vida
privada sem participação direta no social. Mais recentemente, durante o século das luzes,
quem julgasse apossar da igualdade estabelecida pela Revolução Francesa, teria como destino
a morte certa na guilhotina. A igualdade a qual os franceses se referiam era uma igualdade
para bem poucos, na verdade, era apenas destinada aos homens da classe burguesa. (SILVA,
2010)
A igualdade alardeada por tal Revolução, segundo Silva (2010), não se estendia às
mulheres, mostrava-se contraditória, era de natureza jurídica e não socioeconômica, pois em
virtude disso, não permitiu ou contribuiu para um emparelhamento dos direitos legais,
jurídicos, políticos e sociais entre homens e mulheres. Considerando o recém apresentado,
questiona-se: como seria possível sustentar a hierarquia (diferença) entre o homem e mulheres
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
170
se o que estava em questão era justamente a igualdade de direito entre os cidadãos? Dessa
forma o autor conclui que se homens e mulheres deveriam ser iguais diante da lei, deveriam
ter acesso às mesmas posições sociais, e, se as mulheres tivessem acesso à mesma educação
que os homens, elas poderiam ter acesso às mesmas posições que estes no espaço social.
Entende-se, por consequência, que a realidade conclamada pela Revolução Francesa não era
essa. Segundo Birman (2001 apud SILVA, 2010), foram necessários quase dois séculos para
que as normas sociais resultantes da Revolução Francesa conferissem igualdade de direitos
entre homens e mulheres, não tendo mais lugar o modelo do sexo único surgido na
antiguidade greco-romana.
No mito grego, explica Schott (1996, p. 40 apud BICALHO, 2001) Pandora foi a
primeira mulher, foi criada por Zeus para se vingar de Prometeu pelo seu crime de roubar o
fogo. Conforme os desígnios dos deuses, Pandora seria de bela aparência e plena de maldade
em seu coração. Os deuses deram à Pandora um cântaro contendo os males e enfermidades do
mundo. Entre outros males, Pandora traz a cruel lição do malogro para os homens, que
descobrem demasiado tarde que o que é belo por fora abriga o mal no interior.
De acordo com Schott (1996, p. 40 apud BICALHO,,2001), a lenda de Pandora
simboliza a percepção grega de que o mal da morte está oculto por baixo da bela aparência da
vida. Dado que a raça de mulheres irradiou-se a partir de Pandora, as mulheres carregam a
nódoa do mal atribuído ao ato de Pandora. Segundo Holland (2010), para entender o mito de
Pandora faz-se necessário lembrar que para os gregos as mulheres, devido sua constituição e
ciclos vitais, eram seres com vínculos mais próximos à natureza do que os homens e que a
natureza para os gregos era uma ameaça, um desafio ao ser superior do homem. Assim a
mulher representava a encarnação próxima a natureza, sendo portanto necessário desumanizá-
la, ainda que fosse ela quem tornasse possível a subsistência da raça humana. Na
representação do mito de Pandora a mulher é vista como a antítese da tese masculina, “a
outra”. (HOLLAND, 2010, p. 442)
Nota-se que a visão disseminada pelos gregos opõe-se aos mitos narrados
anteriormente na Mesopotâmia, assim como os dos nômades do noroeste da Europa. A
exemplo disso, Holland (2010) conta que a Epopéia de Gilgamesh narra a rivalização deste
com os deuses na sua busca da imortalidade, mas as mulheres não se convertem em
instrumento de vingança, tampouco se empreende as mulheres como culpadas da sina dos
homens, pois os responsáveis pela mortalidade humana são os deuses. Na cultura posterior,
aos celtas nômades, abundam os mitos do paraíso encontrado e perdido, mas não há nenhum
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
171
cénario que retrate a queda do homem correlacionada à mulher. A versão celta do paraíso é
como a dos sumérios e judeus, mostram um frondoso jardim com belas mulheres que
seduzem os homens para levarem uma vida de boa aventurança, mas não há um equivalente
celta de Pandora ou de Eva. (HOLLAND, 2010, p. 443)
Não somente os mitos, mas também o Orfismo, religião espiritual grega, com culto ao
deus Dionísio (VI e V a.C), influenciou o pensamento grego que atribuía o mal à mulher,
sendo esta considerada uma criatura perversa, perigosa, responsável pela desgraça do mundo.
Tal culto religioso não apenas transmitiu ao pensamento filosófico crenças gregas antigas
sobre a impureza da fertilidade, da morte e da mulher, como é também considerado um
precursor das formas ocidentais de espiritualidade religiosa. (SCHOTT, 1996, p. 51 apud
BICALHO, 2001).
Observa-se dessa forma que, sendo influenciado pelo Orfismo, o Cristianismo com
seus discursos colaborou na concepção misógina do ser mulher na cultura ocidental. Dentro
do Cristianismo toda a simbologia religiosa nos fala da expulsão do homem e da mulher do
paraíso que traz para a humanidade a perda da condição divina e essencialmente para a
mulher, a “nódoa do pecado”, porque foi ela que se entregou a tentação. Tal situação a coloca
no lugar de pecadora e ela terá de se redimir na submissão e resignação. O comportamento
cristão na distinção do ser masculino e do ser feminino dissemina o não reconhecimento de
direitos da mulher, trazendo condições sociais diferenciadas para homens e mulheres. Tal
atitude determina ao feminino uma condição de inferioridade e ao mesmo tempo contraditória
de ter que se submeter para se purificar e de transgredir para se fazer presente. (BICALHO,
2001).
Bicalho (2001) declara que o cristianismo baseado no pensamento filosófico grego
moldou a identidade feminina trazendo a “nódoa da misoginia”. O discurso cristão constituiu-
se historicamente enquanto organizador da vida e da moral social, utilizando-se de símbolos e
signos misóginos, constituindo as identidades de homens e mulheres ao manipular suas vidas
ao longo de diversas eras. Esta visão posiciona a mulher longe do sagrado, pois ela carrega
um mal e por isso deverá sofrer, resignar-se, buscar constantemente o perdão da nódoa do
pecado como forma de salvar-se. Tais representações ganham corpo no cotidiano das
mulheres, onde elas se vêem como responsáveis e provocadoras de discórdias, de
perversidade e, portanto, devem aceitar o controle e o domínio masculino. O feminino
construído como mal na figura de Eva ainda está presente através de símbolos e signos,
criando uma mentalidade que se universaliza. Desta forma, no mundo moderno as práticas
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
172
serão norteadas por estes valores, onde a mulher alcançará o perdão pelo mal que carrega no
exercício da maternidade, na função de “zeladora do lar” e ainda ser dócil e submissa como
filha, esposa e mãe. Se a ligação da mulher com o corpo, com a matéria a faz inferior, sua
superioridade será alcançada no flagelo de seu corpo. O homem ao violentá-la estaria
contribuindo para sua salvação. (BICALHO, 2001)
Percebeu-se pelo levantamento histórico realizado que a construção da misoginia se
deu numa produção ao longo dos séculos e atravessou culturas humanas, tomando formas
expressas na subjetividade feminina através do sentimento de culpa, as impelindo para a
aceitação e tolerância passiva da violência. Evidencia-se a existência de um contexto social,
cultural e histórico que reforça tais práticas. Visando compreender mais profundadamente tais
construções, será analisada a referida subjetividade feminina, muitas vezes já enraizada,
através da concepção Psicanalítica, dando ênfase ao conceito de “ideal de ego”, pois o mesmo
se mostra capaz de embasar como algo tão antigo se alastrou ao longo dos anos e foi ao
mesmo tempo tido como conduta adequada – tanto para homens quanto para mulheres.
Também se discute de forma breve, o quanto as interpretações rasas das teorias psicanalíticas
levam a não somente a dificuldade de escuta frente aos contextos de violência, mas também a
perpertuação de mais violência.
Um olhar psicanalítico sobre a misoginia
Sabe-se que a sociedade constrói diversos instrumentos que controlam e
regulamentam a vida social (regras, valores, punições) e que os mesmos são introjetados pelos
indivíduos de forma que a subjetividade termina depositando-se na objetividade. Neste
sentido, Chauí (1997, apud SILVA, 2010), afirma que durante longo tempo as sociedades
construiram em torno de si e no senso comum, um estereótipo relacionado ao sexo feminino,
sendo este o primeiro passo para a construção das bases do preconceito e da discriminação. A
autora explica que o estereótipo engloba diversos tipos de crenças, diferentes saberes e
valores. Essas inúmeras atitudes que julgamos naturais acabam sendo transmitida de geração
em geração sem que sejam questionadas. O estereótipo, conclui ela, nos dá a possibilidade de
avaliar e julgar positivamente ou negativamente coisas e seres humanos. (CHAUÍ, 1997, apud
SILVA, 2010). E destaca ainda que o senso comum é a crença jamais questionada de que a
realidade objetiva e subjetiva do mundo existe tal como é dada, o que leva à cristalização das
ideias acerca do mundo, dos sujeitos e demais elementos construídos historicamente ao longo
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
173
do tempo. Tais condições, segundo a autora, levam o grupo social a legitimar tais papeis que
não necessariamente condizem com a realidade desses mesmos atores sociais. Mas ainda
assim, cria um sistema de crenças que será disseminado no imaginário social coletivo,
legitimando qualquer coisa, inclusive a violência física ou sexual.
Silva (2010) constata que a violência contra a mulher está velada no mascaramento e
na subordinação da nossa linguagem cotidiana e faz-se presente:
[…] no uso de expressões e de diversos jogos de linguagem, nas palavras de duplo
sentido, na criação de referenciais para dar conta de uma realidade que não é a mais
condizente com o seu papel na sociedade, também na criação de estereótipos que
moldam formas singulares de preconceito e discriminação através de personagens da
vida cotidiana, tais como a doméstica, a dona de casa, a professorinha, a mãe e a
garota de programa estilo exportação, entre tantos outros tipos, cuja imagem se
transformou em um objeto tão vendável quanto qualquer outro produto de consumo,
com o corpo explorado através da mídia, além de servir às leis imperativas do
comércio e do turismo sexual. (p. 560)
Pode-se afirmar que violência que a mulher sofre no seu dia a dia, está incorporada e
enraizada no imaginário social coletivo da sociedade ocidental, dos homens e também das
mulheres, que legitimam a subordinação do sujeito feminino ao domínio do poder masculino.
Indo um pouco mais adiante é cabível apresentar que as repetições destas ideias e padrões
dentro de uma sociedade colaboram não somente para a formulação de um material para um
suposto Id, mas também passam a ser modelo para o ideal de ego para outros homens, outras
pessoas, perpetuando o processo, conforme afirma Freud (2006a)
O conceito de ideal de ego surge na obra de Freud (2006b, p. 101) em seu artigo sobre
Narcisismo onde ele o define como: “o que ele [o homem] projeta diante de si como ideal é o
substituto do narcisismo perdido de sua infância na qual ele era o seu próprio ideal”. O ideal
de ego segundo Freud (2006a) é a estrutura mental que funciona como referência para o ego
avaliar suas realizações, uma instância crítica e de auto-observação, que surge a partir da
introjeção das imagos parentais. Considerando a perspectiva de autoavaliação, Freud (2006a)
propõe que o sujeito pode ser facilmente acometido de um sentimento de vergonha e de
fracasso quando não consegue corresponder às expectativas dos outros, que passam a ser
também suas.
Ao difundir-se um ideal de ego contaminado, neste caso com uma visão
menosprezante da mulher, dissemina-se tão fortemente a crença de que os indivíduos,
incluindo a própria mulher, identificam-se naturalmente com as influências recebidas, o que
corrabora as colocações de Silva (2010, p. 561), “[…] as próprias mulheres participaram
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
174
inequivocadamente desses ideários construídos […]”.
Mediante as colocações feitas até o momento, fica entendido que qualquer tentativa
por parte da mulher de romper com este modelo onde a violência é banalizada – a submissão
é requerida e a ordem machista está implantada (aceito pela maioria como ideal) – é visto
como rebeldia, portanto sentido como culpa. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido
após avaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si mesmo, levando a
mulher a buscar alívio de tal tensão intrapsíquica através de enquandres em ordenamentos em
que a mulher deve adequar-se, submeter-se e resignar-se. A base deste sentimento, do ponto
de vista psicanalítico, presente em Freud (2006a), é a frustração causada pela distância entre o
que não fomos (o que se esperava dela) e a imagem criada pelo ideal de ego daquilo que
achamos que deveríamos ter sido (atendendo o modelo social).
Pensa-se que muito embora o sentimento de culpa aponte para um conflito
intrapsíquico – tensão entre o ego e o ideal de ego – é também aquilo que arrama as condutas
de uma sociedade, determinando formas de relações entre os sujeitos, mediadas pela
introjeção dos padrões de conduta. Assim a força do sentimento de culpa pode empuxar o
sujeito à autodepreciação, a um viver abaixo das possibilidades, para uma miséria subjetiva
que aliena o sujeito em arredutos que levam a consolidação da conformação ao sofrimento –
se tornando “amargo” ou apático-descontente com a própria situação, pois não acreditam na
real possibilidade de romper a condição de submissão impetrada pela violência. Tais mulheres
suportam, às vezes por muitos anos, situações abusivas, produtoras de intenso sofrimento
psíquico.
É importante, neste momento, realizar uma breve intersesseção quanto à Freud, pois o
mesmo é com frequência apontado como um autor com tendências machistas, e neste sentido
Narvaz (2010) alerta que as leituras simplistas e descontextualizadas de alguns postulados
freudianos, dentre eles, o de um “masoquismo autenticamente feminino” (FREUD, 1924b,
1967, p. 933, apud NARVAZ, 2010) e o da sedução infantil, segundo a qual a criança deseja e
fantasia o abuso (FREUD, 1905, 1967, apud NARVAZ, 2010), podem ter efeitos nefastos na
compreensão das situações de sofrimento psíquico, produzido por abusos e violações que
podem levar à compreensão de que a mulher desejou receber tal violência, e assim colocar o
profissional como cúmplice e perpertuante de uma nova violência. Em contrapartida,
considerando-se os fatos, aponta-se que “para uma mulher, não existe horror maior do que ver
e sentir seu corpo, seu espaço psíquico e corporal, ser penetrado e invadido por uma
sexualidade estranha e estrangeira, sem que ela deseje essa invasão” (CROMBERG, 2004, p.
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
175
24, apud NARVAZ, 2010).
Narvaz (2010) entende que existem dificuldades para realizar uma adequada escuta
dessas mulheres e dessas meninas pelo fato das violências praticadas estarem atravessadas por
confusões e angústias típicas destas situações, e que as mesmas parecem encontrar alívio ao
recorrerem a mitos explicativos do senso comum, circulantes na cultura, dentre eles, o de que
a mulher gosta de apanhar e de que as filhas seduzem os pais abusivos. Ademais, Narvaz e
Koller (2007) afirmam que os discursos sociais retratam as mulheres e meninas como
coniventes com os seus agressores, sedutoras e provocadoras das violências que sofrem e
inscrevem-se em diversas práticas da psicologia.
Além é referido que tais aspectos podem engendrar práticas equivocadas que
interpretam os relatos de abuso sexual como fantasias histéricas, bem como imputam às
meninas e às mulheres o estatuto de cúmplices que desejam as violências sofridas, uma vez
que, masoquistas, gozam com elas (FORRESTER, 1990; NUNES, 1998, apud NARVAZ,
2010). Essas práticas podem operar como dispositivos de naturalização da violência e de
legitimação da submissão feminina, uma vez que a escuta e a compreensão do sofrimento
diante dessas violações estão sendo fundamentadas nas teorias freudianas.
Conclusão
Através dos levantamentos feitos neste artigo, observou-se que uma compreensão
histórica demostra que certos comportamentos femininos expressos na passividade frente aos
diversos tipos de violência podem ser compreendidos através de uma série de construções
culturais e, portanto, não é algo presente numa pretensa natureza feminina. Assim, verificou-
se a existência de traços misóginos em diversas culturas e religiões que até hoje são influentes
na organização das sociedades, o que pode ser entendido não só como preciptador da
violência contra a mulher, mas, inclusive como modelador das práticas discrimatórias
supracitadas.
Os temas trabalhados neste artigo demonstram que a violência que a mulher sofre no
seu cotidiano, está incorporada e enraizada nos ideais de ego e, por isso, essas práticas são
aceitas e tidas como corretas ou adequadas. Em decorrência da naturalização, debatida como
consequência do ideal de ego, observa-se não apenas a dificuldade das mulheres de se
retirarem de tal situação de violência, mas até comprazimento em virtude do aparecimento do
sentimento de culpa, sendo consequentemente forçada a se resignar e manter uma atitude
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
176
dócil ou passiva.
A repetição das práticas de violência e aceitação de certos postulados religiosos e
culturais só faz nutrir tais ideais coletivos que posteriormente são introjetados pelos sujeitos.
Portanto, se mostra importante a ruptura desse ciclo e em virtude disso acredita-se ser
necessário o desenvolvimento de mais pesquisas neste campo, tanto pela carência de material,
como em virtude do compromisso que as ciências e a filosofia carregam consigo: o
compromisso com a construção de uma sociedade mais igualitária.
Referências
AVIGLIANO, M. Página 12. Las Cartas Marcadas. Outubro 2010. Disponível em: <
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6058-2010-10-22.html>. Acesso
em: 20 nov. 2015.
BICALHO, E. A nódoa da misoginia na naturalização da violência de gênero: mulheres
pentecostais e carismáticas. Universidade Católica de Goias, 2001.
BIRMAN, J. Gramáticas do Erotismo: a feminilidade e suas formas de subetivação na
psicanálise. Rio de Janveiro: Civilização Brasileira, 2001.
BRITO, A. A. Breves reflexões sobre a história geral da cidadania. In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande, XIV, n. 94, nov. 2011. Disponível em: <http://bit.ly/1XmR7AS>. Acesso em: 27
nov. 2015.
CERQUEIRA, J.H.A. de. Reflexões acerca da violência e discriminação contra a mulher no
século XXI. Jornal Relações Internacionais (R I). 2012. Disponível em:
<http://bit.ly/1N0OcWh>. Acesso em: 4 dez. 2015.
CUNHA, A.G. Lexicon: Dicionário Etimológico da Lingua Portuguesa. 2007. P. 386,524.
HOLLAND, J. Una breve historia de la misoginia: el prejuício mas antiguo del mundo.
Mexico: Editora Oceano, 2010, p. 442, 443.
HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S.; FRANCO, F. M de M. Dicionário Houaiss da lingua
portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2004. p. 1934.
JAFFÉ, A. O Mito do Significado na obra de Carl Gustav Jung. São Paulo: Cultrix, p. 16-
19, 1995.
JOHNSON, A. G.; KRIGER. M. Feminização da pobreza: uma leitura crítica. Disponível
em: <http://www.achegas.net/numero/35/johnson_35.pdf >. Acesso em: 05 dez. 2015.
MEDEIROS, M.; COSTA, J. O que entendemos por feminização da pobreza. Centro
Internacional da Pobreza. 2008. Disponível em: <http://bit.ly/1TrAFZu >. Acesso em: 04
dez. 2015.
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
177
NARVAZ, M. G. Masoquismo feminino e violência doméstica: reflexões para a clínica e para
o ensino de Psicologia. Psicol. Ensino &Form., Brasília, v. 1, n. 2, p. 47-59, 2010.
Disponível em: < http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-
20612010000200005 >. Acesso em: 10 out. 2015.
NARVAZ, M.; KOLLER, S. O feminino, o incesto e a sedução: problematizando os
discursos de culpabilização das mulheres e das meninas diante da violação sexual. Ártemis,
2007, Paraíba, v.6, p. 77-84.
PINAFI, T. Violência contra a mulher: políticas públicas e medidas protetivas na
contemporaneidade. In: Histórica: Revista Eletrônica do Arquivo do Estado, n. 21, abr./maio
2007. Disponível em: < http://bit.ly/1NesTgU>. Acesso em: 28 nov. 2015.
RAMINA, L. A exploração sexual da mulher no século XXI. Carta Maior. 2013.
Disponível em: < http://bit.ly/1Nv4CrH>. Acesso em: 03 dez. 2015.
SILVA, S. G. da. Preconceito e discriminação: as bases da violência contra a mulher. Psicol.
cienc. prof., Brasília, v. 30, n. 3, p. 561, set. 2010. Disponível em: <
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
98932010000300009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso: 07 jun. 2015.
STARR, T. A voz do dono: cinco mil anos de machismo e misoginia. São Paulo: Ática, 1993,
p. 11, 28, 29.
WELLE, D. Uma ONG contra o feminicídio na Argentina. Carta Capital, 06 jun. 2015.
Disponível em: <http://bit.ly/21cuFcW>. Acesso em: 23 nov. 2015.
Recebido em: 27/09/2016
Aprovado em: 09/11/2016
Avesso do avesso v.14, n.14, p. 167-178, novembro 2016
178
Você também pode gostar
- Uma teoria feminista da violência: Por uma política antirracista da proteçãoNo EverandUma teoria feminista da violência: Por uma política antirracista da proteçãoAinda não há avaliações
- Desnaturalização do machismo estrutural na sociedade brasileiraNo EverandDesnaturalização do machismo estrutural na sociedade brasileiraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 02 - Ética Cristã e Ideologia de GêneroDocumento9 páginas02 - Ética Cristã e Ideologia de GêneroIsaias RibeiroAinda não há avaliações
- VERNANT Jean Pierre Mito eDocumento6 páginasVERNANT Jean Pierre Mito eallison fernandoAinda não há avaliações
- Surgimento Da ÉticaDocumento6 páginasSurgimento Da ÉticaDuda XavierAinda não há avaliações
- É possível ser feliz no casamento?: discurso médico e crítica literária feminista no Brasil ModernoNo EverandÉ possível ser feliz no casamento?: discurso médico e crítica literária feminista no Brasil ModernoAinda não há avaliações
- Marxismo Vs Teoria QueerDocumento198 páginasMarxismo Vs Teoria QueerIgaci BorgesAinda não há avaliações
- Identidade de Gênero em Subversão: Niketche, de Paulina ChizianeDocumento14 páginasIdentidade de Gênero em Subversão: Niketche, de Paulina ChizianeMaiane Pires TigreAinda não há avaliações
- Palestra Gênero e Violência Doméstica CertoDocumento116 páginasPalestra Gênero e Violência Doméstica CertoAdriele InácioAinda não há avaliações
- Consideracoes Narrativas Sobre As VivencDocumento12 páginasConsideracoes Narrativas Sobre As VivencRaiane alexandreAinda não há avaliações
- Fichar - História Das Mulheres Ciro Flamariom Cardoso & Ronaldo Vainfas-Dominios Da História (PDF) (Rev)Documento31 páginasFichar - História Das Mulheres Ciro Flamariom Cardoso & Ronaldo Vainfas-Dominios Da História (PDF) (Rev)calu2402Ainda não há avaliações
- Palestra Gênero e Violência DomésticaDocumento116 páginasPalestra Gênero e Violência DomésticaAdriele InácioAinda não há avaliações
- Mulheres, Negros e Outros Monstros by Ferreira & HamlinDocumento26 páginasMulheres, Negros e Outros Monstros by Ferreira & HamlinMelo_RAinda não há avaliações
- Saberes Situados, Feminismo e Pós-ColonialidadeDocumento9 páginasSaberes Situados, Feminismo e Pós-ColonialidadeLarissa PelucioAinda não há avaliações
- Cláudia de Lima Costa Situando o Sujeito Do FeminismoDocumento38 páginasCláudia de Lima Costa Situando o Sujeito Do FeminismoÉrika OliveiraAinda não há avaliações
- Tania Navarro Swain Feminismo Radical Muito Além de IdentidadesDocumento279 páginasTania Navarro Swain Feminismo Radical Muito Além de IdentidadesVivianAinda não há avaliações
- TCC - InterseccionalidadeDocumento4 páginasTCC - InterseccionalidadeFabiana SimplícioAinda não há avaliações
- 172 174 1 PB PDFDocumento6 páginas172 174 1 PB PDFamandafilAinda não há avaliações
- A Misoginia Da Idade MédiaDocumento11 páginasA Misoginia Da Idade MédiaJuNeferariAinda não há avaliações
- Descobrindo Historicamente Gênero - Revista PaguDocumento6 páginasDescobrindo Historicamente Gênero - Revista PaguDirce SokenAinda não há avaliações
- A Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeDocumento13 páginasA Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeRafael DiasAinda não há avaliações
- Antropologia-E-Sexualidade Miguel Vale de AlmeidaDocumento21 páginasAntropologia-E-Sexualidade Miguel Vale de Almeidatorugobarreto5794Ainda não há avaliações
- (CHARTIER, Roger) Diferenças Entre Os Sexos e Dominaç - o SimbólicaDocumento11 páginas(CHARTIER, Roger) Diferenças Entre Os Sexos e Dominaç - o SimbólicalecolllllAinda não há avaliações
- Trabalho GREH. Priscila v. TruculloDocumento12 páginasTrabalho GREH. Priscila v. TruculloPriscila Ventura TruculloAinda não há avaliações
- 287-Article Text-554-1-10-20191114Documento6 páginas287-Article Text-554-1-10-20191114Antônio NascimentoAinda não há avaliações
- Lesbianismo e Diferença Sexual - Andrea FranulicDocumento5 páginasLesbianismo e Diferença Sexual - Andrea FranulicJanaína RAinda não há avaliações
- A "Descoberta" Do Segundo Sexo: Intelectuais Brasileiras E Suas Aproximações Com O FeminismoDocumento9 páginasA "Descoberta" Do Segundo Sexo: Intelectuais Brasileiras E Suas Aproximações Com O FeminismoLuis eduardo SantosAinda não há avaliações
- LELIA GONZALEZ - Por Um Feminismo AfrolatinoamericanoDocumento11 páginasLELIA GONZALEZ - Por Um Feminismo AfrolatinoamericanoRodrigo MoiAinda não há avaliações
- Minorias, Migrações Forçadas, Asilo e Refúgio - PUC RSDocumento33 páginasMinorias, Migrações Forçadas, Asilo e Refúgio - PUC RSHugo LeonardoAinda não há avaliações
- A Presença Da Mulher Na Literatura e NaDocumento9 páginasA Presença Da Mulher Na Literatura e NaPatricia FreitasAinda não há avaliações
- Feminismo e Discurso Do Gênero Na Psicologia Social PDFDocumento28 páginasFeminismo e Discurso Do Gênero Na Psicologia Social PDFdaniele_mano6469Ainda não há avaliações
- As Milenares Origens Do Preconceito de Gênero: I - IntroduçãoDocumento15 páginasAs Milenares Origens Do Preconceito de Gênero: I - IntroduçãogarciavenancioAinda não há avaliações
- Tribadismo Arte Friccionamento-BkltDocumento6 páginasTribadismo Arte Friccionamento-BkltPaulo KallerAinda não há avaliações
- Banalizar e Naturalizar A Prostituição: Violência Social e HistóricaDocumento6 páginasBanalizar e Naturalizar A Prostituição: Violência Social e HistóricaRamon LimaAinda não há avaliações
- Feminismo e Empoderamento de MulheresDocumento27 páginasFeminismo e Empoderamento de Mulheresnatanbezerra2008Ainda não há avaliações
- Quando Eu Acordei Tinha 33 Caras em Cima de Mim - Parte 1 - 03.06Documento5 páginasQuando Eu Acordei Tinha 33 Caras em Cima de Mim - Parte 1 - 03.06Marilene OliveiraAinda não há avaliações
- Trabalho RedDocumento3 páginasTrabalho RedAna LuisaAinda não há avaliações
- 2018 1546965993 PDFDocumento1.584 páginas2018 1546965993 PDFRodolfo LobatoAinda não há avaliações
- ALMEIDA, Heloisa Buarque. GêneroDocumento12 páginasALMEIDA, Heloisa Buarque. GêneroGabrielAinda não há avaliações
- 5807 18572 1 PBDocumento10 páginas5807 18572 1 PBCristiano Da Silveira PereiraAinda não há avaliações
- Patriarcado e Sujeição Das MulheresDocumento19 páginasPatriarcado e Sujeição Das MulheresGiovanni CorteAinda não há avaliações
- Ser Mulher Na Idade MédiaDocumento10 páginasSer Mulher Na Idade Médiajosetadeumendes1772Ainda não há avaliações
- Arqueologia da Diferença Sexual: Mulher na Antropologia de Tomás de AquinoNo EverandArqueologia da Diferença Sexual: Mulher na Antropologia de Tomás de AquinoAinda não há avaliações
- Feminismo e Empoderamento de MulheresDocumento27 páginasFeminismo e Empoderamento de MulheresjosevictorferreiravitalAinda não há avaliações
- FLORES, M.B.R. (RAGO, M.) Tecnologia e Estética Do RacismoDocumento3 páginasFLORES, M.B.R. (RAGO, M.) Tecnologia e Estética Do RacismoGoshai DaianAinda não há avaliações
- O Mito Do Feminismo Como Verdade UniversalDocumento6 páginasO Mito Do Feminismo Como Verdade UniversalanndeluaAinda não há avaliações
- Fichamento Lélia GonzalezDocumento6 páginasFichamento Lélia GonzalezPaul Jardim Martins AfonsoAinda não há avaliações
- Antropologia Da SexualidadeDocumento17 páginasAntropologia Da Sexualidadejaircrispim879Ainda não há avaliações
- Artigo - Mitos Pilares Q Sustentam o Patriarcado Simone de BeauvoirDocumento13 páginasArtigo - Mitos Pilares Q Sustentam o Patriarcado Simone de BeauvoirSara Alacoque GuerraAinda não há avaliações
- Juliana Aline Fungaro Ribeiro Tarcyanie Cajueiro SantosDocumento14 páginasJuliana Aline Fungaro Ribeiro Tarcyanie Cajueiro SantosFelipe BuenoAinda não há avaliações
- Gênero X Sexualidade Sociologia 3 AnoDocumento2 páginasGênero X Sexualidade Sociologia 3 AnoADRIANA DA MATA SOUSAAinda não há avaliações
- Sharon Smith - Agenda Marxista para Interseccionalidade PDFDocumento15 páginasSharon Smith - Agenda Marxista para Interseccionalidade PDFAfranio CasteloAinda não há avaliações
- A Mulher Na Visao Do Patriarcado BrasileiroDocumento14 páginasA Mulher Na Visao Do Patriarcado BrasileiroCláudio Zarco100% (1)
- Relações Sociais de Sexo e Gênero No IslãDocumento14 páginasRelações Sociais de Sexo e Gênero No IslãEdison Bisso CruxenAinda não há avaliações
- Artigo - Maria (Conceição Evaristo)Documento12 páginasArtigo - Maria (Conceição Evaristo)Larissa LopesAinda não há avaliações
- Julia Kristeva Beauvoir Presente 2019 Edições Sesc São Paulo Libgen - Li 1Documento141 páginasJulia Kristeva Beauvoir Presente 2019 Edições Sesc São Paulo Libgen - Li 1LiviaAinda não há avaliações
- Mulheres Filosófas: Participação, História e VisibilidadeNo EverandMulheres Filosófas: Participação, História e VisibilidadeAinda não há avaliações
- As Vozes Femininas na Literatura Inglesa da Baixa Idade Média: Um Estudo De The Canterbury TalesNo EverandAs Vozes Femininas na Literatura Inglesa da Baixa Idade Média: Um Estudo De The Canterbury TalesAinda não há avaliações
- Tornar-se homem: ressonâncias do declínio do ideal viril na sexuaçãoNo EverandTornar-se homem: ressonâncias do declínio do ideal viril na sexuaçãoAinda não há avaliações
- Cenas de um pensamento incômodo: gênero, cárcere e cultura em uma visada decolonialNo EverandCenas de um pensamento incômodo: gênero, cárcere e cultura em uma visada decolonialAinda não há avaliações
- Direito e Pós-Modernidade: sinergia do patriarcado e violência contra a mulherNo EverandDireito e Pós-Modernidade: sinergia do patriarcado e violência contra a mulherAinda não há avaliações
- vW2hs7IBymDocumento2 páginasvW2hs7IBymPhabloDiasAinda não há avaliações
- componentes_quimicos_ib511Documento8 páginascomponentes_quimicos_ib511PhabloDiasAinda não há avaliações
- Questões 3 Tecido Muscular e NervosoDocumento2 páginasQuestões 3 Tecido Muscular e NervosoPhabloDiasAinda não há avaliações
- Zoo5462 EquideoculturaDocumento3 páginasZoo5462 EquideoculturaPhabloDiasAinda não há avaliações
- Aula 4.2 - Historia de Vida PDFDocumento61 páginasAula 4.2 - Historia de Vida PDFPhabloDiasAinda não há avaliações
- Roteiro Aulas Teoricas BiofisicaDocumento6 páginasRoteiro Aulas Teoricas BiofisicaPhabloDiasAinda não há avaliações
- HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA, Escolha Ou DestinoDocumento120 páginasHOMOSSEXUALIDADE MASCULINA, Escolha Ou DestinoLeandro MendoncaAinda não há avaliações
- Tema 42 - O TESOURO DE BRESA E HARBATOLDocumento2 páginasTema 42 - O TESOURO DE BRESA E HARBATOLDaniel FernandesAinda não há avaliações
- Édipo Rei - CríticaDocumento50 páginasÉdipo Rei - CríticaTadeu SüpptitzAinda não há avaliações
- 4-Arquitetura e A Cidade Na Antiguidade OrientalDocumento52 páginas4-Arquitetura e A Cidade Na Antiguidade Orientalleandro.squallAinda não há avaliações
- Alimentação Na Idade Antiga - ROMADocumento44 páginasAlimentação Na Idade Antiga - ROMAsribiapinamarcoAinda não há avaliações
- Conceitos-Chave Da Teoria Pós-Colonial by Thomas BonniciDocumento77 páginasConceitos-Chave Da Teoria Pós-Colonial by Thomas BonniciBOUGLEUX BOMJARDIM DA SILVA CARMO50% (2)
- Extensivo Filosofia Introdução A FilosofiaDocumento13 páginasExtensivo Filosofia Introdução A FilosofiaRenata SantanaAinda não há avaliações
- Montaigne DoscanibaisDocumento6 páginasMontaigne DoscanibaisValdir PrigolAinda não há avaliações
- 25 Semana ApnpDocumento3 páginas25 Semana ApnpMariaEmíliaHelmerPimentelAinda não há avaliações
- Paisagismo Vegetação Como Elemento Construtivo Do EspaçoDocumento44 páginasPaisagismo Vegetação Como Elemento Construtivo Do EspaçoSandra Pereira MaraschinAinda não há avaliações
- 17 - As Origens Da Civilização Grega - Creta e MicenasDocumento8 páginas17 - As Origens Da Civilização Grega - Creta e MicenasLadir MayerAinda não há avaliações
- 6 Ano - Historia - EstudanteDocumento26 páginas6 Ano - Historia - EstudanteBruna GabrielleAinda não há avaliações
- HermetismoDocumento36 páginasHermetismoArmando CruzAinda não há avaliações
- Questões THAU IIDocumento8 páginasQuestões THAU IIana carolinaAinda não há avaliações
- PL - GinásticaDocumento4 páginasPL - GinásticaBeatriz RangelAinda não há avaliações
- 10 AnoDocumento11 páginas10 AnoBárbara Ferro RibeiroAinda não há avaliações
- Revisao ENEM 2021 - Antiguidade OrientalDocumento7 páginasRevisao ENEM 2021 - Antiguidade OrientalM Sousa Rodrigues100% (1)
- Revista Educação Pública - A Pedagogia Antes Da PedagogiaDocumento3 páginasRevista Educação Pública - A Pedagogia Antes Da PedagogiaElectroAinda não há avaliações
- Conflitos Na Grécia AntigaDocumento2 páginasConflitos Na Grécia AntigaJuan almeidaAinda não há avaliações
- (Material) Civilização Grega PDFDocumento15 páginas(Material) Civilização Grega PDFMarcelo AlcazarAinda não há avaliações
- 000712303Documento332 páginas000712303Tatiane OliveiraAinda não há avaliações
- Polis Grega Textoa ApoioDocumento1 páginaPolis Grega Textoa Apoiob4t3dorAinda não há avaliações
- 6°ano-A Grécia AntigaDocumento3 páginas6°ano-A Grécia AntigaAlexandra TapparoAinda não há avaliações
- Filosofia PolíticaDocumento57 páginasFilosofia PolíticaPedro Rosa100% (1)
- Período HelenísticoDocumento28 páginasPeríodo HelenísticoLuiz David100% (1)
- Democracia Grega X Democracia ContemporâneaDocumento1 páginaDemocracia Grega X Democracia ContemporâneaiahfuiAinda não há avaliações
- Prova de Artes Nível IDocumento1 páginaProva de Artes Nível IJane Cristina da SilvaAinda não há avaliações
- Educação e Pesquisa A Música Como Suporte Pedagógico Na DisciplinaDocumento13 páginasEducação e Pesquisa A Música Como Suporte Pedagógico Na DisciplinaLeandro AugustoAinda não há avaliações