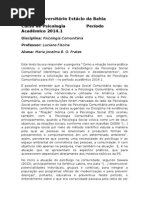Silva. Benelli - o Psicólogo Nas Políticas Públicas Sociais - Possibilidades e
Silva. Benelli - o Psicólogo Nas Políticas Públicas Sociais - Possibilidades e
Enviado por
Jaqueline LeandroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Silva. Benelli - o Psicólogo Nas Políticas Públicas Sociais - Possibilidades e
Silva. Benelli - o Psicólogo Nas Políticas Públicas Sociais - Possibilidades e
Enviado por
Jaqueline LeandroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Silva. Benelli - o Psicólogo Nas Políticas Públicas Sociais - Possibilidades e
Silva. Benelli - o Psicólogo Nas Políticas Públicas Sociais - Possibilidades e
Enviado por
Jaqueline LeandroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O PSICÓLOGO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS: POSSIBILIDADES E
DESAFIOS NA ATUAÇÃO
LUCIANA BATISTA DA SILVA*
SÍLVIO JOSÉ BENELLI**
___________________________________________________________________
* Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Psicologia, Linha de Pesquisa:
Atenção Psicossocial e Políticas Públicas - Universidade Estadual Paulista (Unesp),
Faculdade de Ciências e Letras, Assis/SP. E-mail: lubatistapsi@hotmail.com.
** Doutor em Psicologia Social-IP/USP, São Paulo, Docente do Programa de
PósGraduação em Psicologia - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade
de Ciências e Letras, Assis/SP, Brasil. E-mail: silvio.benelli@unesp.br
RESUMO
A atuação do psicólogo no campo das políticas públicas sociais se tornou um elemento
importante na contemporaneidade, devido ao seu compromisso e implicação ética,
norteados pelo anseio de uma transformação social, buscando superar a produção de
ajustamento, adaptação social e normatização do indivíduo, alinhando os interesses
dos pobres, oprimidos, explorados e socialmente excluídos e a luta pela legitimação
dos direitos sociais. Partimos do pensamento de Foucault priorizando as práticas
sobre as teorias, de modo a problematizar as práticas sociais de dentro (Lemos;
Cardoso Júnior, 2009, p. 353). Observamos que a atuação dos psicólogos passa a
ser permeada por uma práxis mais crítica e transformadora, constituindo-se enquanto
instâncias de garantia de direitos e promoção da cidadania.
Palavras-chave: Direitos sociais. Políticas públicas. Psicologia social.
ABSTRACT
The psycologist’s performance in the fiels of social public policies has become an
important emelent in contemporary times, due to his commitment and ethical
implication, guided by the desire for social transformation, seeking to overcome the
production of ajustment, social adaptation and stadardization of the individual aligning
the interests of the poor, oprressed, exploited and socially excluded and the struggle
for the legitimation of social rights. We start from Foucault´s thinking prioritizing
practices over the theories, in ordem to problematize social practices from within
(Lemos; Cardoso Húnior, 2009, p. 353). We observed that the work of psycologists is
now permeated by a more critical and transformative praxis, constituting themselves
as instances of guaranteeing rights and promoting citizenship.
Keywords: Social rights.Public policy. Social psychology.
INTRODUÇÃO
A psicologia, enquanto ciência e profissão, passa a ser regulamentada no
Brasil, a partir da Lei n° 4.119, de 27 de agosto de 1962. Em 1971, que cria o Conselho
Federal de Psicologia (CFP), pela Lei n°5.766, que o regulamenta em 1977, pelo
Decreto n° 79.822. A profissão nasce com o status elitizado, para atender demandas
clínicas, especialmente em consultórios particulares e com atendimento
individualizado.
Aos poucos, o campo de atuação do psicólogo passa a se expandir para outras
áreas. A partir de então, a psicologia começa a se engajar com outras profissões e a
se inserir no campo das políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de
vida e saúde dos sujeitos, colocando à disposição da um grupo maior de pessoas, os
seus saberes, técnicas e estudos.
A atuação do psicólogo no campo das políticas públicas se tornou um elemento
importante na contemporaneidade, inicialmente com o objetivo de ajustamento e
normatização dos indivíduos, e também por seu compromisso e implicação ética,
norteados pelo anseio de uma transformação social.
Diante disso, influenciada pelas concepções higienistas que estabelecia
padrões de normalidade, a psicologia era instada a avaliar condições mentais
por meio de testes psicológicos e observações clínicas, com objetivos de se
desenvolver técnicas de mensuração e verificação da capacidade mental
para criar tecnologias de regulação e normalização de comportamentos
(FERRAZA, 2016, p. 10).
De acordo com Brigagão et al. (2011, p. 199), “os psicólogos têm se
aproximado do campo das políticas públicas por meio das ações desenvolvidas no
cotidiano profissional, em diversas áreas, e têm construído diferentes modos de
reinvenção da prática a partir da interpretação das políticas”. Entende-se por política
pública a ação intencional, que tenha objetivos claros, com impactos no curto prazo,
mesmo sendo uma ação a longo prazo e que envolva processos decisórios nas ações
de implementação, execução e avaliação.
Segundo Ferraza (2016), os psicólogos começam a atuar nas políticas públicas
em um momento de enfrentamento das questões de violações de Direitos Humanos,
diante das péssimas condições de vida da sociedade brasileira com relação à vida,
saúde, educação, trabalho, habitação. Este período, de um regime ditatodial, em
meados da década de 70, é marcado pela emergência dos Movimentos Sociais no
Brasil, e neste contexto de lutas, nasce a Reforma Sanitária, preconizando o Direito
Universal à saúde, o reconhecimento de que o processo saúde-doença é composto
por determinantes históricos e sociais e também se constitui um campo de saber
baseado no respeito à dignidade humana, chamado de interdisciplinar. Este saber,
conta com a psicologia, enquanto ciência e profissão, especialmente pelo caráter
psicossocial presente nas propostas e projetos. No entanto, a atuação do psicólogo
no campo das políticas públicas está distante do modelo clássico da clínica tradicional,
muitas vezes elitizado, individualizado. O profissional da psicologia que atua ou
pretende atuar junto às políticas públicas deve estar disposto a ocupar outros espaços
e também estar orientado pelas demandas da sociedade contemporânea.
Segundo Benelli (2014), a psicologia, pedagogia e serviço social, constituem o
campo multidisciplinar no atendimento a população nas diferentes instituições,
entidades, equipamentos e políticas públicas. A psicologia, ciência que estuda as
estruturas, a mente humana, os comportamentos, as relações interpessoais, as
patologias da mente humana, se abre também para o estudo do comportamento social
do ser humano, desta forma a Psicologia Social ocupa-se das relações entre indivídio
e sociedade.
O psicólogo é convocado para atuar fora do consultório tradicional, junto às
políticas públicas, inicialmente nas áreas de saúde e educação. Na saúde,
inicialmente nos hospitais psiquiátricos, junto à Saúde Mental, e posteriormente com
o advento do SUS, com postos de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde (UBS),
Ambulatórios de Saúde Mental e mais recentemente nos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), nas clínicas ou casas de recuperação para dependentes
químicos ou comunidades terapêuticas. Na educação, em escolas, muitas vezes na
função ou especialidade de psicopedagogos, ou até mesmo alocados nas próprias
Secretarias Municipais de Educação e Diretorias de Ensino, servindo de suporte e
atendimento às escolas.
No campo das políticas públicas sociais, a Psicologia, enquanto ciência e
profissão, assim como os psicólogos, ganharam espaço e lócus de atuação, diante do
advento das Normativas Internacionais e Nacionais, no que se refere à garantia de
direitos dos cidadãos e da instituição da Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com seus estabelecimentos
específicos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que atualmente estão
instalados em grande parte do País (BRASIL, 2004).
Com a emergência do SUAS, o profissional da Psicologia é também convocado
a assumir postos de trabalho no campo social (visto a abertura de vagas e concursos
na área), nas Secretarias Municipais de Assistência Social e seus estabelecimentos e
serviços como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro do Idoso, Lar Dia,
Casa de Acolhida, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Medidas
Socioeducativas, entre outros. Os psicólogos passam a vislumbrar, na área social,
junto às políticas públicas, um importante campo de atuação. Atualmente, muitos
psicólogos atuam nas organizações e estabelecimentos sociais compondo as equipes
de atendimento à população.
No Sistema Judiciário, também se abriu um campo de trabalho enquanto
Psicologia Jurídica ou Psicologia Judiciária, no chamado Setor Técnico das
Comarcas, principalmente após a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da
Criança e do Adolescente de 1990. O Poder Judiciário, tem recorrido cada vez mais à
psicologia jurídica e também ao serviço social, para contextualizar e subjetivar
situações que auxiliam o juiz durante o processo e no momento de estabelecer uma
sentença. O psicólogo então, passa a atuar especialmente junto às Varas de Família
e da Infância e Juventude, atendendo as crianças e famílias em casos de guarda,
tutela, adoção, casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, violência, entre outros. A
atuação dos psicólogos no sistema judiciário, contribui de forma efetiva para as
políticas públicas, visto que estes profissionais lidam com questões onde normalmente
há rompimento do tecido social, dos vínculos afetivos e familiares, e a equipe
multiprofissional, nestes casos poderá auxiliar para que sejam assegurados os direitos
fundamentais dos indivíduos.
Na Segurança Pública, a atuação do psicólogo também é bastante expressiva,
compondo as equipes multidisciplinares das penitenciárias, unidades de
Semiliberdade e Internação para adolescentes em conflito com a lei. Os psicólogos
atuam também como técnicos orientadores na aplicação de medidas socioeducativas
em meio aberto: Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida, trabalho
que atualmente está na competência dos CREAS, mas em muitos municípios onde
estes estabelecimentos não estão instalados, o serviço ainda é desenvolvido por
entidades socioeducativas, organizações não governamentais (ONGs) ou instituições
parceiras. Inclusive em um dos municípios pesquisados, que conta com o CREAS
instalado, o serviço ainda continua sendo desenvolvido por um Instituição.
O psicólogo então, para além do campo social, também para a se inserir no
segmento jurídico, utilizando-se muitas vezes de instrumentais reguladores dos
corpos dos sujeitos atendidos. O poder de punir não é diferente do poder de educar e
em nossa sociedade o professor, o médico, o educador, o assistente social, o
psicólogo, muitas vezes assumem a função de juiz, ajustando comportamentos e
condutas, nos chamados “dispositivos de normalização” (FOUCAULT, 2014). Neste
interim, o trabalho psicossocial, com o viés educativo e terapêutico, também produz
vigilância e controle das populações: “ As instituições sociais, constituem agências de
controle da conduta humana, pois prescrevem regras que podem consistentemente
conduzir as relações sociais entre os seres humanos” (BENELLI, 2014, p. 66).
Quanto à formação, muitos psicólogos, formados na década de 80 e 90, que
não apresentavam o desejo ou vocação para a famosa Psicologia Clínica, e que
demonstravam um perfil voltado para a área social, muitas vezes, encontravam
dificuldades em se colocar profissionalmente. Até mesmo a formação acadêmica, os
cursos de graduação apresentavam em seu rol de disciplinas, essencialmente noções
de fundamentos da psicologia, epistemologia, psicologia clínica em diversas
abordagens teóricas, porém havia uma lacuna de disciplinas voltadas para as
questões sociais. Poderia se encontrar disciplinas como Psicologia Institucional e
Psicologia Comunitária, mas as opções ainda eram restritas. Os postos de trabalho
comumente estavam centralizados em instituições sociais, muitas vezes filantrópicas
como: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Hospitais Psiquiátricos
(muitos mantidos por instituições religiosas), entre outras.
Apenas recentemente o Brasil passou a rumar para uma modernização da
assistência a crianças pobre s suas famílias. O maior indicativo disso poderia
ser verificado no atual processo de institucionalização estatal da política de
Assistência Social e na implementação de seus estabelecimentos
institucionais, programas, projetos, serviços e benefícios, nos quais os
psicólogos estão incluídos (BENELLI, 2016a, p.736).
Oliveira e Amorim (2012), relatam que a inserção dos psicólogos nas políticas
públicas está ligada ao aumento das oportunidades de emprego nas instituições
públicas e em locais, onde o foco da intervenção está ligado às questões sociais. A
intervenção dos psicólogos nestes espaços, deve levar em conta determinantes como
as condições estruturais e sociais, bem como o capitalismo, uma vez que a profissão
historicamente esteve voltada para a manutenção da burguesia, ao se inserir nas
políticas sociais, enfrenta desafios éticos, políticos e sociais e um reordenamento
teórico-técnico, pois passa a atuar junto a populações em condição de pobreza e
vulnerabilidade.
Para Benelli (2016a), a Assistência Social passa a se apresentar como um
campo de atuação dos psicólogos que se pautam pelo compromisso e implicação
ética e pela transformação social, buscando superar a produção de ajustamento,
adaptação social e normatização do indivíduo, alinhando os interesses dos pobres,
oprimidos, explorados e socialmente excluídos. A atuação dos psicólogos se dá em
instituições sociais e passa a ser permeada por uma prática mais crítica e
transformadora. A politização dos saberes teórico-técnicos da psicologia de
engajamento e transformação social reflete uma atuação avisada e politicamente
informada e situada no vasto campo das políticas públicas, particularmente no âmbito
da Assistência Social.
Estas instituições, mesmo com muitos problemas de gestão, funcionamento,
e estrutura, muitos vezes, configuram-se como os únicos espaços de escuta
para esta população. Ademais, podemos inferir que os profissionais da
Psicologia têm um perfil mais disponível à escuta, bem como à
sistematização da problemática expressa na da fala dos sujeitos (SILVA,
2008, p. 88).
Estes espaços foram se constituindo como equipamentos de garantia de
direitos, onde o sujeito deve ser considerado um cidadão, no entanto, as práticas dos
profissionais que atuam nestas instâncias ainda trazem resquícios da antiga política
das necessidades, no controle, normatização dos corpos e modulação dos
comportamentos.
Mais importante que a lei, na manutenção da ordem social, é o poder da
norma. Assim, no conceito foucaultiano, a norma é a maior responsável pela
criação dos padrões de comportamento social, pois se estende por todo o
corpo social através de um novo saber que se expressa no surgimento das
ciências-humanas, tais como a psiquiatria, a psicologia, a sociologia, a
pedagogia, entre outras. Os indivíduos passam a ser controlados durante
toda a sua existência por saberes que determinam o que é certo e o que é
errado. Como se sabe, a ordem da lei tenta obstruir o comportamento
indesejável se impondo pela repressão, pela negação e por um poder
essencialmente punitivo e coercitivo (SALIBA, 2006, p. 27-28).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Benelli (2016a), o percurso histórico sobre o processo de
institucionalização da Assistência Social no Brasil, passa por uma modernização da
assistência a crianças pobres e suas famílias, por meio da implementação de
equipamentos e estabelecimentos institucionais específicos, programas, projetos,
serviços e benefícios. Espera-se que profissionais, especialmente os psicólogos que
atuam nesta área pautem sua atuação dentro de uma abordagem institucional crítica
e analítica. É importante analisar as possibilidades e limites da psicologia enquanto
área de saber e seus modos de fazer, suas intervenções e intercessões, os saberes
disciplinares e suas ações políticas que incidem na realidade social. A Assistência
social como campo de atuação e pesquisa também compreende a discussão sobre
as políticas públicas e os direitos das crianças e adolescentes. A atuação destes
profissionais pode se dar em entidades e estabelecimentos assistenciais que tenham
como público, a infância, adolescência, famílias, idosos, mulheres, pessoas com
deficiência e comunidades.
De acordo com Lobo e Franco (2018), depois de passar pela fase da
assistência caritativa, no século XVII com o trabalho das Irmandades de Misericórdia
junto aos desvalidos, órfãos e expostos e pela fase da assistência pública no final do
século XIX e inicio do século XX, direcionada aos menores e abandonados, o Brasil
estaria em um momento de modernização nos processos de atenção às crianças e
adolescentes. Esta época, marcada por uma investida do Estado por meio da
assistência, formando o que Donzelot (1980) chama de “o social”, que conta com a
presença maciça de trabalhadores técnicos especialistas: médicos, psicólogos,
assistentes sociais, educadores.
Donzelot (1980), conceitua “o social” como um setor que se ocuparia dos
problemas sociais, atuando em instituções específicas, com um domínio híbrido entre
o público e o privado, contando com profissionais qualificados, os chamados
“trabalhadores sociais”. O autor retoma Foucaut e a biopolítica, para analisar a
articulação entre a psicologia e a política, implicadas nas chamadas tecnologias
políticas de investimento sobre o corpo, a vida e a existência dos indivíduos. A polícia
também emerge neste contexto, objetivando regular as populações por meio do
Estado, incidindo principalmente, sobre a família, mas também sobre as crianças. Esta
intervenção teria como objeto duas categorias de crianças: os menores abandonados
e os chamados perigosos. As crianças burguesas, no entanto, ficavam sob a
responsabilidade das serviçais e recebiam cuidados quanto a sua criação, educação
e saúde. A família moderna, é centrada na educação, porém a família popular, é
cercada pela ótica da vigilância de suas condutas. A infância torna-se objeto de
liberação protegida, enquanto a criança burguesa está imersa pela preocupação com
seu desenvolvimento, sendo discretamente vigiada, a criança pobre tem sua liberdade
limitada e maior vigilância de seus atos. Neste interim as práticas assistencialistas,
caritativas e filantrópicas emergem , para dar conta destas mazelas sociais,
conservando a noção de moralidade.
De modo geral a filantropia se distingue da caridade, na escolha de seus
objetivos, por essa preocupação de pragmatismo. Em vez de dom, conselho,
pois este não custa nada. Assistência às crianças em vez de assistência aos
velhos, às mulheres e não aos homens pois, a longo prazo, esse tipo de
assistência pode, senão render, pelo menos evitar gastos futuros. A caridade
desconhece esse investimento pois só pode arder ao fogo de uma extremada
miséria, com a visão de um sofrimento espetacular, a fim de receber, em
troca, através do consolo imediato que fornece, o sentimento de
engrandecimento do doador (DONZELOT, 1980, p. 59).
A emergência da filantropia no século XIX, descrita por Donzelot (1980), tem
como principal alvo de intervenção as crianças, que estaria distribuídas pelas
seguintes categorias: infância em perigo, abandonadas (ameaçadas) e crianças
perigosas, delinquentes (ameaçadoras). Neste contexto, as práticas de assistenciais
direcionadas a estas crianças voltavam-se para questões de moralidade e
normalidade, visando moldar seus comportamentos e normalizar suas condutas.
Os procedimentos direcionadas à crianças e adolescentes, no
contemporâneo, estão em nome da proteção dos direitos, assegurados pelo princípio
da prioridade absoluta. No entanto, há que se problematizar se estas práticas estariam
realmente na direção do cuidado, da inclusão e da proteção ou também teriam traços
da gestão de risco, tutela e controle, além de ainda, em alguns casos, conservarem
práticas discursivas pautadas pelo assistencialismo, caridade e filantropia.
Cada profissional, com sua formação pessoal e acadêmica, apresenta uma
postura diante da clientela atendida. Além disso, a gestão das políticas públicas
sociais em cada localidade apresenta diferentes dinâmicas. Em alguns municípios,
ainda temos a presença institucionalizada dos Fundos de Solidariedade, normalmente
presididos pela Primeira Dama, pautados no paradigma assistencialista e baseado no
princípio das necessidades do sujeito. Por outro lado, temos a Política Nacional do
Sistema Único de Assistência Social, tentando se legitimar e reafirmar o princípio da
garantia dos direitos fundamentais e cidadania. A atuação dos profissionais, por sua
vez, acaba ficando comprometida, com o intuído de se fortalecer o paradigma do
sujeito de direitos e cidadania, os paradigmas da filantropia, caridade,
assistencialismo, ainda atravessam o cotidiano institucional.
Mayer e Lion (2012), coordenadoras de uma série especial de comunicação
popular do Conselho Regional de Psicologia São Paulo (CRP SP), apresentam um
conjunto de informações e instruções referentes à Psicologia e sua interface com os
direitos das crianças e dos adolescentes. Primeiramente tentam desconstruir a ideia
de que psicologia é “coisa de doido”, afirmando que a psicologia é uma ciência e que
tem como objetivo o desenvolvimento dos sujeitos, a partir da escuta qualificada.
Tentam desembrulhar o “mito de que a psicologia só existe no consultório, visto que
atualmente, os psicólogos atuam em variadas áreas como saúde, saúde mental,
educação, esporte, infância e juventude, direitos humanos, entre outras.
Este cenário de transformação social, no plano institucional e político inclui
novos saberes e práticas, dispositivos e equipamentos, discursos, poderes e novos
atores sociais, especialmente os psicólogos, que trouxeram a encomenda de atuar
em grupos e realizar ações com os sujeitos e suas famílias. Nosso questionamento
então é: sob qual, ou quais paradigmas, a práxis do psicólogo que atua nestas
políticas sociais, se sustenta? O que emerge em seus discursos e em suas práticas?
No atendimento à população infanto juvenil, qual a noção de sujeito está posta? Os
profissionais ainda atuam pautados no paradigma assistencialista e baseado no
princípio das necessidades do sujeito ou pautam suas práticas e discursos tentando
legitimar e reafirmar o princípio da garantia dos direitos fundamentais e cidadania?
Conforme apontam Mayer e Lion (2012), os profissionais da Psicologia
participaram de várias lutas pelos direitos das crianças e adolescentes no Brasil,
trabalhando junto com outros profissionais , outras áreas do conhecimento, além de
integrantes de movimentos sociais, pela aprovação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Um percurso longo e contínuo, de engajamento a fim de declarar
a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família, pelas crianças e
adolescentes do país. O maior trabalho ainda, está em tentar tirar o ECA do papel, ou
seja, fazer com que, além da função legal do Estatuto, que se cumpra também, sua
função social.
O grande desafio dos profissionais que atuam na área social, especialmente
nas políticas públicas direcionadas às crianças e adolescentes, está na consolidação
de práticas, saberes e fazeres, que superem a questão do controle, da normalização
e do modo disciplinar, buscando um equacionamento do problema social e que seja
pautado pela garantia dos direitos dos sujeitos. Para Saliba (2006, p. 32), “Filantropos,
educadores, economistas, médicos, psicólogos e assistentes sociais, entre outros,
atuaram por uma sintonia do saber dominante a fim de justificar e legitimar uma nova
moral social”.
Para isso destinam os saberes da Pedagogia e da Psicologia, que se
estendem em regras, preceitos e recomendações em torno das noções
histórico-pedagógicas da infância e adolescência. Mesmo em um momento
em que se valoriza a liberdade e a criatividade dos pequenos entre os muros
escolares, não se abre mão do governo dos corpos e das mentes para dar a
justa medida da liberdade desse homem a ser formado e formatado
(AUGUSTO, 2015, p. 11).
Podemos problematizar sobre o real papel deste chamado psicólogo social.
Como problematizar a atuação do psicólogo neste sentido, que, atuando na área
social não teria uma postura baseada na clínica tradicional, mas um caráter
psicossocial?
Em conformidade com os parâmetros apresentados no instrumental de
Referências Técnicas para atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS, desenvolvido
pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), junto ao Centro de Referências Técnicas
em Psicologia e Politicas Públicas (CREPOP), “a atuação do psicólogo, como
trabalhador da Assistência Social, tem como finalidade básica o fortalecimento dos
usuários como sujeitos de direitos e o fortalecimento das políticas públicas. As
políticas públicas são um conjunto de ações coletivas geridas e implementadas pelo
Estado, que devem estar voltadas para a garantia dos direitos sociais, norteando-se
pelos princípios da impessoalidade, universalidade, economia e racionalidade e
tendendo a dialogar com o sujeito cidadão. Uma Psicologia comprometida com a
transformação social toma como foco as necessidades, potencialidades, objetivos e
experiências dos oprimidos” (CREPOP, 2007, p. 17). Desta forma, o escopo de
atuação deste profissional, parece estar muito mais voltado para questões de garantia
de direitos e produção de cidadania:
As atividades desenvolvidas no CRAS estão voltadas para o alívio imediato
da pobreza, para a ruptura com o ciclo intergeracional da pobreza e o
desenvolvimento das famílias. Os psicólogos no CRAS devem promover e
fortalecer vínculos sócio-afetivos, de forma que as atividades de atendimento
gerem progressivamente independência dos benefícios oferecidos e
promovam a autonomia na perspectiva da cidadania. Atuar numa perspectiva
emancipatória, em um país marcado por desigualdades sociais, e construir
uma rede de proteção social é um grande desafio. Temos o compromisso de
oferecer serviços de qualidade, diminuir sofrimentos, evitar a cronificação dos
quadros de vulnerabilidade, defender o processo democrático e favorecer a
emancipação social. Para isso, é importante compreender a demanda e suas
condições históricas, culturais, sociais e políticas de produção, a partir do
conhecimento das peculiaridades das comunidades e do território (inserção
comunitária) e do seu impacto na vida dos sujeitos (CREPOP, 2007, p. 19).
Neste sendido, questionamos quais atividades este profissional vem
desenvolvendo nestes espaços para tentar ser um contingente para estás demandas?
Seriam: atendimentos psicossociais, atendimentos em grupos, Visitas domiciliares,
fortalecimento de vínculos, encaminhamentos, produção de relatórios. Além disso,
atuação em equipes multidisciplinares, interdisciplinares, articulação de redes de
pessoas e instituições para prevenção de situações como violências.? Este
profissional estaria apto a trabalhar temas críticos da contemporaneidade como:
drogas, violências em suas várias facetas (violência física, psicologica, sexual,
negligência, abuso, omissão, opressão), racismo, feminicídio, questões de gênero e
sexualidades, entre outras. Estaria também disposto a discutir, por exemplo fatores
transversais como a desigualdade social, o desmantelamento das instituições, o
recrudescimento do Estado? Estaria caminhando na direção de uma sociedade mais
justa, ética, equitativa e com sua prática realmente direcionada à questões de
cidadania e direitos humanos? Qual seria a compreensão e o olhar deste profissional
sobre o público atendido: de um sujeito cidadão que tem direitos a serem efetivados
ou de um sujeito com necessidades a serem atendidas?
Em minha prática profissional, percebo que, mesmo tendo legitimado o status
de sujeito de direitos, ainda, alguns profissionais - em certos locais, momentos, e
situações - continuam tratando as crianças e adolescentes como o sujeito das
necessidades, como objeto. Objeto, uma vez que, parece não ser verdadeiramente
ouvido em suas demandas, objeto exclusivo de intervenção, protocolos e
encaminhamentos.
CONCLUSÃO
Para concluir, observamos que a atuação do psicólogo no campo social, na
contemporaneidade, está no limite de possibilidades e desafios. Benelli (2012),
apresenta uma perspectiva institucional crítica e problematizadora, que abrange a
Psicologia, com seus fazeres e saberes e a política pública da Assistência Social,
enquanto campo de atuação, sempre pautado por estudos, pesquisas e reflexões,
além de se subsidiar por instrumentais teóricos relevantes. A partir disso, é importante
se adotar a concepção de modalidade psicossocial, que seria a interface entre a
Psicologia e a Assistência Social. Neste caso, uma psicologia para além da clínica,
voltada a uma perspectiva multidisciplinar e transdisciplinar, que rompa com a
psicologização da existência social.
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (Brasil, 2005) está sendo
construído por equipes multiprofissionais compostas por trabalhadores do
Serviço Social, psicólogos, pedagogos e também por diversos outros
profissionais. Essas equipes desenvolvem atendimentos e intervenções com
indivíduos e famílias considerados em “situação pessoal e social de
vulnerabilidade”, sobretudo por causa da pobreza. O objeto de trabalho
desses profissionais consiste em manejar os problemas sociais em suas
múltiplas manifestações na coletividade social. Há múltiplos componentes
psicossociais envolvidos nessa problemática, o que exige abordagens
também complexas, criativas e inovadoras. (BENELLI, 2016b, p. 24.)
Alguns operadores técnicos são muito utilizados no campo da Assistência
Social (BENELLI, 2012), fundamentados por abordagens psicossociais, como
elementos que instrumentalizam o trabalho dos profissionais, especialmente da
psicologia, a saber: a acolhida inicial, pautada na entrevista inicial e no
reconhecimento das demandas específicas do caso; o atendimento, relacionado à
prática de atender os sujeitos nos diversos espaços de escuta; o atendimento
psicossocial, especializado, permeado pela acolhida, acompanhamento e
monitoramento dos casos; o encaminhamento, quanto o profissional orienta e
direciona o sujeito a procurar serviços especializados; o trabalho em rede, a
articulação de várias instâncias visando a minimização dos problemas sociais.
Atualmente, com o cenário que se apresenta, de desmonte das políticas
públicas, especialmente na área social, podemos observar o desmantelamento de
serviços, o corte de verbas e repasses do governo, colaborando para a diminuição
das ativudades desenvolvidas nos serviços, culminando na precarização das
organizações e estabelecimentos sociais, por conseguinte, o agravamento das
situações de pobreza e extrema pobreza devido ações como o corte de benefícios
sociais, por exemplo.
Em tal contexto, a atuação dos profissionais da psicologia é de suma
importância e deve estar pautada pela postura ética, crítica e responsável, em
contrapartida, sendo colaborativa com o processo de fortalecimento e
empoderamento dos cidadãos e comprometida com a defesa de direitos e de
fortalecimento dos espaços de participação democrática, a partir de um processo
implicação e compromisso social, visando auxiliar na minimização das consequências
do processo de desmonte.
Contudo, o avanço, legitimação e estruturação das políticas públicas sociais e
o cumprimento dos dispositivos legais, garantir-se-á por meio de ações articuladas,
mantenedoras de condições objetivas para que os direitos das crianças e
adolescentes sejam verdadeiramente efetivados. O fortalecimento das instituições
sociais, bem como sua aproximação, integração e articulação com as demais políticas
de saúde e educação, apresentam-se como alternativas reguladoras e podem
impulsionar o processo de construção da cidadania e desenvolvimento social.
REFERÊNCIAS
AUGUSTO, A. Governando crianças e jovens: escola, drogas e violência. In: RESENDE, H.
(Org.) Michel Foucault: o governo da infância. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. p. 11-24.
BENELLI, S. J. Políticas públicas, instituições e práticas clínicas no campo da Assistência
Social. In: DIONÍSIO, G. H.; BENELLI, S. J. (Orgs). Políticas públicas e clínica crítica. São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. p. 63-84.
BENELLI, S. J. Entidades assistenciais socioeducativas: a trama institucional.
Petrópolis/RJ: Vozes, 2014.
BENELLI, S. J. Risco e vulnerabilidade como analisadores nas políticas públicas sociais: uma
análise crítica. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 33, n. 4, 2016a. p. 735-745
BENELLI, S. J. O atendimento socioassistencial para crianças e adolescentes: perspectivas
contemporâneas. São Paulo: UNESP Digital, 2016b. 416. ISBN: 9788568334751. (recurso
eletrônico). Disponível em: http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788568334751,o-
atendimento-socioassistencial-para-criancas-e-adolescentes.
BRASIL. Política Nacional de Assistência Social. Brasília, 2004. Disponível em,
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.p
df. Acesso em 21/12/2018.
BRIGAGÃO, J. I. M.; NASCIMENTO, V. L. V.; SPINK, P. K. As interfaces entre psicologia
e políticas públicas e a configuração de novos espaços de atuação. Revista de Estudos
Universitários, Sorocaba, v. 37, n. 1, p. 199-215, 2011.
CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
(CREPOP). Referência técnica para atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS. Conselho
Federal de Psicologia (CFP). Brasília, CFP, 2007.
DONZELOT, J. A Política das Famílias. Rio de Janeiro: Graal, 1980
FERRAZA, D. A. Psicologia e políticas públicas: desafios para superação de práticas
normativas. Polis e Psique, Porto Alegre. v. 6, n. 3, p. 36-58, 2016.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 42.
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
LOBO, L. F.; FRANCO, D. A. (orgs.) Infâncias em devir. Rio de Janeiro: Garamont, 2018
MAIA, A. Do biopoder à governamentalidade: sobre a trajetória da genealogia do poder.
Currículo sem Fronteiras, v.11, n.1, p.54-71, 2011.
MAYER. B.; LION. V. Conselho Regional de Psicologia São Paulo (CRP SP). Série
Comunicação Popular do CRP SP: A Psicologia e sua interface com os direitos das
crianças e dos adolescentes. São Paulo: IBEAC, 2012.
OLIVEIRA, I. F.; AMORIM, K. M. O. Psicologia e política social: o trato à pobreza como
sujeito psicológico. Psicologia Argumento, Curitiba, v. 30, n. 70, p. 559-566, 2012.
SALIBA, M. G. A educação como disfarce e vigilância: análise das estratégias de aplicação
de medidas sócio-educativas a jovens infratores. Tese (Doutorado em Educação), Faculdade
de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2006.
SILVA, L. B. Conselho de direitos e conselho tutelar: mecanismos de controle social e
gestão de políticas públicas para crianças e adolescentes. Dissertação de Mestrado,
Programa de Pós Graduação em Psicologia. Faculdade de Ciências e Letras de Assis,
Universidade Estadual Paulista, 2008.
Você também pode gostar
- 3 Psicologia Como ProfissãoDocumento20 páginas3 Psicologia Como ProfissãocecssalvesAinda não há avaliações
- Psicologo No SUS e LBIDocumento14 páginasPsicologo No SUS e LBIDanielly MonteiroAinda não há avaliações
- ED1 Políticas PúblicasDocumento6 páginasED1 Políticas PúblicasdanieleAinda não há avaliações
- Psicologia Social AplicadaDocumento40 páginasPsicologia Social AplicadaGessyca SantosAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 1 - Políticas Públicas-1Documento8 páginasEstudo Dirigido 1 - Políticas Públicas-1danieleAinda não há avaliações
- O Papel Da Psicologia Frente Às Políticas Públicas de SaúdeDocumento15 páginasO Papel Da Psicologia Frente Às Políticas Públicas de SaúdeIanael MoreiraAinda não há avaliações
- 3 Avaliação de Aprendizagem - Psicologia e Comunidade (8,0 Pontos)Documento4 páginas3 Avaliação de Aprendizagem - Psicologia e Comunidade (8,0 Pontos)Ianara EvangelistaAinda não há avaliações
- Os campos de atuação da Psicologia SocialDocumento31 páginasOs campos de atuação da Psicologia SocialEveline Bonini PiresAinda não há avaliações
- Atividade sobre o documentário Vida Maria - Psi ComunitáriaDocumento3 páginasAtividade sobre o documentário Vida Maria - Psi ComunitáriaFabiane Mathias Ferreira SendayAinda não há avaliações
- Atuação Do Psicólogo No SUSDocumento22 páginasAtuação Do Psicólogo No SUShonorindaa87Ainda não há avaliações
- TrabalhoDocumento15 páginasTrabalhoNicole GonçalvesAinda não há avaliações
- Qual o focoDocumento3 páginasQual o focoh.knothmais10Ainda não há avaliações
- A Atuação Do Psicólogo Na Assistência Social: Importância e DesafiosDocumento10 páginasA Atuação Do Psicólogo Na Assistência Social: Importância e Desafiospelicer.biffiAinda não há avaliações
- 3 Psicologia e Politicas Publicas - Compromisso Social Da Psicologia_6f1f3ab0667753ccb270fb10f12a6099Documento22 páginas3 Psicologia e Politicas Publicas - Compromisso Social Da Psicologia_6f1f3ab0667753ccb270fb10f12a6099MIMIR AranhaAinda não há avaliações
- Intro Psicologia ComunitáriaDocumento6 páginasIntro Psicologia ComunitáriaIngo SiegfriedAinda não há avaliações
- Psicologia Social5Documento48 páginasPsicologia Social5Ruana SantosAinda não há avaliações
- As Práticas Da Psicologia Nas Políticas Públicas de Assistência Social, Segurança Pública e Juventude.Documento15 páginasAs Práticas Da Psicologia Nas Políticas Públicas de Assistência Social, Segurança Pública e Juventude.Filipe AlencarAinda não há avaliações
- Artigo 8Documento20 páginasArtigo 8hum seiAinda não há avaliações
- Aula 4 A Função Social Da Atuação Do Psicólogo 1Documento23 páginasAula 4 A Função Social Da Atuação Do Psicólogo 1João Vitor100% (1)
- Trabalho NeusleteDocumento11 páginasTrabalho Neusletemilladrew.mgccAinda não há avaliações
- Gravina Resenha D2Documento5 páginasGravina Resenha D2Andy RamirezAinda não há avaliações
- Ribeiro & Guzzo 2014 - PPPDocumento14 páginasRibeiro & Guzzo 2014 - PPPNilciaAinda não há avaliações
- Trabalho Lorena (1)Documento9 páginasTrabalho Lorena (1)Mykaella Alves CarvalhoAinda não há avaliações
- Atuação Com Grupos em SaúdeDocumento30 páginasAtuação Com Grupos em SaúdePammella CarvalhoAinda não há avaliações
- Trabalho PCPDocumento7 páginasTrabalho PCPfdamaceno739Ainda não há avaliações
- A Psicologia Nos Contextos InstitucionaisDocumento5 páginasA Psicologia Nos Contextos InstitucionaisliriosbrancosrlAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Apresentado À Disciplina de Psicologia e Políticas PúblicasDocumento4 páginasEstudo Dirigido Apresentado À Disciplina de Psicologia e Políticas Públicasjwkfw698wnAinda não há avaliações
- Tópicos Integradores II 2022Documento18 páginasTópicos Integradores II 2022As Aventuras da Maria AlíciaAinda não há avaliações
- Epidemiologia P2Documento16 páginasEpidemiologia P2Luciana SupinoAinda não há avaliações
- Atuação Do Profissional de Psicologia No Contexto Do SUSDocumento5 páginasAtuação Do Profissional de Psicologia No Contexto Do SUSDiniz Com ZAinda não há avaliações
- (2021) XIMENES - A Psicologia No Âmbito Da Assistência SocialDocumento14 páginas(2021) XIMENES - A Psicologia No Âmbito Da Assistência SocialHellen Ninha100% (1)
- Degravação - 1 - Atuação Social Da PsicologiaDocumento3 páginasDegravação - 1 - Atuação Social Da PsicologiaNAASSOM AZEVEDOAinda não há avaliações
- Grad Trabalho DisciplinasDocumento11 páginasGrad Trabalho DisciplinasLorena BarrosAinda não há avaliações
- Desafios Da Psicologia Na ContemporaneidadeDocumento4 páginasDesafios Da Psicologia Na ContemporaneidadelorencoAinda não há avaliações
- O Compromisso Social Da Rede de Saúde em Articulação Ao Trabalho Da Psicologia Na Atenção BásicaDocumento5 páginasO Compromisso Social Da Rede de Saúde em Articulação Ao Trabalho Da Psicologia Na Atenção BásicaCamila GaiaAinda não há avaliações
- Projeto Despertar PDFDocumento7 páginasProjeto Despertar PDFCarlos Roberto Brum NogueiraAinda não há avaliações
- As Práticas Psicológicas Com Crianças e Adolescentes em PDFDocumento17 páginasAs Práticas Psicológicas Com Crianças e Adolescentes em PDFAnonymous rMYPpUA1Ainda não há avaliações
- 1 Jornada de PsicologiaDocumento7 páginas1 Jornada de PsicologiaInara Valadares da SilveiraAinda não há avaliações
- MemoDocumento1 páginaMemoDanilo DIAS BARBOSAAinda não há avaliações
- Psico Social e comunitária - aula 2Documento28 páginasPsico Social e comunitária - aula 2Caroline SalvadorAinda não há avaliações
- Intervenção e AvaliaçãoDocumento17 páginasIntervenção e AvaliaçãoNelson Simião CossaAinda não há avaliações
- O Papel Da (O) Profissional de Psicologia Nos Centros de Atenção Psicossocial No Compromisso SocialDocumento13 páginasO Papel Da (O) Profissional de Psicologia Nos Centros de Atenção Psicossocial No Compromisso Socialmaryfogolin.mfAinda não há avaliações
- ManuelaGiacomini - Relatório - FINALDocumento17 páginasManuelaGiacomini - Relatório - FINALcaps adAinda não há avaliações
- POLITICAS PÚBLICAS NA SAÚDE (Pronto)Documento17 páginasPOLITICAS PÚBLICAS NA SAÚDE (Pronto)arthurmarx11Ainda não há avaliações
- Psicologia ComunitáriaDocumento3 páginasPsicologia ComunitáriaJocelma PratesAinda não há avaliações
- Fundamentos da Psicologia SocialDocumento4 páginasFundamentos da Psicologia SocialLuiz AugustoAinda não há avaliações
- RoteiroDocumento4 páginasRoteiroJulia SouzaAinda não há avaliações
- Saude PublicaDocumento3 páginasSaude PublicaJúlia MariaAinda não há avaliações
- TCC Dia 14Documento9 páginasTCC Dia 14geiciele souzaAinda não há avaliações
- A Atuação Do Profissional de Psicologia Nas Políticas PúblicasDocumento33 páginasA Atuação Do Profissional de Psicologia Nas Políticas PúblicascaridellamoreAinda não há avaliações
- Artigo Do BlegerDocumento6 páginasArtigo Do BlegerValmor FreitasAinda não há avaliações
- Polejack - Psicologia e Políticas Pub ResenhaDocumento3 páginasPolejack - Psicologia e Políticas Pub ResenhaliviaapAinda não há avaliações
- Políticas Públicas e Direitos Humanos: Desafios À Atuação Do PsicólogoDocumento13 páginasPolíticas Públicas e Direitos Humanos: Desafios À Atuação Do PsicólogoRobertoCarvalhoAinda não há avaliações
- Concepções Da Equipe de Saúde Da Upa Sobre A Prática Da PsicologiaDocumento9 páginasConcepções Da Equipe de Saúde Da Upa Sobre A Prática Da PsicologiaElis DominguesAinda não há avaliações
- A Psicologia Frente As Politicas PublicasDocumento26 páginasA Psicologia Frente As Politicas PublicasMae Soares da SilvaAinda não há avaliações
- Projeto Psi ComunitáriaDocumento13 páginasProjeto Psi ComunitáriaglauciamagaAinda não há avaliações
- Perguntas Psicologia ComunitáriaDocumento14 páginasPerguntas Psicologia ComunitáriaInes DuarteAinda não há avaliações
- 13 A PSICOLOGIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Quais InterfacesDocumento5 páginas13 A PSICOLOGIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Quais InterfacesGessica AquinoAinda não há avaliações
- Psicologia e saúde: Formação, pesquisa e prática profissionalNo EverandPsicologia e saúde: Formação, pesquisa e prática profissionalAinda não há avaliações
- Barbosa. Leite. Infância e Patologização - Contornos Sobre A Questão Da Não AprendizagemDocumento9 páginasBarbosa. Leite. Infância e Patologização - Contornos Sobre A Questão Da Não AprendizagemJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- Diálogos em Psicologia Do TrabalhoDocumento240 páginasDiálogos em Psicologia Do TrabalhoJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- ALVES Naiara Ferraz - CULTURA POLÍTICA E PRÁTICAS RELIGIOSAS DO ARCEBISPO DA PARAÍBA DOM JOSÉ MARIA PIRESDocumento12 páginasALVES Naiara Ferraz - CULTURA POLÍTICA E PRÁTICAS RELIGIOSAS DO ARCEBISPO DA PARAÍBA DOM JOSÉ MARIA PIRESJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- ARAUJO - Monografia - MEMÓRIA E RESISTÊNCIA - HISTÓRIA DE VIDA DE INTEGRANTES LEIGOS E RELIGIOSOS NO COMBATE A DITADURACIVIL-MILITAR NA PARAÍBADocumento68 páginasARAUJO - Monografia - MEMÓRIA E RESISTÊNCIA - HISTÓRIA DE VIDA DE INTEGRANTES LEIGOS E RELIGIOSOS NO COMBATE A DITADURACIVIL-MILITAR NA PARAÍBAJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- ARAUJO, Saulo de Freitas. Uma Visão Panorâmica Da Psicologia Científica de Wilhelm WundtDocumento7 páginasARAUJO, Saulo de Freitas. Uma Visão Panorâmica Da Psicologia Científica de Wilhelm WundtJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- Avaliação Do Padrão de Sono, Atividade Física e Funções Cognitivas em Adolescentes EscolaresDocumento8 páginasAvaliação Do Padrão de Sono, Atividade Física e Funções Cognitivas em Adolescentes EscolaresJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- O Ensino Da Fisiologia Humana. Um Estudo Com Estudantes Da Fonoaudiologia Envolvendo o Tema HomeostasiaDocumento26 páginasO Ensino Da Fisiologia Humana. Um Estudo Com Estudantes Da Fonoaudiologia Envolvendo o Tema HomeostasiaJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- BNCC ApresentacaoDocumento302 páginasBNCC Apresentacaoyvesm33Ainda não há avaliações
- JARDIM. Silvia Regina Marques, Gênero e Educação - Cruzando PossibilidadesDocumento15 páginasJARDIM. Silvia Regina Marques, Gênero e Educação - Cruzando PossibilidadesJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- MIGUEL, Luis Felipe. BIROLI, Flavia. Feminismo e Política.Documento12 páginasMIGUEL, Luis Felipe. BIROLI, Flavia. Feminismo e Política.Jaqueline LeandroAinda não há avaliações
- ÁVILA, Dina Maria Vital. Escola, Gênero e Sexualidade - Olhares Que Precisam Se EncontrarDocumento19 páginasÁVILA, Dina Maria Vital. Escola, Gênero e Sexualidade - Olhares Que Precisam Se EncontrarJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- CARVALHO & SILVA. Fronteiras de Gênero e Sexualidade Na Educação InfantilDocumento26 páginasCARVALHO & SILVA. Fronteiras de Gênero e Sexualidade Na Educação InfantilJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- ANDRADE e MORATO - para Uma Dimensão Ética Da Prática Psicológica em InstituiçõesDocumento9 páginasANDRADE e MORATO - para Uma Dimensão Ética Da Prática Psicológica em InstituiçõesCamila MaiaAinda não há avaliações
- BERNARDES, Anita Guazelli - POTÊNCIAS NO CAMPO DA SAÚDE - O CUIDADO COMO EXPERIÊNCIA PDFDocumento16 páginasBERNARDES, Anita Guazelli - POTÊNCIAS NO CAMPO DA SAÚDE - O CUIDADO COMO EXPERIÊNCIA PDFJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- O Papel Do Psicólogo e A Dimensão Ético-Política Do Sofrimento e Do Cuidado em SaúdeDocumento19 páginasO Papel Do Psicólogo e A Dimensão Ético-Política Do Sofrimento e Do Cuidado em SaúdeJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- CFP - Atuação Do Psicologo Nas Políticas PúblicasDocumento31 páginasCFP - Atuação Do Psicologo Nas Políticas PúblicasJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- Resolucao CFP NX 013-2007Documento32 páginasResolucao CFP NX 013-2007viniciusos0007Ainda não há avaliações
- Dimensão Ética Do Cuidado em Saúde Mental Na Rede Pública de Serviços PDFDocumento7 páginasDimensão Ética Do Cuidado em Saúde Mental Na Rede Pública de Serviços PDFJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- Educação Especial, Psicologia e Políticas Públicas - o Diagnóstico e As Práticas PedagógicasDocumento9 páginasEducação Especial, Psicologia e Políticas Públicas - o Diagnóstico e As Práticas PedagógicasJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- Avaliação Formativa I - Revisão Da Tentativa Gab 2Documento20 páginasAvaliação Formativa I - Revisão Da Tentativa Gab 2Paula MeloAinda não há avaliações
- Cartilha Peti Perguntas-Respostas v7.pdf - pagespeed.ce.6v6WbfRhtG PDFDocumento34 páginasCartilha Peti Perguntas-Respostas v7.pdf - pagespeed.ce.6v6WbfRhtG PDFAna Paula GuimarãesAinda não há avaliações
- Produção Textual Interdisciplinar em Grupo PTGDocumento9 páginasProdução Textual Interdisciplinar em Grupo PTGsportfolios 123Ainda não há avaliações
- Gomes - Douglas - Fundamentos - SS para ConcursosDocumento19 páginasGomes - Douglas - Fundamentos - SS para ConcursosPaulo de Tarso Hebling MeiraAinda não há avaliações
- 11 - Resultado Dos Recursos Contra Gabarito - 1690712082Documento30 páginas11 - Resultado Dos Recursos Contra Gabarito - 1690712082willieheisigAinda não há avaliações
- Assistencia Estudantil e UERJDocumento21 páginasAssistencia Estudantil e UERJthamires silva de jesusAinda não há avaliações
- Prova Objetiva: Assistente Social JudiciárioDocumento20 páginasProva Objetiva: Assistente Social JudiciárioamandacardozuAinda não há avaliações
- Vade Mecum Seguridade SocialDocumento517 páginasVade Mecum Seguridade Socialdenys britoAinda não há avaliações
- 2020cfess LivroSeminarioTrans2015 Site PDFDocumento168 páginas2020cfess LivroSeminarioTrans2015 Site PDFIonaraAinda não há avaliações
- ETICA INSTRUMENTALIDADE E O TRABALHO DE ASSISTENTES SOCIAIS NAS POLITICAS SOCIAIS ZLQZPJDocumento312 páginasETICA INSTRUMENTALIDADE E O TRABALHO DE ASSISTENTES SOCIAIS NAS POLITICAS SOCIAIS ZLQZPJMônica BarrosAinda não há avaliações
- FUNDAMENTOS HISTÓRICOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL I - Avaliação Formativa Processual - Online (Vale 40% Da MAP)Documento25 páginasFUNDAMENTOS HISTÓRICOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL I - Avaliação Formativa Processual - Online (Vale 40% Da MAP)Thais Pereira De SousaAinda não há avaliações
- 09 0c9w316wu3 2024Documento16 páginas09 0c9w316wu3 2024karencarvalhodemaltaAinda não há avaliações
- NETTO, J - Assistencialismo e Regressividade Profissional 2013Documento25 páginasNETTO, J - Assistencialismo e Regressividade Profissional 2013Adilson JúniorAinda não há avaliações
- Cartilha Crefito 3Documento28 páginasCartilha Crefito 3Marco Aurélio LaraAinda não há avaliações
- Resolução #1 Estatuto 100621Documento59 páginasResolução #1 Estatuto 100621COMISSÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA JUSTIÇA ArbitralAinda não há avaliações
- Familia Guardia de Maringá PRDocumento7 páginasFamilia Guardia de Maringá PRRenato Macedo CostaAinda não há avaliações
- Planejamento Das Atividades Sócio Assistenciais Do Serviço de Convivência e Fortalecimento de VínculosDocumento38 páginasPlanejamento Das Atividades Sócio Assistenciais Do Serviço de Convivência e Fortalecimento de VínculosVandelci Matos100% (2)
- Prova objetiva OsascoDocumento12 páginasProva objetiva OsascoAmanda fariasAinda não há avaliações
- A Prática Do Assistente Social E A Importância Dos Intrumentos Tecnicos-OpertivoDocumento14 páginasA Prática Do Assistente Social E A Importância Dos Intrumentos Tecnicos-OpertivoAdriele BittencourtAinda não há avaliações
- Historia Do Servico Social ResumosDocumento8 páginasHistoria Do Servico Social ResumosMila CunhaAinda não há avaliações
- Mod 5Documento108 páginasMod 5Marília Félix FotógrafaAinda não há avaliações
- Atividade74466 020223044248Documento4 páginasAtividade74466 020223044248mizinhaAinda não há avaliações
- Panorama Socioeducativo Estados Brasileiros CNMP 2019Documento68 páginasPanorama Socioeducativo Estados Brasileiros CNMP 2019Victória BarrosAinda não há avaliações
- Servico SocialDocumento14 páginasServico Socialmanualves23100% (1)
- Cuidador Social Suas M3Documento38 páginasCuidador Social Suas M3Amanda FerreiraAinda não há avaliações
- A Visão Da Equipe Multiprofissional em Relação Ao Trabalho Da Do Assistnte Social No SPVV Capão RedondoDocumento139 páginasA Visão Da Equipe Multiprofissional em Relação Ao Trabalho Da Do Assistnte Social No SPVV Capão RedondoSilvano MirandaAinda não há avaliações
- Cadastro Da EmpresaDocumento1 páginaCadastro Da EmpresaGENICLAUDIAAinda não há avaliações
- Perícia Social: Particularidades Da Atuação Do Assistente Social Na Área Sociojurídica Deise GomesDocumento17 páginasPerícia Social: Particularidades Da Atuação Do Assistente Social Na Área Sociojurídica Deise GomesFabiorogerioverasAinda não há avaliações
- 7541 - EDITAL 001.2025 - Ensino Medio Com Formação Técnica ProfissionalDocumento39 páginas7541 - EDITAL 001.2025 - Ensino Medio Com Formação Técnica ProfissionalArthur Duarte HarunoAinda não há avaliações
- O Exercico Do Assistente Social Na Formação ProfissionalDocumento11 páginasO Exercico Do Assistente Social Na Formação ProfissionalJANAÍNA FerreiraAinda não há avaliações