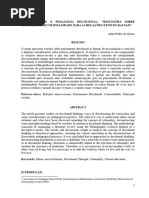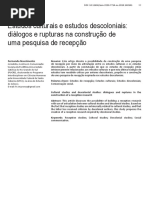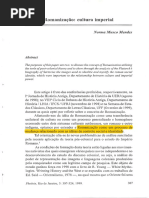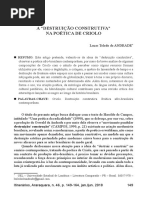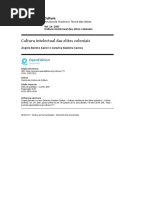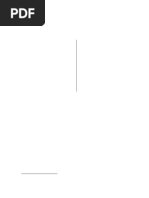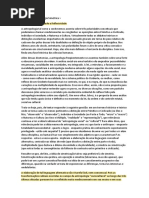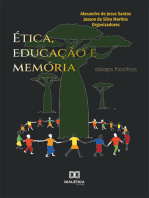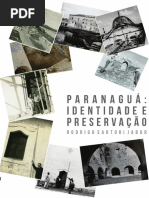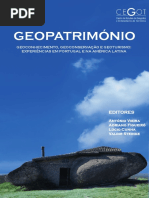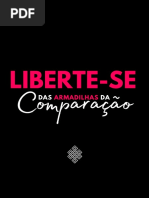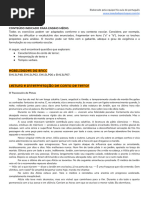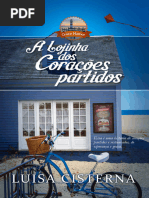Modernidade Colonialidade Patrimonio
Modernidade Colonialidade Patrimonio
Enviado por
Marcela C. BettegaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Modernidade Colonialidade Patrimonio
Modernidade Colonialidade Patrimonio
Enviado por
Marcela C. BettegaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Modernidade Colonialidade Patrimonio
Modernidade Colonialidade Patrimonio
Enviado por
Marcela C. BettegaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PATRIMÔNIOS POSSÍVEIS: MODERNIDADE E
COLONIALIDADE NO CAMPO DO PATRIMÔNIO
Luciana Christina Cruz e Souza
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
lucriscsouza@gmail.com
Resumo: Abstract:
Refletimos acerca da colonialidade no We reflect on the coloniality in the
campo do patrimônio e as heritage field and the possibilities of
possibilidades de constituição de novos new paradigms for preservation
paradigmas para as políticas de policies. As a theme for reflection, we
preservação. Consideramos, para a consider the tradition of an intellectual
reflexão, a tradição de uma predominance of certain codes and a
predominância intelectual de concentration of agents coming from
determinados códigos e uma specific areas that are shown to be
concentração de agentes provenientes responsible, or at least considered fit,
de específicas áreas que se revelam to conduct the selection and
responsáveis, ou se consideram aptos à preservation of cultural goods. This
condução da seleção de bens culturais e article invites us to think about the
das práticas de preservação desses relations of coloniality that cross the
bens. Este artigo convida a refletir field and the possibilities of new and
sobre as relações de colonialidade que other theoretical and practical
atravessam o campo e as possibilidades constructions.
de novas e outras construções teóricas
e práticas.
Palavras-chave: patrimônio; Keywords: heritage; modernity;
modernidade; colonialidade; Coloniality; legitimacy.
legitimidade.
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017.
Transversos: Revista de História
1 – Patrimônio, modernidade e colonialidade
A expressão “Patrimônios possíveis” revela a existência de dúvidas ou inexatidão
em relação ao que denominamos e trabalhamos como patrimônio. Uma expressão
que oferece diferentes, contraditórias e tensas possibilidades, atravessada por
sistemas de ideias que não se separam do debate acerca do que se convencionou
chamar de modernidade e pós-modernidade. Ou melhor, estão diretamente
associados às discussões que cercam a noção de “colonialidade”, a qual abarca, entre
outras coisas, a dimensão epistêmica do tema. O possível é sinônimo de provável, do
que talvez exista ou vá existir. Palavra que remete à possibilidade de algo se efetue, à
potência. “Patrimônios possíveis” é, portanto, a enunciação de outras formas de
teorizar, discursar, e atuar sobre o patrimônio, dando ênfase maior à teoria que se
produz no Sul-global, especialmente na América Latina, em destaque no Brasil.
Nesse âmbito das “possibilidades”, parece interessante às diferentes disciplinas
que atuam sobre o que aqui chamaremos de “campo do patrimônio” - a partir da
Teoria dos Campos de Pierre Bourdieu – a escolha por se operar com a noção de
“colonialidade” – conceito elaborado pelo peruano Anibal Quijano – na iniciativa de
se atentar para as especificidades da experiência colonial e suas ressonâncias sobre a
experiência material e subjetiva mesmo após a descolonização formal.
Toma-se de empréstimo a noção de campo trabalhada por Pierre Bourdieu
(1982) enquanto estrutura de princípios e hierarquias dentro de espaços sociais que
trazem em seu bojo dinâmicas, relações, determinadas e determinantes. A ideia de
“campo do patrimônio” revela-se como como uma classe teórica – um agrupamento
abstrato, produto de decisões teórico-metodológicas. O campo em referência
apresenta um variado leque de disciplinas acadêmicas, equipamentos culturais,
institutos públicos e privados, agentes do Estado, organismos supranacionais, entre
outros elementos que afetam e são afetados por esquemas objetivos de
funcionamento das coisas, dentro de cadeias de comportamentos, valores, códigos e
hierarquizações. Se referem, portanto, a agrupamentos reais, constituídos como tais
na realidade, cujas atividades e suas representações, organizadas pelo pesquisador,
possibilitam a configuração de uma estratégia analítica.
A escolha de Bourdieu, contudo, não está isenta ela própria de críticas a respeito
de sua colonialidade: coloca-se em cheque a matriz eurocêntrica das correntes de
pensamento modernas que acabam por reproduzir relações de poder. Por outro lado,
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 327
Transversos: Revista de História
reconhece-se aqui a importância de se pensar estruturas e dinâmicas societais para
desnaturalizar um padrão global de poder – capitalista, moderno, científico e
centrado no Norte global.
A partir da noção de colonialidade, Aníbal Quijano (2005, 2010) opera com
ideias que não refutam as estruturas estruturantes bourdieuanas, mas dialoga com as
mesmas a partir da menção a “tendências gerais de conjunto”, “poder societal” e
“autonomia relativa”. Ainda assim ele reafirma o papel das especificidades internas a
uma sociedade na relativização da autonomia, abarcando as formas coloniais de
dominação que permaneceram através das culturas coloniais.
Colonialidade é um conceito diferente de, ainda que vinculado a,
colonialismo. Este último refere-se estritamente a uma estrutura de
dominação/exploração onde o controle da autoridade política, dos recursos
de produção e do trabalho de uma população determinada domina outra de
diferente identidade e cujas sedes centrais estão, além disso, localizadas
noutra jurisdição territorial. Mas nem sempre, nem necessariamente,
implica relações racistas de poder. O colonialismo é, obviamente, mais
antigo, enquanto a colonialidade tem vindo a provar, nos últimos 500 anos,
ser mais profunda e duradoura que o colonialismo. Mas foi, sem dúvida,
engendrada dentro daquele e, mais ainda, sem ele não poderia ser imposta
na intersubjetividade do mundo tão enraizado e prolongado (QUIJANO,
2010: p.73)
O conceito compreende a existência de um padrão mundial de poder:
colonial/moderno, capitalista e eurocentrado, posteriormente estendido por Mignolo
para uma dimensão tríplice: poder, saber e ser (BALLESTRIN, 2013). Dessa extensão
formulou-se o pensamento de que a colonialidade seria o lado necessário da
modernidade, indissociavelmente constitutiva.
Abordar a questão do patrimônio sob esse prisma implica em reiterar a
necessidade/importância de tratar o sujeito da ciência enquanto objeto da ciência na
perspectiva crítica de autores provenientes do Sul global que identificam a
geocentralidade do conhecimento produzido no Norte global1. “Não há, portanto,
nada socialmente menos neutro que a relação entre o sujeito e o objeto. O importante
é saber como objetivar a relação com o objeto de maneira a que o discurso sobre o
objeto não seja uma simples projeção de uma relação inconsciente com o objeto”
1Importa destacar que tais países enquadrados no que se entende como “Norte global” são aqueles que
não estão abarcados no processo de cooperação Sul-Sul, ou seja, tratam-se de países hegemônicos no
capitalismo global, geolocalizados no hemisfério Norte, em especial os países da Europa e os Estados
Unidos, e onde se concentram os recursos intelectuais e científicos, em oposição aos países que
anteriormente eram classificados como “Terceiro Mundo” e hoje são comumente denominados como
Sul global (SANTOS, 2010).
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 328
Transversos: Revista de História
(BOURDIEU, 1983: p.88). Sendo assim, recorre-se a Bourdieu para pensar a nossa
própria sócio-análise enquanto pesquisadores do patrimônio, considerando as
influências de uma estrutura social que antecede o indivíduo e contribui na
construção de suas disposições no mundo.
Adotando a perspectiva bourdieuana de que todas as produções culturais – aqui
destaca-se a produção acadêmica como uma produção cultural, tal qual a arte, a
literatura, etc. – são objetos de análises com pretensões científicas (BOURDIEU,
2004b), é possível operacionalizar a dinâmica do campo científico pensada por Pierre
Bourdieu na análise do campo do patrimônio, considerando as diferentes disciplinas
acadêmicas que marcaram a construção discursiva sobre o patrimônio na história do
Ocidente.
Mas tal exercício nos exige um posicionamento crítico/autocrítico, a partir do
qual remetermos à autora australiana Raewyn Connell (2010) quando a mesma
chama a atenção para o expressivo desequilíbrio na produção das Ciências Sociais no
mundo inteiro: as ideias que fundamentam os trabalhos, os argumentos de
autoridade, os conceitos fundamentais, as leituras consideradas imprescindíveis para
a realização de pesquisas referem-se ao Norte global. Os programas de curso,
segundo ela, têm uma bibliografia europeia e norte-americana, o que indica uma
necessidade urgente de reorganização intelectual. Segundo ela, uma sociologia crítica
das ciências sociais para que todo mundo possa falar com autoridade epistêmica de
qualquer lugar global (HAMLIM & VANDENBERGHE, 2013).
Nesse sentido, “falar sobre o patrimônio” também nos remete a essa hegemonia
europeia mencionada por Connell. A literatura conhecida marca a origem do termo e
do tema na Europa, o que nos conduz à reflexão sobre os dispositivos ocidentais de
pensamento que atuam sobre a própria experiência de temporalidade atravessada nas
iniciativas de preservação de bens culturais. Falamos de um variado leque de agentes
institucionais do Estado em suas ramificações burocráticas (órgãos, institutos,
universidades, etc.), falamos dos organismos supranacionais, de empresas privadas e
de economia mista, enfim, de agentes que atuam no âmbito – ainda que nem sempre
com dedicação exclusiva – do patrimônio e que exercem poder sobre as dinâmicas
patrimoniais.
Essas relações em jogo parecem afirmar a agenda da modernidade, sugerindo,
ou mesmo reificando, a importância de mecanismos, instituições, normas e valores,
voltados ao desenvolvimento científico e tecnológico. O mundo, por essa perspectiva,
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 329
Transversos: Revista de História
parece ser percebido em sua experiência de modernidade, ainda voltado para o
investimento na organização racional da sociedade que lança mão do conhecimento
científico do espaço social para controlá-lo, explorá-lo, o que inclui, entre outras
coisas, o controle da natureza e a elaboração de leis. As sociedades – ou parte
predominante das sociedades conhecidas – se organizam como Estado-nação, o que
implica na manutenção e reprodução das instituições modernas de cidadania e
democracia política (QUIJANO, 2005) que (re)afirmam valores e códigos:
organizações que detêm o poder de controlar, orientar, criar ou eliminar valores,
forças, vidas, forjando contradições e paradoxos que impregnam a experiência de
tempo e espaço compartilhada por homens e mulheres nas mais diversas áreas da
prática e do saber.
Se recorremos a Edgardo Lander (2005), para refletir o tema do patrimônio a
partir do contexto histórico-cultural de formação do ambiente intelectual das
disciplinas relacionadas à Teoria Social, pensamos, portanto, numa possível relação
do tema com os pressupostos fundacionais edificantes dos conhecimentos sociais
modernos. Na visão do autor, a formação disciplinar implicou na afirmação da
superioridade dos conhecimentos da sociedade ocidental moderna (em sua
racionalidade científica) em relação ao demais conhecimentos produzidos em outros
territórios. As categorias, conceitos e perspectivas se converteram em universais para
a análise da realidade: uma construção eurocêntrica que passou a organizar a noção
de tempo e espaço tomando a si mesma como régua de análise. Para Lander, a
confiança na possibilidade de um conhecimento certo, objetivo, com base empírica,
fez desenvolver a cultura do conhecimento dos especialistas treinados na tradição
ocidental, relegando o conhecimento dos “outros” – os não-especialista – à categoria
subjetiva de “conhecimento tradicional”.
Anibal Quijano (2005), nessa mesma perspectiva de pensamento, interpreta que
as formas coloniais de dominação permaneceram através das culturas coloniais, das
estruturas do sistema-mundo capitalista moderno/colonial, mantendo-se uma
situação colonial ainda que sem uma administração formalmente colonial, através
dos planos, âmbitos e dimensões materiais e subjetivas da existência social cotidiana.
Sua leitura abarca, portanto, a existência de um padrão mundial de poder:
colonial/moderno, capitalista e centrado num Norte global, ainda presentes na nossa
existência contemporânea. Quijano compreende a perspectiva eurocêntrica, no que
diz respeito à experiência histórica latino-americana, como um espelho que distorce o
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 330
Transversos: Revista de História
que reflete: ainda que a América Latina tenha muitos traços europeus, ela é, todavia,
profundamente distinta. Nesse sentido, segundo ele, o conhecimento que não
identifica e não se identifica às particularidades reais dos problemas desse território,
acaba tendo dificuldades de construir soluções particulares a ele.
Daí que quando olhamos nosso espelho eurocêntrico, a imagem que vemos
seja necessariamente parcial e distorcida. Aqui a tragédia é que todos fomos
conduzidos, sabendo ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela imagem
como nossa e como pertencente unicamente a nós. Dessa maneira seguimos
sendo o que não somos. E como resultado não podemos nunca identificar
nossos verdadeiros problemas, muito menos resolvê-los, a não ser de uma
maneira parcial e distorcida (QUIJANO, 2005: p.118).
Considerando os diferentes campos de ação (que se cruzam ou não) que
mobilizam forças e recursos públicos e/ou privados voltados à manutenção
permanente de bens evocativos da memória e da história de grupos sociais, podemos
pensar nas lutas de representação travadas entre diferentes setores e áreas no campo
do patrimônio, o que coloca em evidência as tensões e disputas, as práticas
corporativistas, o monopólio decisório e as reservas de mercado de trabalho.
Recorrendo a alguns autores europeus comumente utilizados no campo,
traçamos uma suposta “origem” geopolítica do tema. A partir desses estudos é
possível relacionar diferentes agentes fundamentais no processo de construção
ocidental do patrimônio, tais como os Estados Nacionais e os museus. Interessa
mencionar os trabalhos de François Choay (2006) sobre a ligação entre a palavra e as
estruturas familiares, econômicas e jurídicas presentes em sociedades que a autora
denomina como “estáveis”. Para ela, a acepção do termo patrimônio articulou-se à
ideia de herança, mas sofreu expressivas alterações ao longo do tempo, exibindo
trajetórias suscetíveis às influências de Estados, museus, mídias, entre outros. A
autora recorre às mudanças culturais europeias a partir do século XV para discutir o
interesse de artistas, eruditos ou antiquários por vestígios de épocas passadas, com
destaque para estes últimos cujo ofício do inventário e da catalogação “[...]
anteciparam o trabalho dos historiadores, dos arqueólogos, dos historiadores da arte
e dos primeiros etnógrafos do século XIX” (CHOAY, 2011, p.24).
Nessa perspectiva sobre a construção semântica do termo “patrimônio” nas
sociedades ocidentais, Dominique Poulot (2009) oferece uma análise sobre a
evocação e o poder dessa palavra num tempo que ele próprio chama de “nossa atual
modernidade” (POULOT, 2009, p.9). O autor se refere à relação entre acúmulo de
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 331
Transversos: Revista de História
vestígios e o fluxo de produção contemporânea de artefatos, processo no qual se
destacam aqueles objetos ou práticas que parecem sancionar a passagem acelerada
do tempo. Sobre esse movimento, Poulot identifica esforços públicos e privados que
se articulam a desafios ideológicos, econômicos e sociais pelo reconhecimento ou
apropriação do que se procura entender como patrimônio. É daí que ele afirma que
“[...] a história do patrimônio é amplamente a história da maneira como uma
sociedade constrói seu patrimônio” (POULOT, 2009, p.12). E aqui é possível pensar
que o autor se refere a falas e práticas – de preservação – as quais, articuladas,
ajudaram e ainda ajudam a construir/reconstruir sentidos e apropriações para
determinados bens culturais sob códigos hegemônicos.
François Choay (2006) também discorre sobre a universalidade do sistema
ocidental de pensamentos e valores no que diz respeito ao patrimônio, calcada no
grande projeto filosófico e político do Iluminismo, construindo uma ideia de
universalidade no que tange aos conceitos, aos critérios, aos códigos de conduta, aos
parâmetros técnicos, entre outros. Nesse sentido é interessante pensar, por exemplo,
no amplo esforço de algumas arenas supranacionais – como a UNESCO, o ICOM e o
ICOFOM2 - que operam com o patrimônio no sentido de estabelecer uma
padronização terminológica ou de orientar ações de preservação. No caso dos
museus, observa-se o complexo trabalho de debate e construção de termos por parte
de comitês internacionais multidisciplinares, os quais dedicam-se à reflexão
exaustiva do campo museal. A operacionalização dos conceitos formulados por essas
arenas demanda conhecimento e acesso à linguagem especializada, o que acaba por
limitar os agentes envolvidos nas ações de musealização, em especial quando se trata
de iniciativas populares de preservação do patrimônio. É preciso considerar também
a predominância de determinados idiomas nesses debates – como o francês e o inglês
-, o que interfere no resultado dos trabalhos executados, considerando que as
2 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura foi criada em 1946 em
acordo de cooperação de diferentes países na ocasião da Segunda Guerra Mundial. O Conselho
Internacional de Museus (ICOM), organização internacional sem fins lucrativos, foi fundado naquele
mesmo ano por profissionais de museus oriundos de diversos países, estabelecendo relações formais
com a UNESCO em atividades de discussão, produção e divulgação de conhecimento sobre museus e
Museologia. O Comitê Internacional de Museologia (ICOFOM), por sua vez, foi criado em 1976 e desde
a sua fundação foi formado por membros de todos os continentes que se encarregam de pesquisar e
estudar as bases teóricas da Museologia enquanto disciplina científica independente. Ainda que não
seja a intenção deste artigo, interessa questionar a relação de países que as compõe, a presença de
agentes do Sul global e o poder decisório/consultivo de cada um deles frente a situações variadas,
principalmente aquelas que digam respeito ao trato de patrimônios de países vítimas de processos de
colonização.
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 332
Transversos: Revista de História
especificidades culturais que se materializam na língua desdobram-se na
estruturação do pensamento.
François Choay (2006) contribui nessa reflexão sobre a constituição da ideia de
patrimônio articulada ao pensamento científico – este enquanto régua que ainda dita
oficialmente as ações de preservação ao redor do mundo, assumindo uma perspectiva
“universal” - quando destaca, por exemplo, a Assembleia Geral da Unesco, realizada
em 1972, em que ficou definido que o critério para a patrimonialização mundial dos
bens seria o valor excepcional do ponto de vista da história da arte ou da ciência.
Segundo Choay, “[...] estava assim proclamada a universalidade do sistema ocidental
de pensamentos e valores quanto a este tema” (CHOAY, 2006, p.208). Tratava-se, na
conjuntura, da construção de uma espécie de identidade genérica – a chamada
“Humanidade” que nomeia, portanto, o “Patrimônio da Humanidade” – cujos
fundamentos seriam identificáveis por critérios especializados, todos calcados nos
fundamentos das ciências herdadas das Luzes: “[...] inscreve-se no grande projeto
filosófico e político do Iluminismo: vontade dominante de ‘democratizar’ o saber, de
torná-lo acessível a todos [...]” (CHOAY, 2006, p.89). Sendo assim, a Unesco, com
sede na Europa, deu o tom sobre a universalidade do patrimônio, reafirmando o
discurso europeu da competência: “[...] uma diligência particular, própria da cultura
europeia, é elevada a universal cultural” (CHOAY, 2011, p.44).
Ao analisar os primeiros grandes encontros supranacionais que trataram o tema
da patrimonialização, François Choay (2011) destaca que nas Conferências de Atenas,
em 1931, e de Veneza, em 1964, os países signatários eram na maior parte europeus –
exceto pelo encontro de Veneza, que contou com a participação do Peru e México.
Segundo a autora, tais arenas foram marcadas pela massiva presença de arqueólogos,
historiadores da arte, arquitetos etc., constituindo a tradição da presença/discurso de
especialistas na elaboração dos documentos supranacionais. Tais eventos-arenas
formalizaram Cartas seladas pelo discurso técnico, discurso esse que, desde então,
trata como universal os critérios, modelos e as categorias definidos pelos europeus
para o campo do patrimônio (CHOAY, 2011). Uma espécie de colonialismo técnico
que passou a conduzir o campo do patrimônio e a definir as práticas de preservação.
Nessa perspectiva é possível pensar que a referida tradição erudita contribuiu
na formação de nichos de mercado e monopólios de atuação profissional, legitimados
pelos discursos voltados à qualificação do patrimônio e pela atuação de instituições
de pesquisa, universidades e agências estatais. Se pensarmos nas atividades de
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 333
Transversos: Revista de História
conservadores e restauradores que fazem uso de laboratórios institucionais e seus
equipamentos especializados, visualizamos um quadro em que as análises
instrumentais demandam não apenas o conhecimento específico da tecnologia
operada e sua calibração, mas uma específica articulação entre as perguntas traçadas
pelo analista e o equipamento utilizado3. Ou seja, no caso da conservação e
restauração, por exemplo, a figura do especialista reforça a exclusividade da ação
sobre o bem e da sua leitura, da sua interpretação/valoração. No âmbito da
restauração, autores como Cesari Brandi (2000) e Chris Caple (2003) acabam por
reforçar a importância da atuação do profissional especializado e o caráter científico
do campo do patrimônio, contribuindo para uma lógica hierárquica de relações e
princípios que envolvem o conhecimento universitário e a atuação profissional
reconhecida (legitimada) por pares.
Dominique Poulot (2009) propõe uma discussão sobre o campo do patrimônio a
partir da figura do especialista e do mercado que legitima a existência e a atuação
deste profissional:
Ao exigir uma redefinição científica e, ao mesmo tempo, um novo estatuto
para os objetos visados, cada reivindicação de um novo registro no
patrimônio suscita também mercados especializados – o da restauração e o
do tratamento. A ideia de um reservatório de empregos e de habilidades
amplamente disponíveis em torno da temática do patrimônio, e, se for o
caso, exportáveis na área de influência de cada nação, esteve assim
particularmente presente na Europa nos últimos anos (POULOT, 2009:
pp.32-33).
O autor traça uma análise da dinâmica contemporânea europeia segundo a qual
a preservação do patrimônio serve-se dos “[...] saberes eruditos, especializados,
suscetíveis de legitimar tal intervenção, tal restauração, tal inventário, ou de
combatê-los – capazes também de acompanhar uma mobilização cívica ou
ideológica” (POULOT, 2009, p.24).
Poulot (2009) discorre sobre a história da proteção do patrimônio em seu
esforço de enaltecer o labor da ciência e os avanços da instrução pública, articulando-
se às profissões de fé e aos usos comemorativos dos bens culturais. Segundo ele, a
3 No campo profissional, a confiabilidade dos laboratórios depende das metodologias que ele utiliza e
dos resultados que ele produz. Daí a importância atribuída à relação entre o analista e o equipamento
que ele opera, uma vez que os resultados são produto das leituras estabelecidas dessa relação: trata-se
de respostas oferecidas pelo maquinário que precisam ser interpretadas à luz da linguagem técnica. As
informações obtidas dessa análise contribuem para o conhecimento do objeto analisado, agregando
dados quantitativos e qualitativos que servem como referência para as intervenções a serem realizadas
nos bens.
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 334
Transversos: Revista de História
canonização do objeto cultural patrimonializado dependeria da aceitação desse objeto
pelo grupo de especialistas capacitados para conferir-lhe legitimidade, e com efeito
coincidem amplamente com a tradição erudita. Nesse sentido, os séculos XVIII e
XIX, para o autor, foram momentos estratégicos para a elaboração de cânones,
repertórios e catálogos, e, especificamente, à instalação de museus. Daí percebe-se a
gênese da leitura erudita do patrimônio empenhada em compreender as antiguidades
nacionais enquanto desafio intelectual e político. No século XVIII, segundo Poulot, a
erudição era sinal de pertencimento a uma comunidade moral – reivindicação da
verdade e da autoridade – sendo as convenções e categorias de análise capazes de
estabelecer regras de fiabilidade e critérios de crença – atestando saberes apropriados
para validar o depósito de indícios do passado (POULOT 2009, p.83).
Sobre um dos agentes a compor o campo do patrimônio, Dominique Poulot
(2013) faz provocativas considerações acerca dos museus e sua ligação com o
eurocentrismo. O autor faz uma genealogia do desenvolvimento da instituição museu
e sua relação com o território, tratando de desafios, paradoxos e dialéticas. Para ele, a
pesquisa erudita é a finalidade das aquisições, das exposições e de toda a atividade
documental. Desde o século XIX o termo “museu” designa uma realidade
institucional strictu sensu que ilustra perspectivas de um saber universal, guiado por
uma missão de instrução pública. A autoridade do museu, segundo o autor, dependia
[e de certa forma ainda depende, se pensarmos nas práticas de conservação
executadas em reservas técnicas] de “[...] seu domínio de um saber positivo, do qual
se serve eventualmente para tomar a dianteira em relação a colecionadores
particulares ou a museus de outros países” (POULOT: 2013, p.63).
Sendo assim, autores recorrentemente referenciados no campo do patrimônio
atribuem à Europa, a partir da experiência da modernidade, o processo de concepção
sobre o patrimônio cultural e sua preservação (MARTINS, 2014) – articulado à
necessidade crescente de se preservar as cidades e seus bens culturais que diziam
respeito à memória social / coletiva (idem, 2014). Sandra Martins (2014), baseada em
F. Hardman (1988) conclui, daí, que a monumentalidade seria a expressão
característica da modernidade no que diz respeito às representações de ideologias e
culturas dominantes. Entende-se, portanto, que é reconhecendo a modernidade que é
possível mobilizar o esforço para desnaturalizá-la e desuniversalizá-la, o que implica
em considerar a modernidade como um fenômeno cultural e histórico específico do
ocidente. Somente assim se compreende possível fazer aparecer o colonialismo como
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 335
Transversos: Revista de História
dimensão constitutiva da experiência histórica, a partir da qual subordinou-se
territórios, recursos e saberes (LANDER, 2005) e que parece reverberar com
expressividade no campo do patrimônio.
Cabe citar Mário Chagas (2005) quando o autor afirma a existência de uma
relação intrínseca entre patrimônio e poder a partir da relação de propriedade
material, espiritual, econômica ou simbólica e a sua vinculação à ideia de preservação
(CHAGAS, 2005, p.207). Esta, segundo Chagas, se revela como uma prática social
utilizada na construção de narrativas universais mascaradas por discursos
pretensamente positivos, científicos e objetivos.
A noção moderna de patrimônio e suas diferentes qualificações, assim como
a moderna noção de museu (casa de memória e poder) e suas diferentes
tipologias, não têm mais de duzentos e cinquenta anos. Filhas do
Iluminismo, nascidas no século XVIII, no bojo da formação dos Estados-
Nação, elas consolidaram-se no século seguinte e atingiram com pujança o
século XX, provocando ainda hoje inúmeros debates em torno das suas
universalidades e das suas singularidades, das suas classificações como
instituições ou mentalidades de interesse global, nacional, regional ou local
(CHAGAS, 2005: p.209)
2 - Patrimônio e legitimidade
No bojo desse debate sobre modernidade e patrimônio, observa-se que o tema
vem ocupando a agenda de algumas disciplinas, mobilizando esforços nos debates
que envolvem as definições conceituais e a operacionalização do termo. São muitas as
áreas e os agentes mobilizados nessa expansão extraordinária de sentidos sobre o
patrimônio; expansão atravessada por interesses e modos de compreender que
conduzem e são conduzidos por modos de ser, fazer e ver o mundo: o termo
patrimônio evoca as disputas disciplinares e institucionais, os discursos negociados
ou suplantados que reivindicam o poder – ou até mesmo exclusividade – de definir e
decidir sobre nomeação de bens culturais como patrimônio de coletividades.
Como escolher, portanto, o que “merece” ser patrimonializado e,
consequentemente, preservado? Quem é “capaz” de definir o que merece ser legado
às próximas gerações? Seria possível escolher, selecionar um bem para nomeá-lo
como patrimônio sem que o processo de institucionalização passe pelo crivo do
agente especialista? Esse processo institucional depende exclusivamente da
existência da figura desse especialista?
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 336
Transversos: Revista de História
Não se pergunta ou analisa, aqui, os conhecimentos exigidos ou considerados
relevantes para o técnico do patrimônio, nem mesmo a consciência que este técnico
teria sobre sua ação ou sobre os efeitos dela. O objetivo não é responder a tais
perguntas [por considerar que não há respostas definitivas, estanques, para elas],
mas refletir sobre a importância de fazê-las, sobre a necessidade de pensar dinâmicas
que definem o que é patrimônio e como o mesmo deve ser tratado.
Aqui, revela-se interessante citar uma anedota australiana comentada por
Dominique Poulot (2013) a respeito de aborígenes que, em posse de fundos para
construir um museu para lidar com seu acervo material de objetos sagrados
edificaram, ao contrário, um depósito hermeticamente fechado para a surpresa de
especialistas. Segundo Poulot, essa anedota revelaria os “[...] receios diante da
reivindicação dos usos tradicionais – ou tradicionalistas – de artefatos conservados e
expostos, outrora, segundo a lógica museal clássica. Diversos episódios semelhantes,
segundo parece, remetem a uma situação pré-museal em que objetos confiados ‘de
novo’ a suas comunidades ‘de origem’ acabam por desaparecer para os ‘estrangeiros’”
(POULOT, 2013, p.116). Tal anedota serve para ilustrar, contudo, uma espécie de
cultura de “legitimação da posse” de bens culturais de diferentes territórios do
planeta por parte de sociedades europeias, fundamentada no conhecimento
especializado para lidar com bens culturais no sentido de garantir que suas condições
materiais perdurem ao longo do tempo. No caso da França é possível até pensar na
gênese desse sentimento de legitimidade sobre a apropriação de bens de outras
culturas e o papel dos museus na manutenção dessa lógica de propriedade. Segundo
Poulot, a construção dos primeiros museus franceses se baseou no confisco do clero e
dos nobres que haviam emigrado durante a Revolução. Eles nasceram, portanto, de
uma relação com o Estado e, sob a Revolução, se consolidaram pela afirmação dos
direitos humanos articulada à reivindicação aos acessos às obras de arte “[...] como se
tratasse de um direito legítimo ao qual a República deve satisfazer de maneira eficaz e
equitativa, em nome de uma fruição” (POULOT, 2013: p.85).
A partir da fala de Dominique Poulot sobre a construção do patrimônio na
França identifica-se na Revolução Francesa a consolidação do termo patrimônio
associado às instituições de leis com intento de proteção daquilo que simbolizaria o
passado. Tomando como referência essa ideia, é possível perceber muitas
semelhanças com a construção do patrimônio no Brasil: ligado ao atributo da
soberania e à constituição de um Estado-Nacional moderno. Para isso o campo
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 337
Transversos: Revista de História
serviu-se de saberes eruditos, especializados, suscetíveis de legitimar ações sobre
bens culturais numa tentativa de reorganização racional das manifestações humanas
num projeto de civilidade. Nessa perspectiva, a literatura conhecida comumente
reconhece o embrião das políticas de preservação brasileiras no Movimento
Modernista das décadas de 1920 e 1930, tendo a construção de uma noção de
patrimônio ligada à modernidade em termos globais e locais.
Se Dominique Poulot chama atenção para as condutas, as estratégias e a cultura
pública que se desenvolvem no seio do museu (em seu vínculo com associações
eruditas e com outros poderes, como o do Estado) a partir das relações com objetos
específicos que representam experiências do mundo e se revelam instrumentos de
conhecimento e atividade social “de valor”, podemos concluir que essa prática de
“legitimação da propriedade” desenvolvida no espaço do museu, de certa forma,
revela-se como legitimadora da cultura europeia (enquanto aquela com os requisitos
“necessários” para falar e atuar sobre bens culturais que denomina como
patrimônio). Ou seja, uma cultura que legitimamente tem condições de expor ao
mundo os objetos e falar sobre o mundo, operando ferramentas e dispositivos que ela
própria considera adequados a essa comunicação, utilizando-se exclusivamente como
régua para sua própria auto-referência.
Falamos aqui, portanto, de agentes de um campo cuja dinâmica é operada por
instrumentos jurídicos, documentos burocráticos, alocação de recursos e execução de
uma série de outras atividades que orientam ações diretas e indiretas sobre bens
culturais, o que pode vir a influenciar leituras e interpretações sobre o mundo. Sendo
assim, consideramos a importância do conjunto de agentes que operam no campo do
patrimônio e suas condições de atuação dentro de lógicas de institucionalidade.
Na perspectiva da pesquisadora Sônia Aparecida Nogueira (2013), a própria
vinculação da ideia de patrimônio a um estatuto jurídico revela-se como produto de
uma cultura ocidental moderna, fruto do enfrentamento da sociabilidade burguesa
perante o passado e a memória social. Nesse sentido, os instrumentos de
proteção/salvaguarda do patrimônio configuram-se como parte importante do
processo de (co)existir no mundo em contraposição às demais “culturas do mundo”,
dentro das relações sociais de produção. Ou seja, partindo da escolha – oficial – sobre
o bem cultural a ser nomeado como patrimônio – patrimonializado -, suscita-se a
mobilização dos referidos instrumentos jurídicos e burocráticos, os quais incidem
sobre determinadas atividades privadas e públicas no sentido de garantir a
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 338
Transversos: Revista de História
continuidade do patrimônio no tempo. O trabalho especializado parece, então,
adquirir especial importância: as demandas, os limites e os interesses forjados nas
suas atividades cotidianas, até mesmo as burocráticas, acabam exercendo influência
direta e indireta nos sentidos atribuídos aos bens.
No Brasil, a transposição dessa relação institucionalizada com bens culturais
pela via da patrimonialização teve, assim como a França4, especial protagonismo do
Estado. Os bens instituídos como patrimônio resultaram de decisões oficializadas
pelo corpo burocrático do Estado em diferentes períodos a partir do século XIX. Os
museus brasileiros tiveram papel preponderante nesse sentido, abrigando artefatos
no intuito de torná-los referências para uma ideia de cultura (CHUVA, 2009). Márcio
Rangel (2010) e Regina Abreu (2007) também ressaltam a contribuição dessas
instituições para a formação de campos de conhecimento que se dedicaram ao trato e
à pesquisa sobre o patrimônio. Nessa perspectiva, destaca-se, no Brasil, a atuação do
Museu Nacional (1818), o Museu Paraense Emílio Goeldi (criado em 1871) e o Museu
Paulista (inaugurado em 1895), os quais, para Abreu, contribuíram para a formação
da Antropologia no Brasil; e destaca-se também o Museu Histórico Nacional (MHN -
criado em 1922) que, de acordo com Rangel, foi responsável pela institucionalização
da Museologia no Brasil. Importa mencionar a importância do MHN para a história
da ação estatal sobre o patrimônio: a instituição abrigou a Inspetoria de Monumentos
Nacionais, instalada pelo Decreto n° 24.735 de 14 de julho de 1934, que se revelou
como a primeira agência do Estado, em nível federal, a tratar das questões
relacionadas ao patrimônio anterior ao primeiro instituto dedicado ao tema – o
SPHAN5, criado em 1937. Ainda de acordo com Rangel, a Inspetoria teve como
principal objetivo impedir que fossem expatriados objetos históricos a partir do
comércio de antiguidades, além de proteger edificações monumentais suscetíveis às
reformas urbanas executadas num contexto de modernização das cidades.
Rangel (2010) ainda ressalta a importância de se considerar a instalação da
primeira entidade administrativa nacional voltada ao trato do patrimônio – a
Inspetoria – num espaço onde funcionava o Curso de Museus. O MHN, através deste
4 Importa ressaltar a contraposição que Choay (2006) faz da prática francesa com a prática inglesa: a
primeira com foco nas responsabilidades do Estado e a segunda articulada às responsabilidades e
iniciativas individuais e privadas. Márcia Chuva (2009), por sua vez, destaca a legislação francesa
como inspiradora de projetos de lei brasileiros que antecederam o Decreto-lei n°25, os quais tiveram
como referência o Estado enquanto figura responsável pela tutela do patrimônio cultural nacional.
5 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o qual tornou-se posteriormente Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 339
Transversos: Revista de História
curso, se tornou responsável pela formação de profissionais que viriam a atuar em
organismos internacionais – tais como o ICOM e o ICOFOM – e nos principais
museus públicos brasileiros. Estes últimos, de acordo com o autor, foram
mencionados no anteprojeto de lei elaborado por Mário de Andrade em 1936 – o qual
se desdobrou posteriormente no decreto-lei n° 25 instituído em 30 de novembro de
1937 – sendo articulados aos quatro livros de tombo referentes à proteção do
patrimônio brasileiro: o Livro Arqueológico e Etnográfico, o Livro Histórico, o Livro
de Belas Artes, o Livro de Artes Aplicadas e o Livro de Tecnologia Industrial.
Aparentemente esses processos estiveram historicamente relacionados com os
intelectuais no Brasil, no campo do patrimônio, cujas escolhas e decisões revelaram-
se cruciais na orientação das ações de preservação: “Os intelectuais que estão direta
ou indiretamente envolvidos em uma política de preservação nacional fazem o papel
de mediadores simbólicos, já que atuam no sentido de fazer ver como universais, em
termos estéticos, e nacionais, em termos políticos, valores relativos, atribuídos a
partir de uma perspectiva e de um lugar no espaço social” (FONSECA: 2009, p.22).
Pensar o Patrimônio no Brasil significa olhar e compreender os interesses de
Estado e de uma parte dos profissionais que estão assentados nas burocracias
estatais. Márcia Chuva (2012) oferece uma leitura sobre o campo político do
patrimônio a partir da História, e relembra, igualmente, o monopólio dos intelectuais
sobre a interpretação dos fatos e da realidade no campo do patrimônio no Brasil dos
anos de 1930. Segundo a autora, tal papel fora desempenhado pelos modernistas –
desde os anos de 1920 – com sua hegemonia sobre as publicações e sobre o espaço
intelectual, e a partir daí novas disciplinas e novos nichos de atuação foram tornando
o campo do patrimônio cada vez mais plural, abarcando um amplo universo de
agentes, bens e práticas. Não se tratava de um intelectual ou um burocrata qualquer;
eles eram reconhecidos e, em geral, eram profissionais presentes no próprio aparelho
público e falavam através de instituições sociais legítimas. Estabeleciam um modelo
relacional e interdependente entre intelectuais e o Estado na produção de discursos
legítimos para explicar e orientar ações e definições materiais e simbólicas
fundamentais para segmentos da sociedade. Por outro lado, essa pluralidade não
garantiu de fato uma polifonia e polissemia, mas de forma contraditória foi
evidenciando disputas de diversas áreas pelo predomínio das interpretações do
campo, constituindo reservas de mercado de trabalho, práticas corporativistas e
isolacionismos.
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 340
Transversos: Revista de História
Na discussão sobre a temática patrimonial, Márcia Chuva (2013) destaca a
importância de se pensar a articulação entre a expansão da noção de patrimônio
(assim como o exercício) e as práticas de preservação. Para a autora, a reflexão sobre
os processos de escolha dos bens a serem preservados e os atores com legitimidade de
escolher e atribuir valor a esses objetos colocam em jogo os saberes e as práticas.
Segundo ela, é preciso realizar um exercício de historicização radical e profunda
capaz de reconstituir os jogos de força e as lutas por classificações como um caminho
possível para que se instaure uma nova prática preservacionista: uma prática mais
plural, polifônica.
Pensemos em uma mostra de objetos tombados num museu. A operação comum
de exibição das peças cumpre regras e princípios museográficos que ajudam na
construção e validação da importância dos bens ali exibidos. É possível interpretar
que a própria seleção das peças a serem expostas, a priori, se fundamentaria, sob o
aspecto do julgamento, da seleção, nos esquemas bourdieuanos de reprodução. Por
esse viés, é possível pensar que um curador, ao selecionar os bens os quais necessita
para compor uma mostra, conta não apenas com a expertise de um conjunto de
especialistas – tais como o museólogo, o conservador, o restaurador – para reafirmar
a importância das peças por ele selecionadas, mas também para reconhecer seu poder
de julgamento. Tal movimento confirma, por outro lado, a legitimidade das posições
do museólogo, do conservador, do historiador, restaurador etc., nessa cadeia de
relações. O museu, por fim, faz-se valer dessa mesma lógica para validar sua coleção e
reafirmar a importância dos julgamentos tomados sobre a coleção constituída,
fechando uma espécie de sistema circular de reconhecimento mútuo, de
complementaridade e retroalimentação: a reprodução. No caso das
patrimonializações, as decisões tomadas por historiadores, arquitetos, arqueólogos,
geógrafos, entre outros especialistas, na formalização de dossiês de tombamento e
registro, respaldam-se umas às outras, confirmando esse semelhante círculo de
reconhecimento e manutenção das posições ocupadas.
Nessa perspectiva, a reflexão sobre a escolha, o julgamento, que ressignifica
bens e lhes atribui estatuto diferenciado, nos permite pensar que o trabalho do
curador se articula ao ofício do museólogo, do conservador, do restaurador, do
historiador, do arquiteto, entre outros, cujas operações voltam-se à manutenção de
esquemas compartilhados de ação, de expressão, de concepção, de imaginação e de
percepção. As atividades desses sujeitos, profissionais do campo, não servem apenas
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 341
Transversos: Revista de História
ao público, mas ao conjunto de especialistas que são também concorrentes, em uma
busca constante por legitimação cultural que lhes permite acreditar na competência,
por exemplo, de elaborar narrativas que criam representações sobre comunidades e
etnias.
Nesse sentido, importa lembrar as relações que esses agentes e os sistemas
classificatórios e hierarquizadores estabelecem com outras instâncias de legitimação,
tais como as universidades e as agências de fomento, sem as quais, de acordo com
Pierre Bourdieu (1982), não é possível compreender inteiramente o funcionamento
do campo de produção e circulação de bens culturais. O julgamento dos agentes sobre
os bens, portanto, parece (re)afirmar um sistema de legitimação de valores e relações
advindos de racionalidades técnico-científicas.
Maria Cecília Londres Fonseca (2009) recorre ao conceito de “poder simbólico”
trabalhado por Bourdieu enquanto referência para pensar o poder dos agentes do
patrimônio e sua capacidade de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar
a visão de mundo e de ação sobre o mundo. Segundo Fonseca, tais agentes teriam,
através das palavras e seu respectivo suporte jurídico, a legitimidade, o poder de
manter a ordem ou a subverter, sustentando-se na crença da legitimidade das
palavras e daquele que as pronuncia. A palavra e aquele que fala são ou possuem
poder e capacidade de organizar. Entende-se, portanto, a importância assumida pela
figura do especialista, cujo arcabouço intelectual, subsidiado pelo discurso, faz
parecer universal o patrimônio, em uma espécie de movimentação para a
manutenção da ordem erudita hegemônica. Nesse sentido, a neutralização das
disputas de sentidos ganha legitimidade exatamente pela ideia de “competência” que
sustenta a (atu)ação desse sujeito especializado que se coloca como agente “capaz” de
tratar de bens culturais.
Contudo, é preciso considerar que as escolhas e decisões sobre a
patrimonialização também são atravessadas por valores religiosos, por
posicionamentos político-partidários, por papéis e definições de gênero, entre outros.
Nesse sentido, a efetiva decisão sobre a nomeação e a preservação de determinados
bens em detrimento de outros envolve, também, sujeitos que projetam interesses e
demandas – de cunho privado e até mesmo subjetivo – que nem sempre passam pelo
crivo do especialista. Ou seja, outras questões podem conduzir a decisão de agentes
sobre a preservação, por exemplo, de uma determinada celebração ou um templo em
detrimento de outras manifestações e lugares relacionados a diferentes matrizes de
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 342
Transversos: Revista de História
pensamento. Daí pensamos o campo do patrimônio, suas estruturas estruturantes e
estruturadas, o papel dos seus técnicos-especialistas que, por meio do poder de falar e
ser ouvido, distinguem-se de outros agentes que não pertencem ao campo, que não
utilizam as mesmas palavras, os mesmos instrumentos, a mesma linguagem
especializada. Essa realidade, aparentemente, se produz e reproduz as relações de
colonialidade.
Se considerarmos, portanto, as questões que atravessam as disposições dos
agentes do campo do patrimônio, como a ordenação do tempo – linear ou aspiral,
evolutiva ou não – e a própria ideia de passado, presente e futuro, o mundo social
parece apreendido a partir de determinadas estruturas mentais, as quais vão afetar
direta ou indiretamente o trato com os bens culturais. O juízo, portanto, revela-se
previamente condicionado às estruturas subjacentes aos indivíduos. Nesse sentido, é
possível pensar que os juízos são atravessados por questões como a ordenação do
tempo, as representações do passado, presente e futuro, forjados aparentemente
numa dinâmica geopolítica do saber e do poder. Sendo assim, cabe perguntar: é
possível às agências do patrimônio transcender as relações de colonialidade?
3 – Patrimônios possíveis – ou considerações finais
Pensando nessa tradição do discurso competente, do monopólio da figura do
especialista que possui condições, ou legitimidade, para avaliar e atuar sobre os bens
culturais, os autores acima mencionados nos oferecem subsídios para refletir sobre a
construção do campo do patrimônio e a hegemonia de critérios e valores centrada no
Norte global.
Mas importa pensar que os julgamentos feitos por agentes considerados
competentes para dizer e atuar sobre a esfera do patrimônio não concluem a disputa
de sentidos sobre os bens: em diferentes arenas, outros agentes, outros sujeitos,
podem desviar seus papéis, deslocar sentidos em suas práticas rotineiras e
administrativas, construindo novos lugares enunciativos sobre o patrimônio. A
prática carregaria, então, a potência da mudança, ainda que atravessada pelas
relações de colonialidade – esta, todavia, oferece outras condições que igualmente
podem se materializar como desvios: destacam-se, no Brasil por exemplo, os museus
comunitários, as redes de museologia social, os pontos de memória, entre outras
iniciativas que procuram estabelecer diálogos e outras tantas articulações possíveis
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 343
Transversos: Revista de História
entre o popular e o erudito, descontruindo fronteiras da linguagem e da
ação/concepção patrimonial numa tentativa de intensificar – em alguns casos até
mesmo radicalizar – a democracia. Também é preciso lembrar dos conselhos de
políticas culturais, os conselhos de patrimônio e outras variantes dessa arena nas
esferas municipais, estaduais e na esfera federal, as quais, em tese, possibilitariam a
ampliação da participação social na configuração de políticas públicas de patrimônio
(SOUZA & MORAES, 2014).
Nesse sentido, parece necessário enfatizar trabalhos e pesquisas que se
debruçam sobre esse tema na expectativa de pensar novas possibilidades para o trato
dos bens culturais. Pesquisas essas que provoquem inquietações acerca dos
paradigmas com os quais sustentamos nossas práticas e teorias acerca do patrimônio.
Que considerem, até mesmo, refletir sobre a apropriação desse termo e sua
instrumentalização na manutenção de sistemas hegemônicos de códigos e valores.
Nessa perspectiva, cabe lembrar a disposição de Márcia Chuva (2012) em
discutir a possibilidade de constituição de novos paradigmas para a preservação do
patrimônio cultural. A autora nos provoca a historicizar os valores atribuídos aos
bens culturais, considerando-os como produção humana, em vez de tratá-los como
algo intrínseco aos bens ou permanentes no tempo e espaço. Dessa forma, ela destaca
a importância de se pensar que os sentidos e significados atribuídos são contextuais,
e se referem a paradigmas de áreas de conhecimento, a noções e categorias operadas
e legitimadas por grupos que se revelam responsáveis, ou se consideram aptos, à
seleção e à preservação de bens culturais.
No âmbito dos museus, Márcia Chuva destaca a necessidade de se levar essa
reflexão para os processos de composição de acervos diante do excesso de memórias
em busca de reconhecimento. Para ela, a inclusão infinita de bens culturais na
categoria de patrimônio cultural parece configurar-se como uma espécie de estratégia
para lidar com a exclusão de vozes que falam sobre o patrimônio, estratégia essa que
é incapaz de resolver os históricos problemas de marginalização, os preconceitos, os
silenciamentos e apagamentos de memória (CHUVA, 2013).
Letícia Julião (2015), por outro lado, destaca a necessidade de se colocar em
pauta uma perspectiva crítica à descolonização nas pesquisas que se referem ao
campo do patrimônio, em especial aos museus e coleções. Segundo ela, é preciso
questionar as dinâmicas estabelecidas para superar a narrativa hegemônica que
identifica a Europa como detentora exclusiva da origem da ideia e das práticas
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 344
Transversos: Revista de História
museais. Isso implicaria em “[...] reconhecer a ocorrência em culturas não europeias
de práticas que delineiam expressões de preservação do patrimônio diferenciadas das
formas convencionais consagradas pelo mundo ocidental” (JULIÃO, 2015: p.9). Para
ela, os museus revelam-se como uma grande potência de transformação, uma vez que
sua autoridade de fala poderia ser instrumentalizada para a construção de novas
narrativas e outras práticas capazes de superar as invisibilidades de comunidades e
de seus sistemas de conhecimento.
Tais reflexões oferecem subsídios para discutirmos, entre outras coisas,
questões referentes à repatriação de objetos, algo que tem ocupado cada vez mais a
agenda de museus europeus. Muitos deles, importa destacar, foram criados para
evitar a dispersão de objetos e para abrigar e conservar coleções de bens apropriados
de outros territórios, orientando-se pelo princípio da inalienabilidade – este
fundamentado na ideia de legitimidade da posse, da conservação e da comunicação
ao público. Nesse sentido, os museus acabam por representar a hegemonia dos
sistemas europeus de preservação em relação a outras culturas que reivindicam a
devolução de seus bens culturais.
Trata-se, portanto, de um jogo político, o jogo da preservação, que evoca a
necessidade de novas e outras perspectivas sobre o patrimônio, partindo de ações
críticas sobre teorias e práticas, sobre instituições e modelos que exercem influência
direta na atuação de profissionais dedicados ao trato dos bens culturais, em especial
os especialistas que formam o corpo técnico de museus e de institutos de preservação
nos mais variados continentes. São urgentes as provocações teóricas que possam
repensar as dinâmicas do campo, os princípios e suas hierarquias que orientam ações
de preservação; teorias que deem conta das singularidades territoriais e suas
múltiplas linguagens, que dialoguem com grupos comumente marginalizados no
debate: teorias do Sul global
Precisamos compreender experiências e memórias a partir de outras
perspectivas, desconstruindo o tradicional fluxo de forças, desnudando as relações de
colonialidade e, quem sabe, abrindo espaço para outras epistemes.
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 345
Transversos: Revista de História
Referências Bibliográficas
ABREU, Regina. “Museus, patrimônios e diferenças culturais.” In: ABREU, Regina;
CHAGAS, Mário S. & SANTOS, Myrian S. Museus, Coleções e Patrimônios:
narrativas polifônicas. Rio de Janeiro: Garamond, MinC/IPHAN/DEMU, 2007.
BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o Giro Decolonial. Brasília: Revista
Brasileira de Ciência Política, nº11, pp. 89-117, maio/ago. 2013.
BOURDIEU, Pierre. “O mercado de bens simbólicos.” In: ______. A Economia das
trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1982, p. 79-181.
_______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
_______. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
_______. Razões Práticas – sobre a teoria da ação. Campinas, São Paulo: Papirus,
1996.
_______. Coisas Ditas. São Paulo: Brasiliense, 2004.
_______. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico.
São Paulo: Editora UNESP, 2004.
_______. A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 2007.
BRANDI, Cesare. Teoria de la restauración. Madri: Alianza Ed., 2000.
CAPLE, Chris. Conservation Skills - judgement, method and decision making.
London: Routledge, 2003.
CHOAY, François. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: UNESP, 2006.
CHUVA, Márcia. “Para descolonizar museus e patrimônio: refletindo sobre a
preservação cultural no Brasil.” In: MAGALHÃES, Aline Montenegro; BEZERRA,
Rafael Zamorano (Org.). 90 anos do Museu Histórico Nacional: em debate. Rio de
Janeiro: 1 ed., Museu Histórico Nacional, v. 1, p. 195-208, 2013.
_______ . Por uma história da noção de patrimônio cultural no Brasil. Revista do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, v. 34, p. 147-166, 2012.
_______. Os arquitetos da memória - Sociogênese das práticas de preservação do
patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: Universidade Federal
do Rio de Janeiro, 2009.
CONNELL, Raewyn. A iminente revolução na teoria social. São Paulo: Rev. bras. Ci.
Soc., v. 27, n. 80, p. 09-20, out. 2012.
FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em processo – trajetória da política
federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2009.
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 346
Transversos: Revista de História
GUARNIERI, Waldisa Russio Camargo apud CURY, Marilia Xavier. Comunicação
Museológica: Uma Perspectiva Teórica e Metodológica de Recepção. Tese
apresentada à Área de Concentração: Comunicação da Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo para obtenção do Título de Doutora em Ciências
da Comunicação. São Paulo, 2005.
HARDMAN, F. O Trem Fantasma - A modernidade na Selva. São Paulo: Editora Cia.
das Letras, 1988.
HAMLIN, Cynthia; VANDENBERGHE, Frédéric. Vozes do Sul: entrevista com
Raewyn Connell. Campinas: Cad. Pagu, n. 40, p. 345-358, jun. 2013.
JULIÃO, Letícia. Museu, Patrimônio e História: cruzamentos disciplinares. João
Pessoa: XVI Enancib - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação,
Anais do XVI Enancib, v. 1. p. 1-15, 2015.
LANDER, Edgardo. “Ciências Sociais: saberes coloniais e eurocêntricos.” In:
LANDER, Edgardo (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
Perspectivas latino americanas. Buenos Aires: Colección Sur Sur, CLACSO, set. 2005.
MARTINS, Sandra. A experiência da modernidade e o patrimônio cultural. REIA-
Revista de Estudos e Investigações Antropológicas, ano 1, volume 1, p.7-29, 2014.
NOGUEIRA, Sônia Aparecida. A preservação dos bens culturais no contexto do
capitalismo tardio. Niterói: Revista Conhecimento e Diversidade, n. 9, p.107-117,
jan/jun. 2013.
POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no Ocidente. São Paulo: Estação
Liberdade, 2006.
POULOT, Dominique. Museu e Museologia. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
RANGEL, Márcio F. “Políticas públicas e museus no Brasil.” In: Marcus Granato,
Cláudia Penha dos Santos e Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro. (Org.).
MAST Colloquia - O Caráter Político dos Museus. Rio de Janeiro: MCT, MAST, v. 12,
p. 119-135, 2010.
QUIJANO, Aníbal. “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.” In:
LANDER, Edgardo (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
Perspectivas latino americanas. Buenos Aires: Colección Sur Sur, CLACSO, set. 2005.
_______. “Colonialidade do poder e classificação social.” In: Boaventura de Sousa
Santos; Maria Paula Meneses (Org.). Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez, p. 73-
119, 2010.
SOUZA, Luciana; MORAES, N. A. A preservação do patrimônio em Minas Gerais: a
Lei Robin Hood e os conselhos municipais de patrimônio. Revista Sociais e Humanas,
v. 27, p. 128-144, 2014.
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 347
Transversos: Revista de História
***
Luciana Christina Cruz e Souza: Graduada em História pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2004. Mestre e doutoranda pela Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) no Programa de Pós Graduação em
Museologia e Patrimônio Unirio-Mast (PPG-PMUS/Mast). Trabalhou como
consultora em municípios do Estado de Minas Gerais para a preservação de
patrimônios culturais através do ICMS, coordenou as equipes de museologia nos
processos de montagem e desmontagem de exposições no Museu de Arte do Rio
(MAR) e atuou como consultora/dinamizadora em municípios do Estado do Rio de
Janeiro na implementação dos Sistemas Municipais de Cultura.
***
Artigo recebido para publicação em: fevereiro de 2017.
Artigo aprovado para publicação em: abril de 2017.
***
Como Citar:
SOUZA, Luciana Christina Cruz e. Patrimônios possíveis: modernidade e
colonialidade no campo do patrimônio. Revista Transversos.
“Dossiê: Vulnerabilidades: pluralidade e cidadania cultural”. Rio de
Janeiro, nº. 09, pp. 326-348, ano 04. abr. 2017. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/ transversos>. ISSN 2179-7528. DOI: 10.12957/
transversos.2017.27530.
Transversos: Revista de História. Rio de Janeiro, n. 09, abr. 2017 348
Você também pode gostar
- O Livro Azul - MAIO 2021 CORRIGIDODocumento34 páginasO Livro Azul - MAIO 2021 CORRIGIDOLuciane Knapick100% (6)
- Eletrofisiologia ClinicaDocumento26 páginasEletrofisiologia ClinicaPaula Monteiro100% (2)
- Perdidos No DesertoDocumento2 páginasPerdidos No DesertoolavojuniorrjAinda não há avaliações
- Antropologia, Estudos Culturais e Educação - FichamentoDocumento9 páginasAntropologia, Estudos Culturais e Educação - FichamentoCristinaAinda não há avaliações
- Plano de Estudo ExercitoDocumento9 páginasPlano de Estudo ExercitoAlmir AgostinhoAinda não há avaliações
- ProvaDocumento15 páginasProvaplacidonetoAinda não há avaliações
- Pensamento Decolonial - ProgramaDocumento8 páginasPensamento Decolonial - ProgramaMatheus Ávila0% (1)
- Introdução Livro On Decoloniality Concepts Analytics Praxis - Mignolo - WalshDocumento13 páginasIntrodução Livro On Decoloniality Concepts Analytics Praxis - Mignolo - WalshAline SAinda não há avaliações
- Mignolo e Walsh Decolonialidade Traduçao Do LivroDocumento7 páginasMignolo e Walsh Decolonialidade Traduçao Do Livromatsimone100% (1)
- Sobre Saberes DecoloniaisDocumento10 páginasSobre Saberes DecoloniaisEduardo Rodrigo Almeida AmorimAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre DecolonialidadeDocumento7 páginasEnsaio Sobre Decolonialidaderenato140184Ainda não há avaliações
- O Pensamento Decolonial - Conceitor para Pensar Uma Prática de Pequisa de Resistência - Oliveira e LuciniDocumento19 páginasO Pensamento Decolonial - Conceitor para Pensar Uma Prática de Pequisa de Resistência - Oliveira e LuciniLuis GustavoAinda não há avaliações
- Por Uma Razão Decolonial PDFDocumento15 páginasPor Uma Razão Decolonial PDFMaria Lúcia Cunha100% (1)
- A Produção Da Subalternidade Sob A Ótica Pós-Colonial (E Decolonial) - Algumas LeiturasDocumento28 páginasA Produção Da Subalternidade Sob A Ótica Pós-Colonial (E Decolonial) - Algumas LeiturasLourdes GodoiAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento16 páginasArquivoLemos ManuelAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento20 páginas1 PBLuan MatheusAinda não há avaliações
- Decolonialidade RBA PDFDocumento12 páginasDecolonialidade RBA PDFEdnei FelipeAinda não há avaliações
- Educação e Estudos Pos ColoniaisDocumento14 páginasEducação e Estudos Pos ColoniaisdeniAinda não há avaliações
- Hegemonia de Uma Forma de Pensar Fundamentada No Grego e No Latim e NasDocumento11 páginasHegemonia de Uma Forma de Pensar Fundamentada No Grego e No Latim e NasCalebe RoschildAinda não há avaliações
- Fichamento MIGNOLO Historias Locais Projetos GlobaisDocumento12 páginasFichamento MIGNOLO Historias Locais Projetos GlobaisVanessa Simões100% (1)
- Pedagogia Decolonial e Educacao Anti-Racista No Brasil-LibreDocumento23 páginasPedagogia Decolonial e Educacao Anti-Racista No Brasil-LibreMax WilliamAinda não há avaliações
- Como Se Escreve Decolonial Ou DescolonialDocumento4 páginasComo Se Escreve Decolonial Ou Descolonialcleberson.goncalvesAinda não há avaliações
- Historia Intelectual Origem e Abordagens PDFDocumento17 páginasHistoria Intelectual Origem e Abordagens PDFluAinda não há avaliações
- Artigo ImagensDocumento14 páginasArtigo ImagensameliaelasticAinda não há avaliações
- Teologia Decolonial e Epistemologias Do SulDocumento5 páginasTeologia Decolonial e Epistemologias Do SulEdney AraújoAinda não há avaliações
- LAJE - v3n1 - 3 - AR-13 - FARRÉS DELGADODocumento23 páginasLAJE - v3n1 - 3 - AR-13 - FARRÉS DELGADOoswaldofreitezAinda não há avaliações
- Texto de GODocumento3 páginasTexto de GORafael SoaresAinda não há avaliações
- Fichamento Teoria 3Documento9 páginasFichamento Teoria 3uerj.juliaAinda não há avaliações
- Estudos Culturais e Estudos DescoloniaisDocumento8 páginasEstudos Culturais e Estudos DescoloniaisMariaElôAinda não há avaliações
- Destruição, Iconoclastia e VandalismoDocumento13 páginasDestruição, Iconoclastia e VandalismoÉrico Silveira Preto de OliveiraAinda não há avaliações
- VS 2014 Atas Congresso Estudos Culturais PDFDocumento8 páginasVS 2014 Atas Congresso Estudos Culturais PDFMarcos EstevamAinda não há avaliações
- Leitura Guiada - Pedagogia Decolonial Educação Antirracista - Érika S. - A - EDU01005.Documento8 páginasLeitura Guiada - Pedagogia Decolonial Educação Antirracista - Érika S. - A - EDU01005.erika.santosAinda não há avaliações
- Metodologia Interdsciplinar em HumanasDocumento2 páginasMetodologia Interdsciplinar em Humanasskaio9292Ainda não há avaliações
- Texto Marisa SujeitossubjetividadesDocumento15 páginasTexto Marisa SujeitossubjetividadesKaique HenriqueAinda não há avaliações
- Teorias Críticas Do ColonialismoDocumento15 páginasTeorias Críticas Do ColonialismoRicardo Prestes PazelloAinda não há avaliações
- Romanizacao - Cultura Imperial - Norma Musco MendesDocumento18 páginasRomanizacao - Cultura Imperial - Norma Musco MendesAllef FraemannAinda não há avaliações
- 2 Modernidade e Identidade - o Caso BrasileiroDocumento31 páginas2 Modernidade e Identidade - o Caso BrasileiroJuarez PsiAinda não há avaliações
- A Resistência Decolonial No Discurso Jurídico Acadêmico - Ribeiro e SparembergerDocumento5 páginasA Resistência Decolonial No Discurso Jurídico Acadêmico - Ribeiro e SparembergerMaria Catarina de Oliveira ChacaroskiAinda não há avaliações
- Artigo CrioloDocumento16 páginasArtigo CrioloSamuel DinizAinda não há avaliações
- Texto 04 Cultura IntelectualdaselitesDocumento26 páginasTexto 04 Cultura IntelectualdaselitesElanir França CarvalhoAinda não há avaliações
- Culturas Populares e A Luta DecolonialDocumento14 páginasCulturas Populares e A Luta Decolonialcleberson.goncalvesAinda não há avaliações
- Fernanda Fonseca - Colonialidade. Novos Olhares e DesdobramentosDocumento10 páginasFernanda Fonseca - Colonialidade. Novos Olhares e DesdobramentosJulian SimõesAinda não há avaliações
- Adelia Miglievich. O Giro Decolonial Latino-Americano. Um Movimento em CursoDocumento10 páginasAdelia Miglievich. O Giro Decolonial Latino-Americano. Um Movimento em CursoCeleste CostaAinda não há avaliações
- 10560-Texto do artigo-35731-1-10-20181022Documento23 páginas10560-Texto do artigo-35731-1-10-20181022Pigin :DAinda não há avaliações
- Metodologia Nao ExtrativistaDocumento10 páginasMetodologia Nao ExtrativistaSuiane Costa FerreiraAinda não há avaliações
- E4 AnidDocumento44 páginasE4 AnidMaria SanttosAinda não há avaliações
- QUINTERO Pablo. Uma Breve História Dos Estudos DecoloniaisDocumento10 páginasQUINTERO Pablo. Uma Breve História Dos Estudos DecoloniaisClayton MessiasAinda não há avaliações
- Repensando O Direito Internacional A Partir Dos Estudos Pós-Coloniais E DecoloniaisDocumento33 páginasRepensando O Direito Internacional A Partir Dos Estudos Pós-Coloniais E DecoloniaisGabriel MantelliAinda não há avaliações
- Movimento Descolonial DecolonialDocumento21 páginasMovimento Descolonial DecolonialjifilisAinda não há avaliações
- Colonialidade Do Saber Do Poder e Do Ser Como Perspectiva Analítica Das Questões Étnico-Raciais No BrasilDocumento31 páginasColonialidade Do Saber Do Poder e Do Ser Como Perspectiva Analítica Das Questões Étnico-Raciais No BrasilZé M N NetoAinda não há avaliações
- Síveres e Santos, O Conhecimento Como Princípio Da Colonialidade e Da SolidariedadeDocumento14 páginasSíveres e Santos, O Conhecimento Como Princípio Da Colonialidade e Da SolidariedadeÉvelynSmithAinda não há avaliações
- (OK) rccs-689Documento7 páginas(OK) rccs-689Jeferson LimaAinda não há avaliações
- Decolonialidade e ArteDocumento21 páginasDecolonialidade e ArtePolly GuimarãesAinda não há avaliações
- TODOS!Documento27 páginasTODOS!tiagojjalvesAinda não há avaliações
- Manifesto AbaeteDocumento8 páginasManifesto AbaetejulibazzoAinda não há avaliações
- Aula 04 HCS MDocumento12 páginasAula 04 HCS Mlauramazzariolli06Ainda não há avaliações
- O Que e Uma Educacao Decolonial PDFDocumento4 páginasO Que e Uma Educacao Decolonial PDFAnaAinda não há avaliações
- Maria Paula Menezes Rccs-689-80-Epistemologias-Do-Sul PDFDocumento7 páginasMaria Paula Menezes Rccs-689-80-Epistemologias-Do-Sul PDFVirginia GóesAinda não há avaliações
- Amanda Recke Amanda - Recke@ufabc - Edu.br Universidade Federal Do ABC. São Bernardo Do Campo, São Paulo (SP), BrasilDocumento25 páginasAmanda Recke Amanda - Recke@ufabc - Edu.br Universidade Federal Do ABC. São Bernardo Do Campo, São Paulo (SP), Brasilmauriciocorsetti2024Ainda não há avaliações
- Formulario de Elaboracao AO06Documento5 páginasFormulario de Elaboracao AO06Vanessa De Sousa QueirozAinda não há avaliações
- 1.apresentar Perspectiva DecolonialDocumento4 páginas1.apresentar Perspectiva DecolonialRobson Di BritoAinda não há avaliações
- Resumo - Mignolo - NathalyDocumento6 páginasResumo - Mignolo - NathalyNathaly RibeiroAinda não há avaliações
- Ética, educação e memória: diálogos filosóficosNo EverandÉtica, educação e memória: diálogos filosóficosAinda não há avaliações
- O Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteNo EverandO Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteAinda não há avaliações
- Ig Barrocas Brasil SudesteDocumento28 páginasIg Barrocas Brasil SudesteMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- biografiadoslugaresDocumento31 páginasbiografiadoslugaresMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- ABORDAGEM GEOHISDTORICADocumento24 páginasABORDAGEM GEOHISDTORICAMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- RodrigoJabur VersaocorrigidaDocumento251 páginasRodrigoJabur VersaocorrigidaMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- Mansur 2022 MuseologiaPatrimonioDocumento43 páginasMansur 2022 MuseologiaPatrimonioMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- FRONTÕES CURVOS UM TIPO DE FRONTÃO EM IGREJAS DO LITORAL BRASILEIRO - PDFDocumento5 páginasFRONTÕES CURVOS UM TIPO DE FRONTÃO EM IGREJAS DO LITORAL BRASILEIRO - PDFMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- Livro Geopatrimonio C I 1Documento28 páginasLivro Geopatrimonio C I 1Marcela C. BettegaAinda não há avaliações
- Cartografia para CantariaDocumento17 páginasCartografia para CantariaMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- Ascensao e Declinio Da CantariaDocumento12 páginasAscensao e Declinio Da CantariaMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- 2007 GabrielaKolbergFigueira PDFDocumento64 páginas2007 GabrielaKolbergFigueira PDFMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- Patrimonio Construído - III SBPG - Lençois PDFDocumento25 páginasPatrimonio Construído - III SBPG - Lençois PDFMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- Friedrich Schiller A Educacao Estetica Do Homem Numa Serie de CartasDocumento80 páginasFriedrich Schiller A Educacao Estetica Do Homem Numa Serie de CartasMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- Revista - Paranagua - Tamanho Correto - FinalDocumento14 páginasRevista - Paranagua - Tamanho Correto - FinalMarcela C. BettegaAinda não há avaliações
- Coomaraswamy Ananda K - Mitos Hindus E Budistas (Port)Documento290 páginasCoomaraswamy Ananda K - Mitos Hindus E Budistas (Port)zen100% (1)
- Como Planejar Uma Aula - Treinamento e Motivação para ProfessoresDocumento16 páginasComo Planejar Uma Aula - Treinamento e Motivação para ProfessoresJunior FreireAinda não há avaliações
- LIBERTESEAFORISMOSPARAUMAVIDAPICADocumento104 páginasLIBERTESEAFORISMOSPARAUMAVIDAPICALeonardo Carvalho100% (1)
- Jacob O Cafajeste e a Secretaria - Bia CarvalhoDocumento389 páginasJacob O Cafajeste e a Secretaria - Bia CarvalhoLigia PaezeAinda não há avaliações
- Akai TsubakiDocumento4 páginasAkai TsubakiWellington José de LimaAinda não há avaliações
- Atividade 2 - Eprod - Planejamento e Controle Da Produção - 54 - 2024Documento10 páginasAtividade 2 - Eprod - Planejamento e Controle Da Produção - 54 - 2024matheus koniczAinda não há avaliações
- O Impacto Do Atendimento Sobre A Pessoa Do TerapeutaDocumento9 páginasO Impacto Do Atendimento Sobre A Pessoa Do TerapeutaRobertaAinda não há avaliações
- 12:12 Alquimia Universal Do Solstício Da Consciência - Parte IDocumento5 páginas12:12 Alquimia Universal Do Solstício Da Consciência - Parte Iclarindo_gouveiaAinda não há avaliações
- Como Fazer Qualquer Pessoa Gostar de Voce em Menos de 5 MinutoDocumento115 páginasComo Fazer Qualquer Pessoa Gostar de Voce em Menos de 5 MinutoFITNATION BOY100% (1)
- Igreja Evangélica Árabe em SPDocumento157 páginasIgreja Evangélica Árabe em SPRogério MathiasAinda não há avaliações
- Biomecânica Do Arremesso de Jump No BasquetebolDocumento10 páginasBiomecânica Do Arremesso de Jump No BasquetebolSergio FalciAinda não há avaliações
- Manuel ZimbroDocumento57 páginasManuel Zimbrocristina_bartleby100% (2)
- Liberte-Se Das Armadilhas Da Comparação v2Documento132 páginasLiberte-Se Das Armadilhas Da Comparação v2Edinéia Rossi100% (1)
- Manual Psicognitiva Cap IDocumento15 páginasManual Psicognitiva Cap ILisia MundstockAinda não há avaliações
- Um Leitura Teológica de "A Duração Do Dia" de Adélia PradoDocumento14 páginasUm Leitura Teológica de "A Duração Do Dia" de Adélia PradoMiguel Cabedo e VasconcelosAinda não há avaliações
- 13 T Cnicas Avan Adas de TreinoDocumento50 páginas13 T Cnicas Avan Adas de TreinoLuciano LimaAinda não há avaliações
- Hipermídias No Projeto E-Tec Idiomas - Storytelling Como Tecnologia EducacionalDocumento15 páginasHipermídias No Projeto E-Tec Idiomas - Storytelling Como Tecnologia EducacionalGuilherme FavorettiAinda não há avaliações
- Conto de Terror e Verbos - GABARITODocumento5 páginasConto de Terror e Verbos - GABARITOmariamimosdocesAinda não há avaliações
- Estudos Orientados Mod1 8anoDocumento57 páginasEstudos Orientados Mod1 8anoFabioAinda não há avaliações
- Modbus Tabela de Registros SisACS3000Documento40 páginasModbus Tabela de Registros SisACS3000Adilson SouzaAinda não há avaliações
- Projeto - Jean Hermes Carvalho VascoDocumento8 páginasProjeto - Jean Hermes Carvalho VascoJean VascoAinda não há avaliações
- O TOTVS Educacional - Linha RM - TDNDocumento10 páginasO TOTVS Educacional - Linha RM - TDNBruno Winicius Amorim100% (1)
- Retracao e Intrusao Anterior Usando A Tecnica Do Arco SegmentadoDocumento58 páginasRetracao e Intrusao Anterior Usando A Tecnica Do Arco SegmentadobiligamirandaAinda não há avaliações
- A Lojinha Dos Corações Partidos - Luisa CisternaDocumento229 páginasA Lojinha Dos Corações Partidos - Luisa Cisternamarcio santana da silvaAinda não há avaliações
- Cetesb10-10 CaldeirasDocumento25 páginasCetesb10-10 Caldeirasgarlando1516Ainda não há avaliações