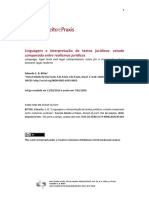0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
27 visualizaçõesCiência Como Vocação
Ciência Como Vocação
Enviado por
Mylena SilvaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Ciência Como Vocação
Ciência Como Vocação
Enviado por
Mylena Silva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
27 visualizações5 páginasTítulo original
ciência como vocação
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf ou txt
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
27 visualizações5 páginasCiência Como Vocação
Ciência Como Vocação
Enviado por
Mylena SilvaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 5
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE DIREITO
DOCENTE: MARIA MARCE MOLIANI
DISCENTES: GABRIEL GRAVENA
ISABELLE CHRISTINE NENEVÊ
MYLENA MACHADO DA SILVA
RENATA PEDROZO AMÂNCIO
WEBER, Maximilian Karl Emil. Ciência e Política: duas vocações. Tradução de
Leonidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. 14. ed., 2013. p. 17 – 52.
A obra “A ciência como vocação” é baseada em uma palestra que o intelectual
alemão Max Weber ministrou no ano de 1917, nela o jurista analisa de que forma a
prática científica pode ser exercida como vocação. Logo no início de sua fala, Weber
traz sua experiência em universidades da Alemanha e Estados Unidos, voltando seu
discurso para o ensino, bem como o comportamento dos alunos e a influência dos
professores em sua formação acadêmica.
Weber inicia seu discurso indagando sobre quais perspectivas possui aquele
que opta por escolher a ciência como profissão. Na Alemanha, o jovem cientista inicia
sua carreira como um auxiliar de pesquisador, não recebendo remuneração alguma,
diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, onde o jovem recebe uma
remuneração, porém possui sobre si uma expectativa de “sala cheia” ou correrá o
risco de ser demitido, coisa que não poderia acontecer na Alemanha, pois nenhum
jovem que opte pela ciência como sua vocação poderá ser desalojado e ao contrário
do modelo norte-americano, o jovem poderá esperar futuramente por algum direito
moral ou consideração. Além desta diferença, Weber atenta para o fato de que na
Alemanha o processo para se tornar um pesquisador, ao escolher a ciência como
vocação, é marcado pela plutocracia, ou seja, aquele que não for possuidor de bens
e fortunas, dificilmente terá êxito nesta escolha, já nos Estados Unidos, o processo é
burocrático.
Durante toda sua fala, Weber deixa em evidência que o fator determinante para
que um especialista consiga disseminar sua pesquisa é a paixão que este possui na
difusão pelo conhecimento e não a busca por riqueza. O jurista alega que,
diferentemente de uma obra de arte, a ciência busca ser ultrapassada, tendo em vista
que, toda vez que uma pesquisa se torna “acabada” ou “ultrapassada” abre caminho
para novas indagações e consequentemente novas pesquisas. Diante disso, podemos
entender a ciência como um meio que permite o domínio técnico da vida, através dos
conhecimentos que dispõem, sendo ela a responsável por apresentar métodos e
instrumentos necessários na construção eficiente do conhecimento. E, fica por conta
deste conhecimento, a consolidação de uma clareza, capaz de proporcionar
aprofundamento de uma consciência individual e racional.
Segundo Weber, a questão da significação da ciência é respondida para o
“homem prático” na busca por orientar as atividades técnicas com base no que a
experiência científica pode oferecer. O autor, porém, questiona qual o sentido que o
“homem de ciência” dá à sua própria vocação para além das atividades práticas e
comerciais possibilitadas e melhoradas por descobertas científicas, e o que o motiva
a procurar respostas que logo se tornarão obsoletas. Para responder a tal
questionamento, Weber faz algumas considerações, como descritas abaixo.
O sociólogo fala, primeiramente, sobre o processo de intelectualização,
racionalização e progresso científico. O homem primitivo tinha quase completo
domínio dos meios e ferramentas de que dispunha para sobreviver. Com o progresso
científico, porém, não há a necessidade de todos entenderem o funcionamento de
todas as coisas. Weber exemplifica utilizando de trens, os quais a grande maioria das
pessoas que utiliza não entende seu funcionamento, a não ser que sejam
especialistas da área. Dessa forma, entende-se que o processo de intelectualização
e racionalização não serve para entendermos de forma geral as circunstâncias em
que vivemos. Assim, Weber conclui que a “significação essencial da intelectualização”
se dá na utilização da técnica e na previsibilidade de eventos, ambas possibilitadas
pela crescente racionalização, não mais sendo necessário recorrer a explicações e
formas de domínio “mágicas” do mundo, como faziam os primitivos.
A partir dessa conclusão, surge uma outra questão, a de que se há alguma
significação para o “progresso” e para o desencantamento do mundo que vá além
dessa puramente prática e técnica. Leon Tolstói chega a essa mesma pergunta ao
pensar se “a morte é ou não é um acontecimento que encerra sentido”. Ele afirma que
os camponeses dos tempos antigos morreram “velhos e plenos de vida”, uma vez que
encontraram todas as respostas que ao seu tempo podiam ter da vida. Com o
constante progresso científico, o homem moderno vive uma época de produção
contínua de experiências e problemas, o que o impossibilita de ter vivido plenamente,
ao fim da vida. Há sempre mais a ser descoberto e respondido, e sobra a ele o que é
provisório e que tão brevemente estará ultrapassado. Tolstói, dessa forma, acredita
que, não havendo significação na morte do homem da civilização moderna, também
não o há na vida, uma vez que o progresso por si só também não tem sentido.
Com isso, Weber volta a questionar qual, então, a significação para o progresso
que ultrapasse a técnica e dê sentido à prática da ciência como vocação e, além disso,
como algo de valor para a vida humana? E, acreditando haver grande diferença
quanto a isso no presente e no passado, Weber rememora o mito da caverna de
Platão e afirma, porém, que a juventude de hoje está mais interessada nas sombras
projetadas nas paredes da caverna do que na iluminação trazida pela ciência, dentro
do contexto do próprio mito. Ele explica que Platão se apaixonou dessa forma pelo
conhecimento científico pela descoberta, por Sócrates (havendo elementos análogos
em escritos hindus), da noção de “conceito”, o qual, para os gregos, era capaz de
prender qualquer pessoa “aos grilhões da lógica”. Eles acreditavam, assim, que
conhecendo conceitos como o de Belo, do Bem, da Coragem e da Alma, seriam
capazes de agir e viver plenamente. Com o Renascimento, soma-se ao conceito um
outro instrumento científico: o da experimentação racional, que surge de forma inédita
como princípio da pesquisa. Primeiramente surge a experimentação pelas inovações
da arte, como é notável em Leonardo da Vinci e nos inovadores da música. Depois,
passa a fazer parte do meio científico, como por Galileu e, por fim, alcança “o domínio
da teoria, graças a Bacon”.
A significação da ciência para Da Vinci e os inovadores da música era usar
dessa experimentação para chegar à arte verdadeira e à verdadeira natureza, ou seja,
dar à arte o caráter de ciência de forma que o artista passaria ao nível de doutor. Para
Weber, nos tempos dele, chamar a ciência de caminho que conduz à natureza seria
para os jovens uma blasfêmia, mas o sociólogo demonstra que no início do período
moderno havia pretensões maiores ainda para a ciência: encontrar traços do divino
nas coisas e o caminho que conduz a Deus. O autor expõe que, no entanto, nos
tempos dele essa significação para de fazer sentido, uma vez que a visão geral da
sociedade é a de ver a ciência como potência irreligiosa. Além disso, a juventude
alemã da época, para ele, vive em busca de experiências transcendentais e de vida
em geral, de forma que Weber acha frustrante o método escolhido para tal, que
conduz a um “moderno romantismo intelectualista do irracional”, método o qual o autor
acredita que trará efeito contrário ao esperado pelos que o praticam.
Weber retorna ao questionamento de qual é o sentido da ciência enquanto
vocação, uma vez que agora ela deixa de ser o caminho que leva ao “ser verdadeiro”,
à “verdadeira arte”, à “verdadeira natureza”, ao “verdadeiro Deus” ou à “verdadeira
felicidade”. Tolstói, como cita Weber, responde que não há um sentido, uma vez que
a ciência não é capaz de responder o que devemos fazer e como devemos viver.
Resta, segundo o autor, a dúvida de se a ciência poderia dar essas respostas para
quem fizesse as perguntas corretamente.
Quando o autor analisa sobre a ideia de existir ou não uma “ciência sem
pressupostos”, ele conclui que o resultado a que o trabalho científico leva é importante
em si, isto é, merece ser conhecido. Aquele que investiga determinado objeto ou tema,
considera-o importante de ser estudado. Contudo, esse pressuposto é que não pode
ser demonstrado cientificamente. Uma vez que não é possível interpretar o sentido
último desse pressuposto, cabe ao indivíduo aceitá-lo ou recusá-lo, com base em suas
convicções pessoais. Weber demonstra o exemplo das ciências da natureza, como a
Física, a Química ou a Astronomia. Elas pressupõem que valha a pena conhecer as
leis últimas do devir cósmico, não apenas porque esses conhecimentos levam a
resultados técnicos, mas também porque eles possuem um valor “em si”, na medida,
precisamente, em que traduzem uma “vocação”. Contudo, ninguém poderá
demonstrar esse pressuposto e nem provar que o mundo que esses conhecimentos
descrevem merece existir. Outro exemplo utilizado por ele é o da medicina moderna.
O médico tem como dever conservar e prolongar a vida, visto que os pressupostos da
Medicina exigem isso. Porém, a Medicina não se propõe a questionar se aquela vida
merece ser vivida. Não há resposta científica para isso. Ao citar o exemplo de um
curso universitário desejar estudar a democracia, o autor busca mostrar a verdadeira
função de um professor. Ele afirma que só cabe ao professor, o papel de mostrar a
necessidade da escolha, juntamente ser útil com a transmissão de conhecimentos e
de experiência científica. Uma coisa é analisar os tipos de democracia, outra é
defender dentro de uma sala de aula uma forma política específica. Assuntos públicos
devem ser expostos em uma praça, onde não só um fala e há possibilidade de crítica.
Um professor que sente a vocação de conselheiro da juventude e quer participar das
lutas entre concepções de mundo e entre opiniões de partidos, não deve fazer isso
dentro de uma sala de aula. Em casos em que o ouvinte fica em silêncio a maior parte
do tempo, quem se aproveita para afirmar suas opiniões pessoais é um demagogo.
Desse modo, Weber apresenta que a ciência contribui para a clareza. Os cientistas
podem escolher a posição que querem tomar e consequentemente, estarão negando
uma outra concepção. Nesse caso, devem esclarecer se determinada posição deriva
de uma visão única do mundo ou várias. A partir disso se chega ao sentido moral da
ciência. Quando se nega uma outra visão de mundo, pode gerar conflitos. Nesse caso,
o autor expõe sobre a responsabilidade. Quando se está à altura, enquanto cientistas,
da tarefa que se encarrega, poderá compelir uma pessoa a dar-se conta do sentido
último de seus próprios atos, ou ajudá-la em tal sentido. Um professor que atinja essa
tarefa, consegue despertar em seus alunos a clareza e o sentido de responsabilidade.
Por fim, Weber reafirma a necessidade de decidir (escolha), porém deve lembrar-se
que ela é limitada. Conclui-se que ciência é uma vocação alicerçada na especialização
e não é um produto de revelações. Diante de uma teologia que pretende o título de
“ciência”, ele explica que a teologia é uma racionalização intelectual de inspiração
religiosa. Ela possui seus próprios pressupostos, principalmente no que diz respeito a
seu trabalho e à justificação de sua existência. Qualquer teologia, aceita o pressuposto
que o mundo deve ter um sentido, mas o problema é saber interpretá-lo. Dessa forma,
partem para outros pressupostos, como crer em certas “revelações” importantes para
a salvação da alma e acreditar que existem certos estados e atividades que possuem
o caráter do santo. A teologia parte da ideia que esses pressupostos pertencem a uma
esfera que se situa além dos limites da “ciência”.
Você também pode gostar
- COSTA, Marisa Vorraber. Uma Agenda para Jovens PesquisadoresDocumento9 páginasCOSTA, Marisa Vorraber. Uma Agenda para Jovens PesquisadoresFranciele Aguiar100% (3)
- Fichamento Convite À FilosofiaDocumento10 páginasFichamento Convite À Filosofiamanoel da silvaAinda não há avaliações
- Spaece Professor LP - 9anoDocumento15 páginasSpaece Professor LP - 9anoIracema Nepomuceno86% (7)
- Lots e Outros TemasDocumento87 páginasLots e Outros TemasAndré Cruz100% (7)
- Resenha Cap.1 - Introdução Ao CTSDocumento2 páginasResenha Cap.1 - Introdução Ao CTSPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Fichamento Metodologia-O Quê É Ciência Afinal?Documento5 páginasFichamento Metodologia-O Quê É Ciência Afinal?Vinicius TeodoroAinda não há avaliações
- Zanardini, I. M. S., & Orso, P. J. (Orgs.) (2008) - Estado, Educação e Sociedade Capitalista PDFDocumento249 páginasZanardini, I. M. S., & Orso, P. J. (Orgs.) (2008) - Estado, Educação e Sociedade Capitalista PDFDiego Mansano FernandesAinda não há avaliações
- A Negativa Freud 1925Documento4 páginasA Negativa Freud 1925primarcjiou0% (1)
- Frases de Chico XavierDocumento4 páginasFrases de Chico XavierriyusaAinda não há avaliações
- Thadia Tamine Lino de Oliveira - Sociologia.max - WeberDocumento4 páginasThadia Tamine Lino de Oliveira - Sociologia.max - WeberthamirysicmAinda não há avaliações
- Análise Sobre A Ciência e A Política Como VocaçãoDocumento13 páginasAnálise Sobre A Ciência e A Política Como VocaçãoGabriel PereiraAinda não há avaliações
- O Cientificismo e Seus Descontentamentos Susan HaackDocumento95 páginasO Cientificismo e Seus Descontentamentos Susan HaackCarlos Alberto SousaAinda não há avaliações
- o ideal científico e rzão instrumentalDocumento7 páginaso ideal científico e rzão instrumentalGuilherme BeloAinda não há avaliações
- Ferreira Filho Valter Duarte - A Sociologia Encantada de Max Weber - in Advir Asduerj 24 2010Documento9 páginasFerreira Filho Valter Duarte - A Sociologia Encantada de Max Weber - in Advir Asduerj 24 2010Michael SmithAinda não há avaliações
- Freud, Piaget e Vigotski - Concepções de InfânciaDocumento9 páginasFreud, Piaget e Vigotski - Concepções de InfânciaDavid TeixeiraAinda não há avaliações
- O Mito Da Neutralidade CientificaDocumento7 páginasO Mito Da Neutralidade CientificaLucas CezárioAinda não há avaliações
- Resenha Do Artigo-"Administração Ciências Ou ArteDocumento4 páginasResenha Do Artigo-"Administração Ciências Ou ArteWellington GasparAinda não há avaliações
- Fichamento - CohnDocumento2 páginasFichamento - CohnMARIANA DE OLIVEIRA LEALAinda não há avaliações
- WeberDocumento2 páginasWeberKaren BorgesAinda não há avaliações
- 30-08-2022 19h21Documento4 páginas30-08-2022 19h21Camila de Castro FaustinoAinda não há avaliações
- O alvorecer de novo paradigma na(s) ciência(s) da(s) religião(ões)No EverandO alvorecer de novo paradigma na(s) ciência(s) da(s) religião(ões)Ainda não há avaliações
- SALGADO, Karine. Notas Introdutórias À Ciência e À Filosofia Do DireitoDocumento17 páginasSALGADO, Karine. Notas Introdutórias À Ciência e À Filosofia Do Direitosempressa09Ainda não há avaliações
- 30-08-2022 18h16Documento4 páginas30-08-2022 18h16Camila de Castro FaustinoAinda não há avaliações
- O Coberto e o Descoberto Nas Ciências JurídicasDocumento5 páginasO Coberto e o Descoberto Nas Ciências Jurídicasosvaldo lucasAinda não há avaliações
- EpistemologiaDocumento12 páginasEpistemologiaGracy EstevesAinda não há avaliações
- Velhos e Novos Aspectos Da Epistemologia Das Ciencias SociaisDocumento14 páginasVelhos e Novos Aspectos Da Epistemologia Das Ciencias SociaisGeise TargaAinda não há avaliações
- AD2. FilosofiaDocumento4 páginasAD2. FilosofiaRaquelle PinheiroAinda não há avaliações
- Prova JamilyDocumento3 páginasProva JamilyJamily FernandesAinda não há avaliações
- Zalmino Zimmermann - Cap. II - O Espiritismo Século XXI - O Espiritismo e CiênciaDocumento26 páginasZalmino Zimmermann - Cap. II - O Espiritismo Século XXI - O Espiritismo e CiênciaUploaderAinda não há avaliações
- A Invenção Das Ciências ModernasDocumento133 páginasA Invenção Das Ciências Modernaswendell80% (5)
- O Objeto Científico Como Construção - Apontamentos Sobre Ciência e Conhecimento CientíficoDocumento4 páginasO Objeto Científico Como Construção - Apontamentos Sobre Ciência e Conhecimento CientíficoPaula GarciaAinda não há avaliações
- Texto ModeloDocumento9 páginasTexto ModeloLailton GrabeAinda não há avaliações
- 4MASGJ04 - Continuação Um Toque de Clássicos - (Tânia Quintaneiro) 27pDocumento27 páginas4MASGJ04 - Continuação Um Toque de Clássicos - (Tânia Quintaneiro) 27pAdolfo Lopes De SilvaAinda não há avaliações
- Percepção Científica Do Direito: Resumo: O Presente Artigo Analisa, Inicialmente, A PosiçãoDocumento32 páginasPercepção Científica Do Direito: Resumo: O Presente Artigo Analisa, Inicialmente, A Posiçãomey_linfAinda não há avaliações
- Pensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalNo EverandPensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalAinda não há avaliações
- Versão para Impressão - Ciência Moderna - Aspectos Históricos e o Fundamento Da Verdade CientíficaDocumento23 páginasVersão para Impressão - Ciência Moderna - Aspectos Históricos e o Fundamento Da Verdade CientíficaGabriela Dos Santos BussoloAinda não há avaliações
- Resenha - Introdução A Uma Ciência Pós-ModernaDocumento10 páginasResenha - Introdução A Uma Ciência Pós-ModernaFrancelma Lima Ramos de OliveiraAinda não há avaliações
- AULA 6.ciências Humanas e Sociais 5Documento13 páginasAULA 6.ciências Humanas e Sociais 5Eder GamaAinda não há avaliações
- A Ciencia No Seculo XXDocumento16 páginasA Ciencia No Seculo XXJoelcy BarrosAinda não há avaliações
- Como Pode Um Cientista Ser Cristão Nos Nossos Dias - ResumoDocumento6 páginasComo Pode Um Cientista Ser Cristão Nos Nossos Dias - ResumoRamon PrietosAinda não há avaliações
- Sociologia Weberiana e Suas InfluênciasDocumento37 páginasSociologia Weberiana e Suas InfluênciasAna Carolina100% (1)
- FICHAMENTO - As Aventuras de Marx Contra o Barão de Münchhausen - Thatiane C. PiresDocumento9 páginasFICHAMENTO - As Aventuras de Marx Contra o Barão de Münchhausen - Thatiane C. PiresJonathan Machado100% (1)
- Resumo MET - BoaventuraDocumento6 páginasResumo MET - BoaventuraDavi MartinsAinda não há avaliações
- Agnes - 1Documento5 páginasAgnes - 1last LizzyAinda não há avaliações
- Caráter Provisório Do Conhecimento Científico e Seus Reflexos Na Ciência Jurídica PDFDocumento15 páginasCaráter Provisório Do Conhecimento Científico e Seus Reflexos Na Ciência Jurídica PDFbordonal0% (1)
- Wa0025.Documento6 páginasWa0025.Paulo Sergio SantosAinda não há avaliações
- Ciencia Juridica Pos ModernaDocumento18 páginasCiencia Juridica Pos ModernaAntonio Rodrigues Do NascimentoAinda não há avaliações
- Filosofia Da CiênciaDocumento6 páginasFilosofia Da CiênciaJulia VeigaAinda não há avaliações
- Misticismo Cientifico - Renato P Dos Santos PDFDocumento12 páginasMisticismo Cientifico - Renato P Dos Santos PDFJoseJunembergAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 1º BimestreDocumento9 páginasEstudo Dirigido 1º Bimestrevictoria emanuelaAinda não há avaliações
- (9,5) Deus e Ordem - Filosofia 2020Documento11 páginas(9,5) Deus e Ordem - Filosofia 2020Luis Felipe TeixeiraAinda não há avaliações
- Atividade Metodologia (Pós) - AndréDocumento2 páginasAtividade Metodologia (Pós) - Andréandrelom2009Ainda não há avaliações
- A Invenção Das Ciências Modernas - Isabelle StengersDocumento211 páginasA Invenção Das Ciências Modernas - Isabelle StengersRaul DuarteAinda não há avaliações
- 02 - Filosofia Da CienciaDocumento11 páginas02 - Filosofia Da CienciaSilvio CirqueiraAinda não há avaliações
- 9151-Texto Do Artigo-27555-1-10-20180617Documento11 páginas9151-Texto Do Artigo-27555-1-10-20180617José Valente CbAinda não há avaliações
- Tipos de Conhecimentos - Naliny Dourado MendesDocumento12 páginasTipos de Conhecimentos - Naliny Dourado MendesErickson Lopes FerreiraAinda não há avaliações
- FICHAMENTODocumento4 páginasFICHAMENTOclaudio.moreiraAinda não há avaliações
- Fichamento Immanuel WallersteinDocumento3 páginasFichamento Immanuel WallersteinLuciano MouraAinda não há avaliações
- WeberDocumento2 páginasWeberMayAinda não há avaliações
- Fichamento 02 - Conhecimento Comum e Conhecimento CientíficoDocumento4 páginasFichamento 02 - Conhecimento Comum e Conhecimento Científicoxando.bluesAinda não há avaliações
- A Ciência Como VocaçãoDocumento3 páginasA Ciência Como VocaçãoClayton TelesAinda não há avaliações
- Pluralidade Metodológica Da Ciência ContemporâneaDocumento7 páginasPluralidade Metodológica Da Ciência ContemporâneaAlmir José WeinfortnerAinda não há avaliações
- Sonhando a Pesquisa: o relato de uma investigação orientada, supervisionada e destinada por sonhosNo EverandSonhando a Pesquisa: o relato de uma investigação orientada, supervisionada e destinada por sonhosAinda não há avaliações
- Os Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoNo EverandOs Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoAinda não há avaliações
- Acordao - 2024-06-28T160823.261Documento5 páginasAcordao - 2024-06-28T160823.261Mylena SilvaAinda não há avaliações
- Acordao - 2024-06-26T144626.476Documento8 páginasAcordao - 2024-06-26T144626.476Mylena SilvaAinda não há avaliações
- Acordao - 2024-06-25T160904.634Documento8 páginasAcordao - 2024-06-25T160904.634Mylena SilvaAinda não há avaliações
- AcordaoDocumento3 páginasAcordaoMylena SilvaAinda não há avaliações
- Acordao - 2024-06-20T123412.571Documento9 páginasAcordao - 2024-06-20T123412.571Mylena SilvaAinda não há avaliações
- Morte - SuperinteressanteDocumento6 páginasMorte - SuperinteressanteLeandro MatosAinda não há avaliações
- Práticas Pedagógicas de Orientação Educacional - Módulo 3Documento83 páginasPráticas Pedagógicas de Orientação Educacional - Módulo 3Odair JoséAinda não há avaliações
- Introducao Ao Esoterismo Ocidental - LivrDocumento162 páginasIntroducao Ao Esoterismo Ocidental - Livrfcxander100% (1)
- Atividade ExtraDocumento7 páginasAtividade ExtraGuilherme Caruso RodriguesAinda não há avaliações
- Cartas Africanas PDFDocumento18 páginasCartas Africanas PDFLuis Da Silva SantanaAinda não há avaliações
- Penelope PDFDocumento18 páginasPenelope PDFLidyanne Carderaro100% (1)
- George Santayana - Ceticismo e Fé AnimalDocumento2 páginasGeorge Santayana - Ceticismo e Fé AnimalMarcusTorres01Ainda não há avaliações
- CIENCIA GNOSTICA Rabolu PDFDocumento35 páginasCIENCIA GNOSTICA Rabolu PDFFausto Paiva100% (1)
- Argumentos CéticosDocumento4 páginasArgumentos CéticosEdgar RendeiroAinda não há avaliações
- GabaritoDocumento31 páginasGabaritoCaptaAinda não há avaliações
- Sartre - Resumo de A Desmilitarização Da CulturaDocumento3 páginasSartre - Resumo de A Desmilitarização Da CulturaEduardo MenezesAinda não há avaliações
- Acampora, C. D. Contesting Nietzsche 2013 Tradução GoogleDocumento276 páginasAcampora, C. D. Contesting Nietzsche 2013 Tradução GoogleRodrigo SAinda não há avaliações
- Ontologia Do EgoDocumento30 páginasOntologia Do EgoSabrina DâmasoAinda não há avaliações
- Os 4 Temperamentos HumanoDocumento20 páginasOs 4 Temperamentos HumanoCarolaine Daniele Torres de OliveiraAinda não há avaliações
- Sócrates e Platão - Precursores Do Espiritismo - Versão SimplesDocumento25 páginasSócrates e Platão - Precursores Do Espiritismo - Versão Simplesazel79Ainda não há avaliações
- Searle - Mente, Linguagem e SociedadeDocumento7 páginasSearle - Mente, Linguagem e SociedadeAlexandre Ferreira SantosAinda não há avaliações
- Conceitos de NietzscheDocumento3 páginasConceitos de NietzscheKauã CoelhoAinda não há avaliações
- BITTAR, C. Linguagem e Interpretação de Textos Juridicos. Realismo JuridicoDocumento29 páginasBITTAR, C. Linguagem e Interpretação de Textos Juridicos. Realismo JuridicoRPMAinda não há avaliações
- Resenha Livro Leviatã de Thomas HobbesDocumento2 páginasResenha Livro Leviatã de Thomas HobbesJaque BayAinda não há avaliações
- (Maria Izabel Limongi) HobbesDocumento70 páginas(Maria Izabel Limongi) HobbesJoao MarcosAinda não há avaliações
- Motivação e EstímuloDocumento27 páginasMotivação e EstímuloLeandro AndersonAinda não há avaliações
- Ética 2024Documento22 páginasÉtica 2024pereira.adrAinda não há avaliações
- O Eneagrama Da PersonalidadeDocumento22 páginasO Eneagrama Da Personalidadejbonezzi100% (3)
- 2018 Psicologia NP2 Reposição & SUBDocumento1 página2018 Psicologia NP2 Reposição & SUBMary KellyAinda não há avaliações