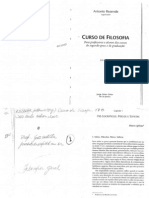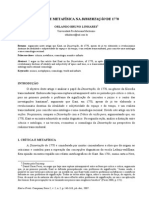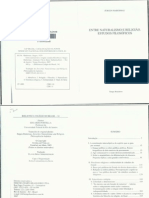JASPERS, Karl - Origem e Meta Da História
JASPERS, Karl - Origem e Meta Da História
Enviado por
falconincDireitos autorais:
Formatos disponíveis
JASPERS, Karl - Origem e Meta Da História
JASPERS, Karl - Origem e Meta Da História
Enviado por
falconincDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Direitos autorais:
Formatos disponíveis
JASPERS, Karl - Origem e Meta Da História
JASPERS, Karl - Origem e Meta Da História
Enviado por
falconincDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Origem e meta da história*
Karl Jaspers
Prólogo
A história dos homens em sua maior parte de-
sapareceu da lembrança. Ela só se fez acessível e,
em porção mínima, mediante algumas pesquisas
aprofundadas.
A profundidade da ampla pré-história, em que
todo é resto está fundado, ainda não ficou verdadeira-
mente iluminada pelas ineficazes luzes sobre ela pro-
jetadas. A tradição dos tempos históricos – os tempos
do testemunho escrito – é fortuita e incompleta. Na
realidade, só no século XVI passa a ser documentada.
O futuro é um campo ilimitado de possibilidades e
não está decidido.
*
A tradução baseia-se na obra Entre a pré-história, cem vezes mais ampla, e a
Vom Ursprung und Ziel der
Geschichte (Origem e meta imensidade do futuro estendem-se os cinco mil anos
da história), de Karl Jaspers,
publicada pela primeira vez de história visível para nós. Trata-se de um ínfimo
pela editora R. Piper & Co.,
de Munique, em 1949. Para a espaço na existência humana que se prolonga até
tradução cotejamos o texto, perder-se de vista. A história está aberta pela pré-
porém, com a edição integral
da Deutscher Bücherbund, de -história e pelo futuro. Por nenhum destes lados
tradução
Stuttgart e Hamburgo. A tra-
dução foi realizada por Renato está concluída e não se pode obter dela uma figura
Kirchner e Roney dos Santos
Madureira, da Pontifícia Univer- acabada como uma imagem integral que se sustenta
sidade Católica de Campinas, por si só.
Faculdade de Filosofia.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 137-152, jan./jun. 2013 137
Em meio à história estamos nós e nosso presente. Este último não é nada se se
perde como mero presente neste estreito horizonte do dia. Meu livro pretende con-
tribuir no intuito de elevar nossa consciência do presente.
O presente, por um lado, está repleto do fundo histórico que em nós se atualiza
– a primeira parte do livro trata da história do mundo até nossos dias.
Por outro lado, o presente de forma latente está penetrado pelo futuro, cujas
tendências, seja em oposição ou em adesão, fazemos nossas – a segunda parte do
livro pretende tratar do presente e do futuro.
Todavia, este presente pleno procura lançar sua âncora em sua eterna origem.
Conduzir pela história para além da história, ao transcendente, o qual nos envolve, é
a última coisa que o pensamento não pode alcançar, mas sempre haverá de procurar
rever – constituindo-se, assim, na terceira parte do livro, que trata de esclarecer o
sentido da história.
Karl Jaspers
Introdução: A questão pela estrutura da história universal
Em virtude da extensão e profundidade das transformações experimentadas pela
vida humana, recai sobre nossa época a significação mais decisiva. Só a totalidade
da história humana pode fornecer o plano de fundo para entender o sentido do
acontecer atual.
No entanto, quando contemplamos a história da humanidade, encontramo-nos
com o mistério de nosso ser humano. O fato de que tenhamos história, de, em virtu-
de da história sermos o que somos e de que tal história tenha durado até agora um
tempo relativamente muito curto, leva-nos a perguntarmos: De onde vem isso? Para
onde isso vai? O que isso significa?
Desde os tempos mais remotos, o homem formou-se uma imagem da totalidade:
primeiramente, por imagens míticas (teogonias e cosmogonias, nas quais ele manti-
nha seu lugar), posteriormente, pela imagem de que Deus atua através das decisões
políticas no mundo (visão histórica dos profetas) e, mais tarde, por atos de revelação
no conjunto da história, desde a criação e o pecado original até o fim do mundo e o
juízo final (Santo Agostinho).
Contudo, a consciência histórica é essencialmente distinta quando se apoia em
bases empíricas e unicamente sobre elas. As histórias, embora lendárias, de uma gê-
138 JASPERS, Karl. Origem e meta da história
nese natural da cultura, estende-se por todos os lados, desde a China até o Ocidente,
pois já tinham este ponto de vista. Atualmente alargou-se o horizonte real de uma
maneira extraordinária. A limitação temporal – a idade de seis mil anos, segundo
a crença bíblica – desapareceu. Entre o passado e o futuro abre-se uma infinitude.
Relacionada a isso está a investigação dos vestígios históricos, dos documentos e
monumentos do passado.
Esta imagem empírica da história deve conformar-se, ante a imensa multiplici-
dade dos fatos, com a apresentação de algumas leis regulares e com a descrição às
vezes sem conexão do múltiplo. Vê-se, assim, que há repetições e que há analogias
no múltiplo; que há ordenações políticas de poder com suas séries típicas de formas
e que há também a confusão caótica; que há séries regulares de estilo no espiritual
e que há também a nivelação do irregular permanente.
É possível também tentar compor uma imagem total, unitária e conexa da história
da humanidade. Desse modo, descobrem-se os círculos culturais que já existiram e
seu percurso, contemplamo-los primeiramente separados e depois em sua influência
recíproca, extraímos o elemento comum de seu sentido e inteligibilidade mútua e,
por fim, pensa-se num único sentido unitário no qual fique ordenada toda a multi-
plicidade (Hegel)1.
Quem se dedica à história realiza involuntariamente essas intuições universais
que oferecem unidade a seu conjunto. Estas intuições podem ficar sem crítica, até
mesmo inconscientes e, assim, permanecem indiscutidas. Na maneira de pensar
historicamente costumam ficar pressupostas como coisas evidentes, como se proce-
dessem de si mesmas.
Assim, no século XIX, toma-se e se entende por história universal a que, depois
das etapas prévias do Egito e Mesopotâmia, começa na Grécia e na Palestina e chega
até nós. O restante pertence à etnologia e fica fora da verdadeira história. A história
universal era a história do Ocidente (Ranke).
Em contrapartida, para o positivismo do século XIX, todos os homens deviam
gozar do mesmo direito. Há história ali onde os homens vivem. A história universal
se estende no espaço e no tempo para todo o planeta e permanece ordenada ge-
ograficamente segundo sua distribuição espacial (Helmolt). Em qualquer parte da
tradução
1. Para a filosofia da história são de perdurável significação as obras penetrantes de Vico, Montesquieu – Les-
sing, Kant – Herder, Fichte, Hegel – Marx, Max Weber. Para uma visão de conjunto destas teorias: Cf. Johannes
Thyssen, Geschichte der Geschichtsphilosophie, Berlim, 1936; R. Rocholl, Die Philosophie der Geschichte, tomo
I, Göttingen, 1878.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 137-152, jan./jun. 2013 139
Terra há história. As batalhas nigerianas no Sudão estão no mesmo nível histórico
que Maratona e Salamina, e talvez fossem mais importantes pelo número de homens
convocados para as armas.
Entretanto, novamente pareceu notar-se na história uma ordenação e estrutura ao
intuir-se nela culturas singulares2. Da massa informe da existência humana meramente
natural – era esta a intuição –, surgiam culturas semelhantes a organismos, com formas
de vida independentes, que possuem princípio e fim e não se influenciam mutuamente,
ainda que algumas vezes possam encontrar-se, interferir-se ou perturbar-se. Spengler
conheceu oito destes corpos históricos, e Toynbee, vinte e um. Spengler atribuiu-lhes
uma vida de mil anos, enquanto que Toynbee uma duração indeterminada. Spengler
viu-se na necessidade de atribuir a cada um destes organismos um processo de mis-
tério total, uma metamorfose, cujas leis acreditava ele descobrir morfologicamente
mediante analogias entre as fases dos distintos corpos culturais. Isso porque, segundo
ele, na figura fisionômica tudo é símbolo. Toynbee, pelo contrário, procede a uma
múltipla análise causal a partir do ponto de vista sociológico. Todavia, deixa margem
a livres decisões dos homens, mas de tal sorte que também a totalidade se mostra
na forma intuitiva de um processo necessário em cada caso. Por esta razão, ambos
extraem de sua concepção total previsões em relação ao futuro3.
2. O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 1918. [Em português: A decadência do Ocidente: esboço de uma
história universal.3. ed. Tradução Herbert Caro. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.] Alfred Weber, Kulturgeschichte als
Kultursoziologie, Leiden, 1935; Das Tragische und die Geschichte, Hamburgo, 1943; Abschied von der bisherigen
Gechichte, Hamburgo, 1946; Toynbee, A study of history, Londres, 1935.
3. Toynbee é mais precavido nesta questão. Penetra, ou melhor, recobre sua imagem da história com a concepção
cristã. Segundo ele, uma cultura pode em princípio perdurar sem decadência. Ela não se aplica à cega necessidade
das idades biológicas da vida e da morte. O que acontecerá depende da liberdade humana. E Deus pode ajudar.
Spengler afirma que ele – e, segundo pensa, é o primeiro – diagnostica metodicamente com a precisão de um
astrônomo. Assim, prevê a decadência do Ocidente. Muitos encontraram nesta previsão o que já tinham em mente.
Pela sua imagem engenhosa, em que o jogo das comparações e referências vai do capricho à plausibilidade e se
afirma com segurança ditatorial, devem opor-se dois aspectos fundamentais: em primeiro lugar, a interpretação
de Spengler por símbolos, comparações e analogias é, às vezes, apropriada para caracterizar um “espírito”, uma
maneira de pensar e de sentir; contudo, pertence à essência de toda interpretação fisionômica na qual não se
conhece metodicamente uma realidade, mas que se interpreta o infinito através de possibilidades. A ideia preten-
siosa da “necessidade” do acontecer está envolvida de forma subreptícia. As séries morfológicas são concebidas
causalmente e as evidências de sentido, como uma verdadeira inevitabilidade do acontecimento. Spengler não
pode sustentar-se metodicamente onde pretende fazer algo mais que caracterizar as manifestações históricas.
Na medida em que suas analogias às vezes contêm problemas reais, são apenas claras quando a declaração é
verificável causalmente em cada caso particular através de uma investigação e não por intuição fisionômica como
tal. O cuidadoso, que no particular sempre crê ter tudo na mão, deve ser determinado e estabelecido e, assim,
precisa renunciar à intuição do todo.
Em seguida, termina a substancialização ou hipostatização das unidades culturais. Não há mais que ideias de
um todo relativo e esquemas de tais ideias em construções ideais típicas. Estas, em princípio, podem colocar
em conexão uma grande variedade de fenômenos. Contudo, embora não formem sempre um todo, não podem
colocar tudo na mão, como se fosse um corpo inteiro.
140 JASPERS, Karl. Origem e meta da história
Ao lado de Spengler e Toynbee, Alfredo Weber desenvolveu, em nossos dias, uma
grande imagem da história. Sua concepção universal da história, sua sociologia da
cultura, permanece de fato aberta, apesar de sua tendência em tomar a totalidade
da cultura como o objeto do conhecimento. Desenvolvendo sua clarividente intuição
com um seguro sentido voltado para a classe de criações espirituais, traça o processo
da história de tal maneira que não obedece ao princípio da dispersão em culturas
separadas nem ao princípio da unidade da história humana. Contudo, realmente na
extremidade resulta a figura de um processo histórico universal que se articula em
culturas primárias mais antigas, culturas secundárias de primeira e segunda classifi-
cação até chegar à história da expansão do Ocidente a partir do ano de 1500.
Não há porque examinar mais essas concepções. Meu propósito consiste em
melhor esboçar, por minha conta, o esquema de uma concepção total.
Em meu esboço continuo inspirado, como por um artigo de fé, pela convicção de
que a humanidade possui uma origem única e uma meta final. Contudo, não conhe-
cemos em absoluto nem esta origem nem tampouco esta meta. Entrevemos apenas
esses dois polos num vislumbre de símbolos multívocos, entre os quais se move nossa
existência. Pela meditação filosófica, procuramos aproximar-nos de ambos, a saber,
da origem e da meta: Todos os homens somos parentes em Adão, procedemos das
mãos de Deus e fomos criados conforme sua imagem e semelhança.
Na origem, o ser tornava-se manifesto num presente sem consciência. O pecado
original colocou-nos no caminho para chegar à claridade da manifestação consciente,
mediante o conhecimento e a atividade prática finita, que se coloca um fim no tem-
po. Pela consumação do fim, alcançamos a harmonia das almas e vemo-nos uns aos
outros num presente amoroso, numa compreensão ilimitada, pertencendo ao único
reino dos espíritos eternos.
Em segundo lugar, contra a ideia spengleriana da separação absoluta de culturas que estão umas ao lado das
outras sem se relacionarem, devem ser observados os contatos, as transmissões, as apropriações (o budismo na
China, o cristianismo no Ocidente) empiricamente verificáveis e, que, segundo Spengler, só conduzem a pertur-
bações e pseudomorfoses; contudo, indicam para um fundamento comum.
O que seja esta unidade fundamental é, para nós, um problema infinito, tanto para o conhecimento quanto para
a realização prática. Toda unidade concebida muito propositadamente – constituição biológica ou pensamento
intelectual de validade geral ou propriedades comuns do ser humano – não corresponde à verdadeira unidade
em absoluto. A hipótese de que o homem é, em potência, o mesmo em todos os lugares, é tão legítima como a
tradução
oposição de que o homem é diferente e diferenciado em qualquer lugar, mesmo na singularidade dos indivíduos.
Pertence à unidade, em qualquer caso, a compressibilidade mútua. Spengler nega-a: diferentes culturas são pro-
fundamente distintas, incompreensíveis entre si. Por exemplo, não nos é possível compreender os antigos gregos.
Contra esta estranha justaposição de culturas eternamente estranhas, fala a possibilidade e a realidade parcial
de compreensão e apropriação. O que os homens pensam, fazem e produzem repassam aos demais, porque, em
suma, trata-se dos mesmos homens, onde quer que se encontrem.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 137-152, jan./jun. 2013 141
Tudo isso são símbolos, não realidades. Entretanto, concebemos unicamente a
história universal – acessível empiricamente – em seu sentido, seja que ela perma-
neça efetivamente ou que a concedamos aos homens, sob a ideia de uma unidade
do conjunto total da história. E nos fatos empíricos consideramos em que medida
correspondem ou se opõem em absoluto a essa ideia de unidade.
Dessa maneira, apresenta-se para nós uma imagem da história à qual a história
pertence: primeiramente, o que, como feito único e não passível de repetição, ocupa
um lugar intransferível no processo unitário da história humana e, em segundo lugar,
o que possui sua realidade e infalibilidade na comunicação ou na continuidade do
ser humano.
Esbocemos agora numa estrutura da história universal nosso esquema que trata
de dar à história da humanidade a máxima amplitude e a mais decisiva unidade.
4. Nossa moderna consciência histórica4
Nós homens vivemos numa grande tradição de saber histórico. Os grandes his-
toriadores desde a Antiguidade, todas as concepções da filosofia da história, a arte,
a poesia, enchem nossa fantasia histórica. Junta-se a isso, nos últimos séculos – mais
decisivamente no século XIX –, a investigação crítica da história. Nenhuma época
possuiu tanta informação do passado como a nossa. Através de publicações, recons-
truções, coleções temos em mãos o que as gerações anteriores jamais possuíram.
Hoje, parece estar em curso uma transformação de nossa consciência histórica. A
grande obra da investigação científica da história se depura e prossegue. Entretanto,
deve assinalar-se como este material é colocado numa forma, como serve, se depurado
no cadinho do niilismo, a fim de converter-se numa única e milagrosa língua da eterna
origem. Novamente a história deixa de ser uma esfera de mero saber e converte-se
numa questão de vida e de consciência da vida. Novamente deixa de ser assunto de
cultura estética à seriedade do escutar e responder. Nós já não temos ingenuamente
a história diante de nossos olhos. O sentido de nossa própria vida é determinado pela
forma como a conhecemos em seu conjunto, pela maneira como estabelecemos o
fundamento e a meta da história.
4. Nota de tradução: a obra Origem e meta da história, de Karl Jaspers, divide-se em: Primeira parte: História
universal (oito capítulos); Segunda parte: Presente e futuro (três capítulos); Terceira parte: O sentido da história
(cinco capítulos). Na seleta aqui publicada, em primeira mão, optamos por traduzir respectivamente: o “Prólogo”
geral, a “Introdução” à primeira parte e, por fim, “4. Nossa moderna consciência histórica” e “5. Superação da
história”, que constituem os dois últimos capítulos da terceira parte e, portanto, o final da obra.
142 JASPERS, Karl. Origem e meta da história
Talvez possamos caracterizar alguns traços da nova consciência histórica atual-
mente em desenvolvimento:
a) De novo na história temos a precisão dos métodos de investigação e a con-
sideração da realidade histórica imaginável para todos os lados,o sentido para o
entrelaçamento infinitamente complicado dos fatores causais, para a objetivação em
categorias completamente distintas das causais, em estruturas morfológicas, em leis
de sentido, em formas ideais típicas.
É certo, contudo, que atualmente ainda nos damos à leitura e deleite de meras
exposições narrativas. Por meio delas tratamos de preencher de imagens o campo
de nossa intuição interior. Porém, o essencial para nosso conhecimento é a intuição
unida à análise que hoje se resume sob o nome de sociologia. O representante é
Max Weber com sua obra, sua clara e multidimensional capacidade de compreensão
nesses amplos horizontes da intuição histórica, sem fixação de uma imagem total.
Aquele que conhece tal pensamento, já lhe custa trabalho ler muitas páginas de
Ranke por causa da forma vaga dos conceitos. A compreensão mais aguda exige
múltiplas informações de fatos e sua reunião pela aproximação de problemas que,
como tal, já são esclarecedores. Com isso, o antigo método comparativo, graças à
sutileza que tem alcançado, destaca o que é único na história de modo tão plástico
e impressionante. A profundidade no que é propriamente histórico eleva o mistério
do único à mais clara consciência.
b) Hoje está superada a atitude que via na história uma totalidade abarcável. Ne-
nhum esboço total que envolva a história pode ainda prender-nos. Não construímos
uma armação definitiva da totalidade da história, mas apenas uma possibilidade em
cada caso desmorona novamente.
Muito menos encontramos uma revelação da verdade absoluta localizada histori-
camente. Em nenhum lugar há o que se repetiria de maneira idêntica. A verdade jaz
numa origem jamais conhecida, se vista desde a perspectiva de um todo particular
que se manifesta de maneira limitada. Sabemos que, onde quer que nos posicione-
mos no caminho da absolutização histórica, algum dia se demonstrará a falsidade e
a dolorosa reação do niilismo liberará para novos pensamentos originais.
tradução
Apesar disso, não temos, mas sempre buscamos um saber da história total, no
qual ocupamos um momento único e irrepetível. A imagem total fornece, em cada
caso, o horizonte à nossa consciência.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 137-152, jan./jun. 2013 143
Hoje, pela consciência da fatalidade, estamos inclinados não só a considerar
relativamente fechadas algumas evoluções do passado, como também de perceber
como se terminasse e se completasse toda a história anterior. Parece que foi encerrada,
que ficou irremediavelmente perdida e que algo completamente novo deve ocupar
seu lugar. Já se tornaram comuns, para nós, as declarações do fim da filosofia, que
levam a despedir-nos dos epígonos e historiadores – do fim da arte, que na repetição
dos velhos estilos, no capricho e desejo particular, na situação da arte por formas
técnicas idôneas para um fim, gesticula desesperadamente em sua agonia – do fim
da história, no sentido que a tomamos e assumimos nos dias atuais. Somente num
último momento podemos ainda colocar diante dos olhos, como compreensível, o
que já vem se tornando estranho, o que já não é e nem nunca mais será, a saber,
enunciar ainda o que imediatamente será esquecido por completo.
Tudo isso parecem teses absolutamente incríveis, cuja consequência é sempre
um niilismo, para deixar lugar a algo de que não se sabe dizer nada exato; contudo,
é precisamente por isso que se fala tanto mais fanaticamente.
Diante disso está a moderna atitude de deixar em suspenso toda imagem total,
inclusive as negativas, para colocar diante de nossa imaginação todas as possíveis
imagens totais e tatear em que medida acertam. Dessa forma, obtém-se, em cada
caso, uma imagem amplíssima, general, na qual todas as demais são aspectos sin-
gulares, a imagem com a qual vivemos, tornando-nos conscientes de nosso presente
e, então, esclarecendo nossa situação.
Com efeito, a todo instante, realizamos intuições totais da história. Mas quando,
partindo delas, se desenvolvem esquemas da história como perspectivas possíveis,
deturpa-se seu sentido enquanto se toma uma concepção total como conhecimento
efetivo da totalidade, cujo curso é concebido em sua inevitabilidade. Somente alcan-
çamos a verdade quando, em lugar de investigar a casualidade total, investigamos
certas e determinadas casualidades até o infinito. Somente na medida em que algo
é concebível causalmente é conhecido neste sentido. Nunca se pode demonstrar a
afirmação de que algo acontece sem causa. Contudo, na história se oferecem, para
nossa visão, o salto da criação humana, a revelação de inesperados conteúdos, a
mutação na série de gerações.
Atualmente, toda construção de uma imagem total há de submeter-se a uma
condição, a saber, deve ser comprovada empiricamente. Trazemos unicamente imagens
de acontecimentos e estados que estão extintos. Ansiosamente buscamos aonde quer
que seja o que há de real na tradição. O que é irreal já não se pode sustentar. O que
144 JASPERS, Karl. Origem e meta da história
isso significa é possível ver no exemplo extremo de Schelling, que ainda tinha por
evidente os seis mil anos transcorridos desde a criação do mundo, ao passo que hoje
ninguém duvida dos achados de ossadas que demonstram a existência do homem
por mais de cem mil anos. A medida do tempo para a história que este feito introduz
é, na verdade, extrínseca, mas não pode ser esquecida e tem consequências para a
consciência, porque faz ressaltar a brevidade da história transcorrida.
A totalidade da história é um todo aberto. A respeito dela, a atitude empírica do
pequeno saber de feitos está conscientemente em constante disposição para recolher
novos feitos, e a atitude da filosofia torna inaceitável a totalidade de uma imanência
absoluta do mundo. Quando a empiria e a filosofia se fomentam mutuamente, então
existe para o homem pensante o espaço das possibilidades e, com isso, o da liberdade.
O todo aberto não possui para ele nem princípio nem fim. Para ele não pode haver
nenhuma oclusão da história.
O método do pensar total, ainda possível hoje, que a si mesmo analisa, contém
os seguintes momentos:
Os fatos são conhecidos e, por assim dizer, golpeados a fim de se escutar que som
possibilitam, permitindo então entrever o sentido que podem possuir.
Onde quer que seja, somos conduzidos até os limites, para alcançar os horizontes
mais longínquos:
Para além destes horizontes nos são apresentadas exigências. Disso resulta um
retrocesso do contemplador da história sobre si mesmo e seu presente.
c) Foi superada a maneira exclusivamente estética de considerar a história. Quan-
do frente à infinita matéria do conhecimento histórico, tudo, pelo simples fato de
ter acontecido, merece ser recordado a partir de um ponto de vista indiferente, que
se limita a determinar seu modo de ser até o infinito, então, segue-se a esta falta de
escolha um comportamento estético para o qual tudo em alguma medida é impor-
tante para excitar e satisfazer a curiosidade. Se alguém é belo, o outro também é.
Este historicismo que não se compromete, seja científico, seja estético, conduz para
a arbitrariedade, considerando que tudo possui o mesmo valor e, então, já nada
mais tem valor. Entretanto, a realidade histórica não é algo que comprometa. Nosso
verdadeiro tratamento da história é uma luta com a história. A história nos preocupa,
tradução
nos importa; o que nela nos importa aumenta constantemente. E o que nos importa
já é, por isso mesmo, uma questão atual do homem. A história se atualiza para nós,
tanto mais quanto menos se reduzir a objeto de gozo estético.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 137-152, jan./jun. 2013 145
d) Nós nos orientamos em direção à unidade da humanidade num sentido mais
amplo e concreto que antes. Conhecemos a profunda satisfação de penetrar através
de uma visada na origem única da humanidade, partilhando da riqueza de suas ra-
mificações no modo de se manifestar. Somente através de seu campo sentimo-nos
projetados de volta à própria historicidade peculiar que, em virtude do conhecimento,
faz-se tanto mais profunda para si mesma como mais aberta para todos os demais e
para a historicidade única que evolve o homem.
Não se trata da “humanidade” como um conceito abstrato no qual o homem
desaparece. Pelo contrário, em nossa consciência histórica, o conceito abstrato de
humanidade encontra-se hoje abandonado. É unicamente pela história real do con-
junto que a ideia de humanidade se torna concreta e com possibilidade de ser intu-
ída. Todavia, é justamente então que se torna refúgio na origem, da qual provêm os
justos critérios quando nos sentimos desorientados na perdição e na destruição de
todos os hábitos de pensar que eram considerados seguros até então. Essa origem
suscita a exigência da comunicação em sentido ilimitado, proporciona a satisfação do
parentesco no heterogêneo e a comunidade do humano através de todos os povos
e marca a meta que deixa uma possibilidade à nossa nostalgia e à nossa vontade de
estar juntos e unidos.
A história do mundo pode ser vista como um caos de sucessos fortuitos – em seu
conjunto, como um dos redemoinhos de um rio –, como se avançasse sempre de uma
confusão para outra, de uma desgraça para outra, com certos clarões de felicidade,
ilhas que ficam protegidas por um momento pela corrente até que também são tra-
gadas; em suma, para dizê-lo por uma metáfora de Max Weber: a história universal
é como uma rua que o diabo pavimentou com valores destruídos.
Vista assim, a história não possui unidade e, portanto, nem estrutura e nem senti-
do, mas apenas as inumeráveis e inabarcáveis séries causais, tais como se apresentam
no acontecer natural, só que na história são muito mais inexatas.
Contudo, a filosofia da história significa buscar a unidade, a estrutura, o sentido
da história universal – e para isso só pode interessar a humanidade em seu conjunto.
e) A história e o presente nos são inseparáveis. – A consciência histórica vive
entre dois polos: Eu retrocedo ante a história e, então, vejo-a como algo que está em
minha frente, como uma grande cordilheira distante com suas linhas principais e seus
acidentes singulares. Ou, pelo contrário, descubro a atualidade em seu conjunto, o
agora que existe e no qual eu existo e em cuja profundidade a história converte-se
para mim no presente que sou eu mesmo.
146 JASPERS, Karl. Origem e meta da história
Ambas as coisas são necessárias, a objetividade da história considerada como o
outro, que sem mim também existe, e a subjetividade do agora, sem a qual o outro
carece de sentido para mim. Um só vive em virtude do outro. Cada um por si só dei-
xaria inoperante a história, bem como o conhecimento indefinido do arbitrário ou
como coisa esquecida.
Todavia, como ambos se entrelaçam? Por nenhum método racional. Pelo contrário,
o movimento de um controla o do outro, enquanto que ao mesmo tempo o suscita.
Esta situação básica na consciência histórica determina a forma de convicção
da estrutura total da história. Renunciar a ela é impossível, pois de todos os modos
se apoderará em tal caso de nossa própria concepção, só que então de um modo
inconsciente e incontrolado. Contudo, ao realizá-la, deixa-a em suspenso como uma
coisa conhecida, embora, porém, um fator de nossa consciência de ser.
Enquanto a investigação e a existência, com sua consciência do ser, se realizam em
tensão mútua, a investigação, por sua parte, vive em tensão entre o todo e o menor.
A consciência histórica total enlaçada com a vivaz proximidade ao particular atualiza
um mundo em que o homem pode viver com seu fundamento como ele mesmo.
Franqueia, na amplitude da história e na identidade com o presente, a apropriação
da história em conjunto e a vida desde a origem presente. Nestas tensões, chega a
ser possível o homem que, desprezado de sua absoluta historicidade, chegou a ser
a si mesmo.
A imagem universal da história e a consciência atual da situação se sustentam
mutuamente. Da maneira como vejo a totalidade do passado, experimento o presente.
Quanto mais profundamente conquisto o fundamento passado, tanto mais essencial
é minha participação no curso presente das coisas.
De onde venho, para que vivo, isso só experimento no espelho da história. “Quem
não se der conta de três mil anos, permanece inexperientemente na obscuridade,
embora possa viver seu dia-a-dia”. Isto significa uma consciência do sentido, uma
orientação e, antes de tudo, uma consciência substancial.
É um fato assombroso, admirável, que possamos subtrair o presente, que pos-
samos perder a realidade, porque sempre vivemos, por assim dizer, em outra parte,
tradução
vivemos fantasticamente, vivemos na história, furtamo-nos da atualidade plena.
Todavia, em contrapartida, não está justificada a atualidade do mero momento,
a vida no agora sem recordação nem futuro; pois esta vida perde as possibilidades
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 137-152, jan./jun. 2013 147
humanas numa hora cada vez mais vazia, em que nada permanece na plenitude do
agora, derivada do presente eterno.
O enigma do agora pleno nunca será resolvido, embora possa ser aprofundado
pela consciência histórica. A profundidade do agora só se torna latente, identificando-
-se com o passado e o futuro, com a lembrança e a ideia pela qual vivo. Pelo eu sou
consciente do eterno presente através da forma histórica, da crença na veste histórica
que se adota em cada caso.
Ou, por acaso, será possível fugir da história, subtraindo-me dela no intemporal?
5. Superação da história
Até agora notamos o seguinte: a história não está acabada – o acontecer encerra
infinitas possibilidades; toda configuração da história como um todo conhecido cai
por terra, porque, o que recordamos, revela, em função de novos dados, uma ver-
dade antes ainda não percebida. O que primeiro havia sido colocado de lado como
essencial, cobra depois um caráter absolutamente essencial. Encerrar a história parece
impossível, pois transcorre do infinito ao infinito, e só uma catástrofe exterior pode
acabar absurdamente com tudo.
A história sempre nos deixa insatisfeitos. Gostaríamos de penetrar através da
história até um ponto situado antes e sobre toda a história, até o fundamento do ser,
ante o qual a história inteira não é mais que uma mera aparência que nunca pode
concordar consigo mesma: até este ponto, onde numa espécie de conhecimento
passado pela Criação, já não dependemos de uma maneira radical da história.
Contudo, para nós, nunca pode haver um ponto arquimediano conhecido fora
da história. Estamos sempre já inseridos nela. Recorrendo ao anterior, ao meio ou
ao depois de toda história, no que tudo envolve, no ser mesmo, buscamos em nossa
existência e na transcendência o que seria este ponto arquimediano, se pudesse tomar
a forma de um saber objetivo.
1) Superamos a história voltando-nos para a natureza. Diante do oceano, nos altos
montes, na tormenta, na inundação luminosa da aurora, no colorido dos elementos,
no inanimado mundo polar de neve e gelo, na selva, onde quer que a natureza ex-
trahumana nos fale, pode acontecer que nos sintamos como libertados. O retorno à
vida inconsciente, o retorno ainda mais profundo à clara serenidade dos elementos
inanimados pode fazer com que percamos o sossego, a alegria e a unidade indolor.
148 JASPERS, Karl. Origem e meta da história
Todavia, tudo isso nos engana quando é mais que um mistério de ser o sempre abso-
luto silêncio da natureza, experimentado por contraste na transição. Desse ser, que
está mais além de tudo o que chamamos bom e mau, belo e feio, verdadeiro e falso,
este ser que nos abandona sem coração nem compaixão. Se realmente encontramos
ali nosso refúgio, então é porque fugimos dos homens e de nós mesmos. Mas se
tomamos estas experiências da natureza, arrebatadoras no momento, como signos
mudos que apontam para o que está sobre toda a história, sem revelá-la, então são
verdades, na medida em que nos impulsionam e não nos retêm.
2) Superamos a história no que ela possui de valor intemporal, pela verdade,
que é independente de toda a história, na matemática e em todo conhecimento
convincente, em toda forma universal e universalmente válida, que permanece alheia
a toda mudança, seja conhecida ou não. Ao apreender esta claridade do que é vá-
lido, podemos ser invadidos por um entusiasmo. Temos um ponto fixo, um ser que
persiste. Contudo, somos novamente enganados se nos apropriamos dele, porque
também esta validade é simplesmente um signo, mas não contribui para a substância
do ser. Deixa-nos manifestamente indiferentes, vai se manifestando no progresso
constante de seu desencobrimento. É essencialmente a forma da validez enquanto
que o conteúdo da indefinida multiplicidade do que existente nunca encontra o ser. É
unicamente nossa inteligência que se tranquiliza em algo que persiste. Nós mesmos,
não. Pelo fato de que existe esta validez independente e livre de toda a história que,
por sua vez, é um signo que aponta para o transtemporal.
3) Superamos a história no fundamento da história, isto é, como historicidade
total do ser do mundo. A partir da história humana parte um caminho que leva ao
fundamento desde o qual toda a natureza – em si ahistórica – se move na luz de uma
historicidade. Contudo, isso apenas para uma especulação, pela qual é possível dizer
que seja uma forma de a historicidade do homem parecer corresponder a algo, saído
da natureza, em suas próprias disposições biológicas, em paisagens e acontecimentos
naturais. Estes são, desde sempre, tão-somente casuais e sem sentido, catástrofes
ou uma simples e indiferente presença e, no entanto, a história lhes empresta alma,
por assim dizer, como se fossem correspondências derivadas de uma raiz comum.
4) A este fundamento da historicidade conduz-nos a historicidade da própria
tradução
existência. A partir do ponto de onde, na incondicionalidade com que aceitamos e
escolhemos a forma de encontrar-nos no mundo, pela qual nos decidimos e nos pre-
senteamos no amor e, ao inclinar o ser ao tempo, nós nos fazemos historicidade – a
partir deste ponto se projeta a luz sobre a historicidade da história, em virtude de
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 137-152, jan./jun. 2013 149
nossa comunicação, a qual, pelo caráter cognoscível da história, incide na existência.
Aqui superamos a história no eterno presente, estamos como existência histórica na
história que transcende a história.
5) Superamos a história no inconsciente. O espírito do homem é consciente. A
consciência é o instrumento sem o qual não existe para nós saber nem experiência,
nem ser do homem, nem relação com a transcendência. O que não é consciência é
inconsciência, um conceito negativo que, por seu conteúdo, admite infinitas inter-
pretações.
Nossa consciência está orientada pelo inconsciente, ou seja, tudo o que nós encon-
tramos no mundo, sem que se comunique desde isso algo interior. E nossa consciência
é sustentada pelo inconsciente, é um contínuo emergir a partir do inconsciente e volta
a deslizar no inconsciente. Entretanto, do inconsciente só podemos adquirir experi-
ência por meio da consciência. Em cada passo consciente de nossa vida, sobretudo
em cada ação criadora de nosso espírito, auxilia-nos um elemento inconsciente que
existe em nós. A pura consciência não pode nada. A consciência é como a crista de
uma onda, como um cume sobre um extenso e profundo subsolo.
Este elemento inconsciente que nos sustenta possui dois sentidos: o inconsciente
que é a natureza, em si e para sempre obscuro, e o inconsciente que é o germe do
espírito que aspira revelar-se.
Quando superamos a história no inconsciente, no sentido do que existe e a torna
presente no fenômeno da consciência, este inconsciente nunca é a natureza, mas
aquilo que se manifesta mediante símbolos na língua, na poesia, na representação,
na reflexão. Nós não só vivemos disso, mas sobre isso. Quanto mais claramente per-
mitimos manifestar-se, a consciência torna-se, pelo contrário, cada vez mais substan-
cialmente, mais profunda e ampliadamente atual. Pois nela desperta aquele germe,
cujo despertar a potencia e a amplia de maneira a mais própria. O peso do espírito
na história não só utiliza um inconsciente previamente dado, mas engendra um novo
inconsciente. Contudo, ambos os modos de expressar-se são falsos em relação ao
único inconsciente, penetração em que não é só processo da história do espírito, mas
que é o ser que existe sobre, antes e depois de toda a história.
Todavia, como inconsciente que é, só se designa negativamente. Com este concei-
to, não se ganha a cifra do ser, como pretendeu inutilmente Eduard von Hartmann,
num mundo positivista. O inconsciente só é valioso quando ganha forma na consci-
ência e, portanto, deixa de ser inconsciente. Consciência é o real e verdadeiro. Nossa
150 JASPERS, Karl. Origem e meta da história
meta é a consciência mais elevada, não o inconsciente. Superamos a história no in-
consciente para alcançar através dele, pelo contrário, uma consciência potencializada.
É enganosa a aspiração da inconsciência que, apesar disso, sempre se apodera
de nós, os homens, em situações calamitosas. Se um deus babilônico quisesse supri-
mir o estrondo do mundo com as palavras “quero dormir”; se o ocidental sentisse
saudades do estado em que se encontrava no paraíso, antes de provar da árvore do
conhecimento; se considerasse melhor não ter nascido; se aspirasse o estado de na-
tureza anterior a toda cultura; se concebesse a consciência como uma infelicidade; se
visse toda a história como um erro e quisesse anulá-la, tudo isso seria o mesmo em
múltiplas formas. Isso não é a superação da história, mas a fuga perante a história e
perante a própria existência dela.
6) Superamos a história quando o homem se atualiza em suas obras mais elevadas,
mediante as quais pode, por assim dizer, capturar o ser e torná-lo comunicável. Nesse
sentido, o fato de os homens se terem deixado absorver pela eterna verdade que fala
através deles, é aquilo que, embora em vestes históricas, transcende toda história e
nos conduz pelo caminho que, passando pelo mundo histórico, conduz ao antes de
toda a história e fala em virtude dela. Ali já não se coloca a pergunta de onde e desde
onde, nem pelo futuro e pelo progresso, mas que no tempo há algo que já não é
tempo somente, porém que vem a nós superando todo tempo, como o ser mesmo.
A história é, pois, por sua vez, o caminho feito no e pelo transhistórico. Na visão
do grande – criado, feito, pensado – resplandece a história como presente eterno.
Então já não satisfaz uma curiosidade, mas torna-se força que instiga. O que de
grande há na história prende como objeto de veneração o fundamento que está
sobre toda a história.
7) A concepção da história em sua totalidade conduz mais além da história. A
unidade da história já não é, por sua vez, história. Conceber esta unidade já significa
remontar-se pela história ao fundamento desta unidade, em virtude da qual existe a
unidade que permite à história ser total. Entretanto, este remontar-se pela história à
unidade da história continua sendo, por sua vez, uma tarefa na história. Não vivemos
transhistoricamente no saber da unidade, mas enquanto vivemos desde a unidade,
vivemos transhistoricamente na história.
tradução
Toda tentativa de remontar-nos além da história converte-se em engano quando
abandonamos a história. O paradoxo fundamental de nossa existência, isto é, poder
viver no mundo tão-somente transcendendo o mundo, repete-se na consciência histó-
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 137-152, jan./jun. 2013 151
rica que se remonta para além da história. Não há nenhum caminho que contorne o
mundo, mas somente o caminho através do mundo; nenhum caminho que contorne
a história, mas somente através da história.
8) Quando contemplamos os grandes lapsos de tempo da pré-história e os cur-
tos lapsos da história, nos é apresentada a questão seguinte: em vista dos milênios
transcorridos, não seria a história um fenômeno passageiro? No fundo, a pergunta
não é para ser contestada pela tese original: o que tem um começo tem também um
término – embora dure milhões ou mil milhões de anos.
Mas a resposta – impossível para nosso saber empírico – é supérflua para nossa
consciência do ser. Pois mesmo quando nossa imagem da história pode ser radical-
mente modificada – segundo vemos um infinito progresso ou as sombras do fim –, o
essencial é que o saber total da história não é o último saber. Trata-se da exigência da
atualidade como eternidade no tempo. A história está rodeada do amplo horizonte
no qual a atualidade vale como parada, conservação, decisão, cumprimento. O que é
eterno aparece como decisão no tempo. Pela consciência transcendente da existência
a história se esvaece no eterno presente.
Entretanto, na história mesma está a perspectiva do tempo: talvez ainda uma
longa, muito longa história da humanidade sobre o planeta, convertido numa uni-
dade. Nessa perspectiva, a questão para cada qual é onde se quer estar, para que se
quer atuar.
152 JASPERS, Karl. Origem e meta da história
Você também pode gostar
- Guimaraes Rosa Grande Sertao Veredas PDFDocumento164 páginasGuimaraes Rosa Grande Sertao Veredas PDFDaniel Franção Stanchi0% (1)
- Projeto Dança Na EscolaDocumento6 páginasProjeto Dança Na EscolaJavaerton Souza100% (3)
- Renaut (Ed) His - Filos.politica 1 2 Pesq DigDocumento321 páginasRenaut (Ed) His - Filos.politica 1 2 Pesq Digamartins124Ainda não há avaliações
- Tratado Teologico-Politico de Espinosa PDFDocumento222 páginasTratado Teologico-Politico de Espinosa PDFcristiano68071100% (1)
- Hick - O Mal e o Deus Do Amor PDFDocumento375 páginasHick - O Mal e o Deus Do Amor PDFSERGIO RICARDO NEVES DE MIRANDAAinda não há avaliações
- David S. Oderberg - Vol. 2 - Ética Aplicada - Uma Abordagem Não ConsequencialistaDocumento282 páginasDavid S. Oderberg - Vol. 2 - Ética Aplicada - Uma Abordagem Não ConsequencialistaEduardo Figueiredo100% (1)
- Fora de Controle Lisa PDFDocumento207 páginasFora de Controle Lisa PDFPriscila Rodrigues67% (6)
- A Ética Da Crença - W. K. Clifford, William James e Alvin Plantinga - Desidério MurchoDocumento27 páginasA Ética Da Crença - W. K. Clifford, William James e Alvin Plantinga - Desidério MurchoNelber Ximenes Melo0% (2)
- Lista de Livros Sobre ConservadorismoDocumento4 páginasLista de Livros Sobre ConservadorismoMarcos Antônio Martins100% (1)
- Princípios Da Filosofia Do Futuro - Ludwig FeuerbachDocumento49 páginasPrincípios Da Filosofia Do Futuro - Ludwig FeuerbachVINÍCIUS BEZERRA100% (2)
- FERRY - Luc-Kant Uma Leitura Das Três Críticas PDFDocumento20 páginasFERRY - Luc-Kant Uma Leitura Das Três Críticas PDFPaulo Wolfenson0% (1)
- Karl Popper E John Condry-Televisão Um Perigo para A DemocraciaDocumento47 páginasKarl Popper E John Condry-Televisão Um Perigo para A Democraciasamantha mendesAinda não há avaliações
- Tratado Da Natureza HumanaDocumento3 páginasTratado Da Natureza Humanafbenedito813Ainda não há avaliações
- ARENDT, Hannah. Verdade e Política PDFDocumento27 páginasARENDT, Hannah. Verdade e Política PDFFelipe DrummondAinda não há avaliações
- Fichamento de Filosofia - TeetetoDocumento5 páginasFichamento de Filosofia - TeetetoNanjinha CarregosaAinda não há avaliações
- Karl Popper - Contra A Verdade em Favor Da RazaoDocumento26 páginasKarl Popper - Contra A Verdade em Favor Da RazaoVictor WakninAinda não há avaliações
- Lima VazDocumento14 páginasLima VazMarcos MayelaAinda não há avaliações
- Benjamin Constant - Da Liberdade Dos Antigos Comparada À Dos ModernosDocumento7 páginasBenjamin Constant - Da Liberdade Dos Antigos Comparada À Dos ModernosJessica AmorimAinda não há avaliações
- Apologia de Sócrates e CrítonDocumento75 páginasApologia de Sócrates e Crítonkaobraga78100% (1)
- Cassirer - A Questão de Jean-Jacques RousseauDocumento20 páginasCassirer - A Questão de Jean-Jacques RousseauKevin FerreiraAinda não há avaliações
- Las Casas e SepulvedaDocumento49 páginasLas Casas e SepulvedaLayla Jorge Teixeira Cesar50% (4)
- O Modo de Vida Filosófico em Pierre Hadot PDFDocumento26 páginasO Modo de Vida Filosófico em Pierre Hadot PDFAna Carolina LimaAinda não há avaliações
- Uma Idéia Fundamental Da Fenomenologia de Husserl SARTREDocumento3 páginasUma Idéia Fundamental Da Fenomenologia de Husserl SARTREMatsu MatsuAinda não há avaliações
- Pré-Socraticos: Físicos e SofistasDocumento18 páginasPré-Socraticos: Físicos e SofistasSthéfane SilvaAinda não há avaliações
- Nietzsche Alem Do Homem e Idealidade Estetica 9788566045390 - CompressDocumento198 páginasNietzsche Alem Do Homem e Idealidade Estetica 9788566045390 - CompressMaria AparecidaAinda não há avaliações
- O Essencial Proudhon Francisco TrindadeDocumento94 páginasO Essencial Proudhon Francisco TrindadeMatheus SantanaAinda não há avaliações
- A Lingua de Pau Vladimir VolkoffDocumento5 páginasA Lingua de Pau Vladimir VolkoffPoliCamAinda não há avaliações
- O Direito de Ignorar o Estado - Herbert Spencer - LibertyzineDocumento8 páginasO Direito de Ignorar o Estado - Herbert Spencer - LibertyzineyarghoAinda não há avaliações
- Jaspers - Iniciacao Filosofica - Cap. 1Documento5 páginasJaspers - Iniciacao Filosofica - Cap. 1Marcus TorresAinda não há avaliações
- Feuerbach Ludwig Principios Filosofia FuturoDocumento76 páginasFeuerbach Ludwig Principios Filosofia FuturoTarcísioTasAinda não há avaliações
- Apresentação de Gênese e Estrutura Da Antropologia de Kant de FoucaultDocumento3 páginasApresentação de Gênese e Estrutura Da Antropologia de Kant de FoucaultAndré Constantino YazbekAinda não há avaliações
- Baixar Povo de Deus PDF Grátis - Juliano SpyerDocumento2 páginasBaixar Povo de Deus PDF Grátis - Juliano SpyerjuliaAinda não há avaliações
- Origem Dos Grandes Erros FilosoficosDocumento124 páginasOrigem Dos Grandes Erros FilosoficosFabio Silva100% (1)
- Novum OrganumDocumento144 páginasNovum OrganumAnna Beatriz LisbôaAinda não há avaliações
- Dissertação Sobre A Forma e Os Princípios Do Mundo Sensível e Inteligível 1770 Immanuel KantDocumento21 páginasDissertação Sobre A Forma e Os Princípios Do Mundo Sensível e Inteligível 1770 Immanuel KantJoteko Teko0% (1)
- O Racionalismo de Rousseau - Derathe.Documento26 páginasO Racionalismo de Rousseau - Derathe.mateustgAinda não há avaliações
- Jacques Maritain Rumos Da Educacao PDFDocumento192 páginasJacques Maritain Rumos Da Educacao PDFgiulia trivellato100% (2)
- A Ideia de Progresso em KantDocumento13 páginasA Ideia de Progresso em KantClaudio Magioli NúñezAinda não há avaliações
- MFS - Tratado de Economia, Vol. 2Documento232 páginasMFS - Tratado de Economia, Vol. 2Julia RodriguesAinda não há avaliações
- Luiz Felipe Ponde Falando de KierkegaardDocumento2 páginasLuiz Felipe Ponde Falando de KierkegaardLeonardo Alves de SouzaAinda não há avaliações
- Mill Consideracoes Sobre o Governo RepresentativoDocumento184 páginasMill Consideracoes Sobre o Governo RepresentativoVinicius CastroAinda não há avaliações
- É Crenca Verdadeira Justificada Conhecimento - Edmund GettierDocumento3 páginasÉ Crenca Verdadeira Justificada Conhecimento - Edmund GettierClaudio ChagasAinda não há avaliações
- O CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕES - As Consequências Desta Ideologia Nas Disputas de Poder No Séc. XXI (2001)Documento15 páginasO CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕES - As Consequências Desta Ideologia Nas Disputas de Poder No Séc. XXI (2001)nelson duringAinda não há avaliações
- Luz Sobre A Idade Mdia RgineDocumento182 páginasLuz Sobre A Idade Mdia RginetaniasampaioAinda não há avaliações
- Estrabao Livro3geografiaDocumento168 páginasEstrabao Livro3geografiaCatarina Magalhães100% (1)
- Políticas e Poéticas Audiovisuais: diálogos sobre Cinema e EducaçãoNo EverandPolíticas e Poéticas Audiovisuais: diálogos sobre Cinema e EducaçãoAinda não há avaliações
- Oliveira ViannaDocumento73 páginasOliveira ViannaPedro Mourão100% (1)
- Unicamp - Platonismo PDFDocumento276 páginasUnicamp - Platonismo PDFVITORAinda não há avaliações
- KANT, Prolegomenos PDFDocumento12 páginasKANT, Prolegomenos PDFAUH57000% (1)
- O Ente e A Essência - São Tomás de Aquino - PDF - Google DriveDocumento1 páginaO Ente e A Essência - São Tomás de Aquino - PDF - Google DriveCristiane Lenzi BeiraAinda não há avaliações
- Gilberto Freyre - Sociologia - Tomo IIDocumento447 páginasGilberto Freyre - Sociologia - Tomo IIDouglas SouzaAinda não há avaliações
- Resumo para A Metacritica Da Teoria Do Conhecimento Adorno Theodor WDocumento2 páginasResumo para A Metacritica Da Teoria Do Conhecimento Adorno Theodor WJanus Pantoja Oliveira Azevedo100% (1)
- HABERMAS, Jurgen. Entre Naturalismo e ReligiãoDocumento199 páginasHABERMAS, Jurgen. Entre Naturalismo e ReligiãoMil Ton88% (16)
- BRANDÃO, Tanya Maria Pires. O Escravo Na Formação Social Do Piauí - Perspectiva Histórica Do Século XVIIIDocumento100 páginasBRANDÃO, Tanya Maria Pires. O Escravo Na Formação Social Do Piauí - Perspectiva Histórica Do Século XVIIIAna Maria S. VieiraAinda não há avaliações
- Dominação e Emancipação em Marcuse PDFDocumento122 páginasDominação e Emancipação em Marcuse PDFBacchini BacAinda não há avaliações
- COMO PENSAM AS INSTITUIÇÕES SínteseDocumento81 páginasCOMO PENSAM AS INSTITUIÇÕES SínteseLemuel GuerraAinda não há avaliações
- Ideologia e Mitologia: História, Símbolos, Política e Religião em Eric VoegelinNo EverandIdeologia e Mitologia: História, Símbolos, Política e Religião em Eric VoegelinAinda não há avaliações
- O Olhar da Época: Imagem, comunicação e poder na Propaganda Fide InquisitorialNo EverandO Olhar da Época: Imagem, comunicação e poder na Propaganda Fide InquisitorialAinda não há avaliações
- Tolices sobre Pernas de Pau: um comentário à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789No EverandTolices sobre Pernas de Pau: um comentário à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789Ainda não há avaliações
- Cesar Guimarães: Uma Antologia de Textos PolíticosNo EverandCesar Guimarães: Uma Antologia de Textos PolíticosAinda não há avaliações
- 1 JAPPE, Anselm. Crédito À Morte A Decomposição Do Capitalismo e Suas Críticas, 2013 (Capítulo 1) PDFDocumento32 páginas1 JAPPE, Anselm. Crédito À Morte A Decomposição Do Capitalismo e Suas Críticas, 2013 (Capítulo 1) PDFfalconincAinda não há avaliações
- SMITH, Plinio Junqueira - O Ceticismo Naturalista de David HumeDocumento10 páginasSMITH, Plinio Junqueira - O Ceticismo Naturalista de David HumefalconincAinda não há avaliações
- PIRENNE - Maomé e Carlos Magno PDFDocumento18 páginasPIRENNE - Maomé e Carlos Magno PDFfalconincAinda não há avaliações
- BLANCHOT, Maurice - A Experiência de Proust PDFDocumento11 páginasBLANCHOT, Maurice - A Experiência de Proust PDFfalconincAinda não há avaliações
- A Tentação de Existir - Emil CioranDocumento92 páginasA Tentação de Existir - Emil Cioranfalconinc100% (2)
- Resenha Marshall Sahlins Ilhas de HistóriaDocumento5 páginasResenha Marshall Sahlins Ilhas de HistóriaRossana AulaAinda não há avaliações
- Tecnosubjetividade - Cadernos de SubjetividadeDocumento181 páginasTecnosubjetividade - Cadernos de SubjetividadePatrícia AraujoAinda não há avaliações
- Peter Berger PDFDocumento26 páginasPeter Berger PDFCynthia HamlinAinda não há avaliações
- Discurso VazioDocumento9 páginasDiscurso VazioEliza FerreiraAinda não há avaliações
- Trabalho Feito de Introdução A Filosofia RevistoDocumento7 páginasTrabalho Feito de Introdução A Filosofia RevistoCaudêncio CarlosAinda não há avaliações
- Anacronismo - Ensaio Sobre Citação de O. DumoulinDocumento7 páginasAnacronismo - Ensaio Sobre Citação de O. DumoulinSamadhi Gil100% (1)
- (RESENHA) "A Vida Na Sarjeta", de Theodore DalrympleDocumento6 páginas(RESENHA) "A Vida Na Sarjeta", de Theodore DalrympleMoacirAinda não há avaliações
- 02 o Papel Do Professor e Do Professor AlfabetizadorDocumento4 páginas02 o Papel Do Professor e Do Professor AlfabetizadorJoão MarceloAinda não há avaliações
- Tesedoutoradorevisada PDFDocumento219 páginasTesedoutoradorevisada PDFmarcelloAinda não há avaliações
- Alta PerformanceDocumento33 páginasAlta PerformanceLucas PaduaAinda não há avaliações
- CreasDocumento1 páginaCreasJohn CarterAinda não há avaliações
- Psicoeducacao Do LutoDocumento3 páginasPsicoeducacao Do LutoGilmara Dreher100% (1)
- 2012 Tese VmsantosDocumento358 páginas2012 Tese VmsantosLis GonçalvesAinda não há avaliações
- 3 - Mitos, Traumas e UtopiasDocumento20 páginas3 - Mitos, Traumas e UtopiasCarlos HerbertoAinda não há avaliações
- A Estrutura Sincrética Do Serviço SocialDocumento141 páginasA Estrutura Sincrética Do Serviço Socialgersonweckl50% (2)
- A Construção Do Discurso Paródico Na PornochanchadaDocumento269 páginasA Construção Do Discurso Paródico Na PornochanchadaVyctor NegreirosAinda não há avaliações
- Cartilha de Formação-CEPISDocumento66 páginasCartilha de Formação-CEPISPaulo Henrique Oliveira LimaAinda não há avaliações
- Tempo Administrao e PrioridadesDocumento44 páginasTempo Administrao e PrioridadesJanay FariasAinda não há avaliações
- Norman Geisler - Fundamentos InabaláveisDocumento426 páginasNorman Geisler - Fundamentos InabaláveisCarlos Antonio100% (1)
- Paulo Freire - A Importância Do Ato de LerDocumento49 páginasPaulo Freire - A Importância Do Ato de LerAnonymous PUw3YtJ67% (3)
- FIORIO. Mito e Guerra Na Historia LangobardorumDocumento90 páginasFIORIO. Mito e Guerra Na Historia LangobardorumflotocorazonAinda não há avaliações
- Autoconhecimento - Base Da Sabedoria - Jiddu Krishnamurti PDFDocumento268 páginasAutoconhecimento - Base Da Sabedoria - Jiddu Krishnamurti PDFDavid Luiz100% (1)
- George Canguilhem (1904-1995) O QUE É A PSICOLOGIA? DOC 02Documento19 páginasGeorge Canguilhem (1904-1995) O QUE É A PSICOLOGIA? DOC 02marcos aurelioAinda não há avaliações
- Filosofia - Plano de Curso - Ensino Médio.2017Documento6 páginasFilosofia - Plano de Curso - Ensino Médio.2017Ivo Nogueira - Temático100% (2)
- FilosofiaDocumento145 páginasFilosofiaCristnna TorresAinda não há avaliações
- Resumo Melanie KleinDocumento7 páginasResumo Melanie KleinNathan BarbosaAinda não há avaliações
- Livro 2 Ressignificar Corpo Trabalho EducaçãoDocumento271 páginasLivro 2 Ressignificar Corpo Trabalho EducaçãoEmerson Duarte Monte100% (1)