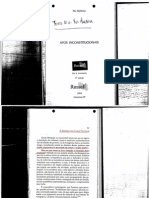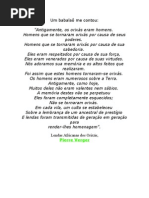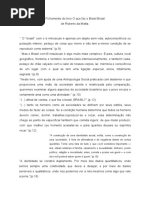Bandidos
Bandidos
Enviado por
Leo SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Bandidos
Bandidos
Enviado por
Leo SouzaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Bandidos
Bandidos
Enviado por
Leo SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
Bandidos & bandidos: os vários tempos da cidade
Criminals & criminals: the city over time
Rôssi Alves Gonçalves,
Doutora em Teoria Literária, Profa. adjunta da
Universidade Federal Fluminense
E-mail: rossialves@ibest.com.br
RESUMO: SUMMARY:
A cidade do Rio de Janeiro, com sua The city of Rio de Janeiro, with its tendency
tendência à rebeldia e com a imensa to rebellion and major difficulty in restricting
dificuldade de conter o crime, sempre foi crime, has always been a propitious area for
espaço propício ao surgimento de ícones de the emergence of cultural icons – sometimes
uma cultura, às vezes, romântica, simpática, romantic, likeable, glamorous – but often
glamourosa e, muitas vezes, criminosa, criminal also. Over the years, the media,
também. Em tempos diversos, mídia, literature, cinema and art itself have helped to
literatura, cinema, a arte em geral ajudaram give a certain aura to these characters, which
a construir certa aura sobre tais tends to perpetuate them in the carioca
personagens, o que corrobora a memory.
perpetuação dos mesmos na memória Key words: outlaws; heroism; discourses
carioca.
Palavras-chave: marginais; heroísmo;
discursos
n.5, 2011, p.141-160 141
RÔSSI ALVES GONÇALVES
“Muambas, baganas e nem um tostão”: celebridades marginais
O termo malandro, derivação de malandrim, tem sua origem em malandrino, do italiano,
que indica salteador, vagabundo, popularmente conhecido como o esperto, aquele que se
dá bem sem fazer esforço e que goza, ainda, da simpatia popular.
O malandro, como símbolo marginal carioca, ganha contornos mais nítidos no fim do
século XIX e alcança enorme repercussão porque, de certa forma, traduz o espírito de
alguns grupos da sociedade carioca. Uma sociedade que apresenta enorme efervescência
social: cafés, bares, teatros, mas não comporta a enorme massa de ex-escravos, pobres,
favelados. Tais grupos não têm acesso ao conforto dessa nova sociedade, mas querem fazer
parte dela. Assim, por meio de trabalhos alternativos ou pela via da malandragem, eles
buscam a inclusão nesse meio social emergente e agitadíssimo.
Dessa forma, o malandro adquire expressividade e se torna referência contumaz para
o imaginário artístico brasileiro, sobretudo, para a crônica e a música. Pertencente às camadas
mais baixas da cidade, o malandro é, predominantemente, negro ou mestiço, habitante de
cortiços, morros e favelas (Cf. MATOS, 1986):
Entre os cariocas o malandro está simbolizado pelo homem do morro, que aí acampou,
ergueu o seu barraco ainda sob o complexo da escravidão e faz arruaças por prazer,
numa demonstração de homem livre, de valentão senhor de seu nariz (BANDEIRA E
ANDRADE, 1965, p. 506).
Manduca da Praia, o malandro descrito pelo cronista Luiz Edmundo, ilustra bem esse
personagem que faz do Centro do Rio de Janeiro, no início do século, o local especial de suas
atuações: “na zona do femeaço, entre fuzileiros navais e guardas da polícia” (EDMUNDO,
1957, p. 379), nas rodas de samba, casas de jogos e, ainda, participando da vida política
carioca como cabo eleitoral.
E é, sobretudo, nessa relação com políticos e autoridades que ele tem sua glória ilusória,
porque nunca deixa de pertencer ao submundo, ao grupo que, se por um lado protege
políticos e está ao lado do governo, também está marcado por provocar inúmeras confusões
quando a capoeira não está a serviço da elite: “Manduca da Praia, por cálculo, é cabo eleitoral
do partido do governo e sua escora nos colégios eleitorais, onde comparece sempre eriçado
de facas, navalhas e de cédulas (...)”(EDMUNDO, 1957, p. 380). Ou seja, ocupa um lugar
fronteiriço: nem pertence ao mundo político, que é o mundo do reconhecimento, nem pode
ser tomado por criminoso; equilibra-se entre políticos e brancos ricos - e aí é o malandro
aceito - e prostitutas e jogadores perseguidos e, nesse caso, aproxima-se, intimamente, da
marginalidade assustadora, como aquela descrita por Costallat em O jogo do Bull-Dog
(1995): um antro, onde se encontram marginais diversos e perigosos.
“Vive, ainda, dividindo-se entre a viola e a navalha: em contínuos desafios, ora calmos,
de viola em punho, ora mais violentos”, (BANDEIRA E ANDRADE, 1965, p. 506) sempre
descritos com grande orgulho:
142 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
Saía eu, honte, de tardinha, do chatô para ir ao chorô do Madruga, no Agrião,
quando risca na minha frente um cujo, meio çarará e que eu me recordei de haver
estragado num dia de festa no arraial da Penha por motivo de Ermelinda que então
vevia comigo. O cabra vinha zarro para tirar sua desforra e fazer sua deferença. Não dei
tempo ao bruto de comparecer com os argumentos (EDMUNDO, l957, p. 378).
O que distingue o malandro de tantos personagens marginais da história da cidade é
essa flutuação entre os mundos da honestidade e da desonestidade. É inconcebível para um
malandro projetar-se na vida por meios legais. A sua introjeção acontece pela sua
competência em enganar, trapacear e comover. “Se trazes no bolso a contravenção/
’Muambas, baganas e nem um tostão/ A lei te vigia, bandido infeliz/ com seus olhos de raio
x” (BUARQUE, 1979). É um malandro persuasor, que aplica golpes diversos, idealizador de
grandes “jogadas” a fim de se dar bem e, ainda, parece inalcançável pela lei.
Há a aversão ao trabalho - para otário. No entanto, o contato com o mundo da
ilegalidade é tímido e tal fato, talvez, explique porque, mesmo não se envolvendo com o
trabalho burguês e com a ordem pregados pelas autoridades, ele, ainda assim, firma-se
como uma figura de grande apelo popular, o barão da ralé:
Quando ele parte, maneiroso e gentil, cantarolando, alegre, o “pinho” entre os dedos,
saudando os desconhecidos do cortiço - Bá tarde! muito orgulhoso das suas calças
brancas, da sua bipartida gaforinha, há um movimento de admiração que o envolve e
acaricia. Gabam-lhe a voz, o violão, o bom corte do terno feito na Tesoura de Prata à rua
da Saúde (...) (EDMUNDO, 1957, p. 378).
Os pequenos desvios cometidos pelo malandro são tratados, apenas, como esperteza;
não são, normalmente, considerados golpes, porque não se destinam aos homens honestos,
humildes, mas, comumente, a seus outros semelhantes: “O malandro/ Na dureza/ Senta à
mesa/ Do café/ Bebe um gole/ De cachaça/ Acha graça e dá no pé” (BUARQUE, 1979). É o
indivíduo que não se intimida e aplica o golpe. Um desenho da malandragem mais ingênua,
romântica. Não age, ainda, por desonestidade ou arrogância:
O malandro é o fraco a defender-se das insídias do meio e que tenta conseguir o seu
quinhão através de artimanhas, não tanto por desonestidade como para despender um
mínimo de esforço das poucas sobras de energia que dispõe (BANDEIRA E ANDRADE,
1965, p. 505).
Por não se encontrar totalmente na irregularidade, já que ao mesmo tempo que se
afasta do paradigma de cidadão também não se inscreve no mundo do crime, o malandro
é, apenas, a figura excêntrica, ora merecedor de admiração, ora de ajustes de contas com a
Polícia. Ele se equilibra: “Entre deusas e bofetões/ Entre dados e coronéis/ Entre parangolés
e patrões/ O malandro anda assim de viés (BUARQUE, 1979). O malandro nem ocupa
totalmente o lugar do ilícito, nem está inserido na ordem burguesa: ele está na fronteira.
n.5, 2011, p.141-160 143
RÔSSI ALVES GONÇALVES
Esse conflito com a Polícia vai rareando a medida que as suas atividades vão perdendo
a marca marginal: quando o samba começa a ser reconhecido ou quando a capoeira perde
a conotação violenta e marginal e se impõe como esporte e dança, o malandro é suportado,
embora não ocupe, ainda, um lugar dentro da ordem burguesa. Nesse ponto, o malandro
redefine-se: ou assume a ordem, ou vira bandido e vai viver totalmente na ilegalidade.
A malandragem cresce, também, entre aqueles que aparentemente estariam acima de
qualquer suspeita. Porém, essa malandragem profissional é desglamourizada, não “anda
de viés” e, frequentemente, ocupa a cena do poder constituído - econômico ou político -
transmitindo, séria e bem composta, a pose do colarinho branco. Esse símbolo marginal,
predominante até a metade do século passado, cede espaço ao bandido “bom”, também
morador de áreas carentes e cujos recursos para sobrevivência não se baseiam no trabalho.
A diferença fundamental existente entre o malandro e o bandido “bom” reside na total
inserção deste no caminho da ilegalidade. Com o bandido “bom” desfaz-se a fronteira entre
o legal e o ilegal; já não há o trânsito pelos dois lados, mas, sim, uma adesão explícita à via
da ilegalidade. O malandro assume um lugar dentro da marginalidade carioca por não se
fixar na ordem burguesa recém-instalada - o tipo de ócio visto por alguns como uma forma
de protesto. Já a imagem que a mídia constrói do bandido “bom”, que atua principalmente
nas décadas de 1950/1960, é de um personagem com atuação totalmente criminosa,
protagonista de roubos, jogo do bicho, homicídios, venda de maconha e a utilização de
armas de fogo. “Quando a criminalidade no Rio de Janeiro aposentou a navalha e empunhou
um revólver 45, o malandro da Lapa deu lugar a bandidos como José da Rosa Mirando, que
vivia no Morro da Favela, atrás da Central do Brasil e, já em 1954 era acusado de vários
assassinatos, que praticou ou não (..)” (O Globo, 5/2/95, p. 32).
Se o malandro, enquanto personagem constrói-se dentro da crônica carioca do início
do século, o bandido “bom” tem, na mídia impressa, o seu melhor criador. Esse tipo de
bandido populariza-se pela imagem de bandido amigo da comunidade, porque não oferece
perigo a ela e nem à cidade. É mais um vizinho, alguém que nasce e se cria por ali e que é
bandido. A comunidade apenas reconhece a sua atividade marginal, sem conferir a essa
nenhuma apreciação valorativa.
No entanto, mesmo sem uma performance espetacular no mundo do crime, cerca-se
de importância dentro da marginalidade carioca, como o bandido Cara de Cavalo: “Era
apenas um achacador de bicheiros e pequeno traficante da Favela do Esqueleto, que já não
existe” (O Globo, 5/2/95, p. 32). Todavia, uma imagem muito diferente é sustentada por
alguns jornais da época, conforme sugere a seguinte manchete do jornal O Dia: “Bandido
que matou Le Cocq continua pondo em pânico a cidade”.
Como muitos desses personagens do mundo do crime valem-se de meios mais ardilosos
para sobreviver, recebem, pela mídia, saudações que, às vezes, em nada correspondem às
suas habilidades, como o caso do bandido Lúcio Flávio - personagem do romance de José
144 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
Louzeiro - que foi apresentado por jornais da época como um bandido inigualável, de
grande inteligência: “As especialidades de Lúcio Flávio eram roubar carros, fugir de presídios
(...) e produzir frases inteligentes de rebeldia contra o sistema. Principalmente contra o
sistema penitenciário” (O Globo, 1995, p. 32).
Parte dessa fama se deve às atitudes mais violentas cometidas por tal bandido; atitudes
que produzem uma imagem de marginal muito distante da existente até então, que é a do
malandro com a navalha e seus pequenos e perdoáveis golpes. É incontestável a influência
da mídia na construção desse personagem violento que cresce em importância. A promoção
a esses bandidos revela-se pelas notícias sobre prisões, mortes e pelas atuações ilícitas: tudo
noticiado espetacularmente.
Ao matar o lendário detetive Cara de Cavalo decretou sua sentença de morte. Em
poucos minutos, deixou de ser um reles explorador de mulheres e achacador de bicheiros,
frio e pobre, com a cara que lhe deu o merecido apelido, para se transformar num
formidável bandido. (VENTURA, 1994, p. 45).
A construção imaginária, nesse momento, tem na mídia seu interlocutor mais frequente
e potencial, o que pode ser depreendido nas plurais atribuições de qualidades que, na
realidade, tratavam-se de falsas ações ou, no mínimo, não comprovadas.
Habitante de morros e favelas, o bandido “bom” é respeitado pela comunidade,
sobretudo, porque suas principais atividades - o jogo do bicho e a venda de maconha - não
comprometem a tranquilidade dos moradores, o que acaba acontecendo com a expansão
do comércio de drogas e a consequente imposição do traficante como o “dono do morro”.
Os negócios profissionais do bandido “bom” são pequenos e não atraem, para o morro,
a Polícia. Logo, o morador não é submetido, com frequência, a constrangimentos. Além do
que, esse bandido ganha apenas o suficiente para a sua sobrevivência. Os locais perigosos e
que sofrem perseguição policial localizam-se no Centro da cidade, principalmente, na Central
do Brasil. Sobre o morro, ainda paira uma aura romântica.
Embora o índice de violência já seja alarmante, a violência cometida pelo bandido
“bom” restringe-se a eliminar seus inimigos, no caso, a Polícia e os concorrentes. Ele ainda
é, apenas, um matador de tiras, como Cabeleira, um dos mais perigosos marginais da
década de 1960: “E Cabeleira matou o detetive Eugênio Parada e feriu outro guarda (...) O
matador de ‘tiras’, entretanto, não foi esquecido. No dia 2 de novembro, na Estrada de
Iguaritá, Rio das Flôres, foi cercado pela turma do detetive Chocolate (...) (Luta Democrática,
11/01/65, p. ll).
Também não são comuns as incursões da Polícia nos morros. Logo, as comunidades
têm bom convívio com esse personagem simpático e generoso (tal relação amistosa com os
bandidos não se limitava à comunidade local, mas também já era idealizada por pessoas de
meios diversos, como intelectuais da importância de Hélio Oiticica. Há, ainda, a famosa
crônica de Clarice Lispector sobre a morte de Mineirinho):
n.5, 2011, p.141-160 145
RÔSSI ALVES GONÇALVES
A polícia tem dêle um medo sem limites. Anda armado com duas pistolas 9mm e traz
numa pasta, uma metralhadora Ina a que chama ternamente de criança. (...) Murilão
não assalta. Limita-se a tomar empréstimos a contraventores da Zona Norte e Meriti,
aos quais protege (LutaDemocrática, 11/01/65, p. 11).
Supõe-se que esse relacionamento se deva, ainda, à imagem que o bandido “bom”
transmite à comunidade: pobre, morador de favelas e sem ambições maiores, esse bandido
é igual aos outros moradores do local. Os pontos de jogos funcionando espalhados pela
cidade e os de revenda de drogas ocorrendo principalmente nos centros da cidade, nas áreas
conhecidas como de risco, paira uma certa tranquilidade nos morros e favelas. Com isso, os
pontos de perseguição são diversos e os morros apenas abrigam os líderes da marginalidade.
A situação conflituosa entre moradores/bandidos/Polícia só vem a complicar-se já no
fim do século, por volta dos anos 1980, período em que a crise econômica, já acentuada,
promove, forçosamente, um reordenamento da sociedade. Problemas como: baixos salários,
alto índice de inflação, desemprego, entre outros, contribuem para o surgimento de uma
camada social formada por pessoas quase miseráveis que, em busca de uma melhor sorte,
vão habitar favelas, quando possível, ou ruas; pessoas que vão viver do mercado informal
e instável de trabalho e engordar as estatísticas que apontam as péssimas condições de vida
dos brasileiros.
A desestruturação da família, da Polícia e de outras figuras emblemáticas do poder, o
descrédito nos discursos salvacionistas de políticos, a falta de opções, de chances para uma
vida mais digna - educação, saúde, transporte, emprego - têm resposta na inserção de
jovens em grupos marginais: tráfico de drogas, assaltos, arrastões são algumas das reações
apresentadas à ausência e à incapacidade do Estado de proporcionar vida melhor aos
novos deserdados. É nesse panorama que a relação cordial dos moradores do morro com
o bandido fica comprometida: com a entrada deste no mercado mais selvagem de venda de
tóxicos.
A paz de outrora dos morros é substituída por incursões da Polícia e por todo tipo de
problema que essas investidas ainda oferecem. Até, então, a relação parecia caracterizar-se
por um pacto silencioso: o morador não sabia nada e o bandido não o importunava. No
entanto, com a proporção tomada pelos negócios das drogas, as negociações nos morros e
favelas começam a ocorrer por volta dos anos 1980, tornando-se alarmantes no início dos
anos 1990, o que explica a recrudescência das hostilidades policiais.
Até então, a ilegalidade gira em torno de roubos de carros, assaltos a bancos e pequenas
atividades com maconha. A transição dá-se quando o bandido “bom” envereda pelo comércio
de drogas, passando a traficante, e o morro vira, também, o local onde é purificada, embalada
e revendida a droga; além de local de planejamento dessas atividades e esconderijo de
armas. O bandido torna-se, logo, um empresário do tóxico:
146 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
(...) nove homicídios são atribuídos a Escadinha. Sua folha penal, aliás, é gorda: tem
nove acusações de assaltos à mão armada, nove acusações de tráfico de drogas e meia
dúzia de processos por porte ilegal de armas, formação de quadrilha e porte de
entorpecentes (O Globo, 05/02/95, p. 32).
Após a transição da malandragem para a bandidagem do tipo acima descrito, o
caminho do bandido, no Rio de Janeiro, torna-se mais perigoso, conforme indica a ficha
penal do bandido temido nos anos 1980, conhecido como Escadinha. Simultaneamente,
esse tipo de bandido cresce em importância e adquire uma “aura” que o malandro, por
um limitado número de atitudes ilícitas, e o bandido “bom”, por ser ainda discreto, não
obtiveram:
Com 2,08 metros de altura e o adequado apelido de Sérgio Grande, ele não
impressionava somente pelo tamanho e pelos 36 homicídios que lhe eram imputados. O
modo como se vestia (...) o passado de militar e integrante do Batalhão Suez, a suspeita
de ter combatido ao lado do capitão Lamarca e o próprio nome de batismo, Sérgio
Guarani Vladimir Saulos, criaram uma aura satânica em torno do chefe do tráfico de
drogas no Morro do Juramento (O Globo, 5/2/95, p. 32).
Com suas atitudes tomando-se mais impetuosas, o bandido vê-se cercado de glórias e
de adjetivos que, mais do que revelar sua personalidade, servem para mitificá-lo.
Por volta dos anos 1970, as relações com a Polícia tornam-se mais brutais. Por uma
necessidade de punir exemplarmente os bandidos mais visados, tem-se, a partir do bandido
conhecido como Mineirinho, um tipo mais cruel de execução, que é seguida da morte de
outro famoso bandido identificado como Cara de Cavalo - 52 balas perfuraram seu corpo:
“Até aquela noite de domingo, 1º de maio de 1962, a população carioca não tinha
conhecimento de execuções semelhantes. Os treze tiros que tiraram a vida de Mineirinho
abriram caminho para os justiçamentos que se seguiram” (O Globo, 5/2/95, p. 7).
Na era dos chefões do tráfico, anos 1980/90, há um abrandamento da violência policial
com os bandidos mais famosos. Eles são capturados e levados à prisão porque são
imprescindíveis na elucidação de diversas atividades ilegais, como a formação do Comando
Vermelho e do Terceiro Comando.
Marginais: as falas e as faturas
Os anos 1960, mais especificamente a segunda metade da década, e os 1970 são anos em
que a cultura brasileira, de modo geral, a fim de não sucumbir, vê-se obrigada a buscar
novas formas possíveis de expressão. Essa busca é marcada por conflitos de toda ordem,
uma vez que o momento cultural fervilha, mas não se tem, no Brasil, um ambiente que
favoreça o livre desenvolvimento dos novos canais de expressão cultural. Por outro lado, se
o fechamento político cerceia muitas ideias e posições, também se revela grande incentivador
n.5, 2011, p.141-160 147
RÔSSI ALVES GONÇALVES
dos artistas que, na impossibilidade de se manifestarem livremente, têm que encontrar
alternativas metafóricas para dar corpo às suas questões.
O chamado discurso esquerdista, por exemplo, quando abafado, faz-se ouvir por
veículos até, então, pouco relacionados a essa postura. Dessas novas parcerias - do discurso
da esquerda com as artes - o cinema, a literatura e as artes plásticas - dimensionam,
exemplarmente, esses tempos.
Dentre as muitas formas de reação à repressão política, dos anos de ditadura, a narração
de vidas marginais - aí vista como uma alegoria sobre a adversa e injusta organização social
- serve de fonte a vários artistas com posições de esquerda e outros apenas interessados em
se valerem de fórmulas votadas ao sucesso imediato.
Tornam-se comuns, então, obras como “O bandido da luz vermelha”, de Rogério
Sganzerla, “Charles, Anjo 45”, de Jorge Ben - o hino ao ‘bandido de bom coração’ – “Lúcio
Flávio, o passageiro da agonia”, de Hector Babenco, e tantos outros discursos que, por
intermédio de um bandido-herói ou de outras metáforas, externam parte da inquietação
que toma conta dos difíceis tempos. Assim, bandidos de alguma expressão são
glamourizados por alguns artistas, enquanto, muitas vezes, são demonizados pela mídia -
muito embora nem sempre ela consiga tal feito, já que, apesar do texto da notícia, as
manchetes acabam, algumas vezes, promovendo-os à condição de gênios, ou, no mínimo,
polarizando atenções sobre eles.
Cara de Cavalo, o célebre bandido dos anos 1960, presta-se a essa dualidade: o assassino
do detetive Le Cocq atrai artistas da importância de Hélio Oiticica que lhe rendem
homenagens, mas provoca, ao mesmo tempo, a ira da mídia que incentiva a sua captura.
Quando mata o famoso detetive Le Cocq, Cara de Cavalo canaliza para si toda a revolta de
alguns setores da sociedade que veem no detetive, à imagem do herói, a possibilidade de
próspera tranquilidade, de uma cidade sem bandidos, sem roubos. Le Cocq, na década de
1960, é quase um mito na Polícia carioca:
A morte de Le Cocq desencadeou uma sede de justiça jamais igualada. Além da
Polícia Civil, três batalhões da Polícia Militar e numerosos choques da Polícia de
Vigilância, incluindo a Radiopatrulha, com todos os seus efetivos viraram pelo avesso os
morros cariocas (Fatos e Fotos, 19/09/64, p.10).
Por conta desse crime, a mídia constrói um bandido impiedoso, digno de toda a barbárie
que caracteriza a sua morte. “Vingada a morte de Le Cocq - Cara de Cavalo crivado de balas:
mais de 100 tiros!” (O Dia, 5/10/64).
Na tentativa de revelar à cidade o Cara de Cavalo indigno, reles, a mídia contraria o seu
intento: alterna notícias do tipo: “Cara de Cavalo é um covarde” (Fatos e Fotos, 1964, p. 21) -
frase proferida por um inimigo de Cara de Cavalo - com: “Le Cocq queria apanhar Cara de
Cavalo a unha, como se êle fosse um simples pivete. O bandido surpreendeu a todos. Passou
148 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
a usar disfarces perfeitos (...) Dizem que já furou um bloqueio da PM, usando uma farda de
soldado do Exército (...)” (Fatos e Fotos, 19/09/64, p. 8). E, ainda: “Bandido que matou Le
Cocq continua pondo em pânico a cidade” (O Dia). O bandido fica sem uma definição clara
quanto à sua capacidade: é ou não um bandido astuto que se sobressai à Polícia?
Muitas vezes, então, na ânsia de desmoralizar o bandido, os textos promovem-no a um
bandido inigualável: “Mas nunca, durante os quatro anos de existência dos boinas-pretas,
êles atuaram com tanto ímpeto, tanta energia, tanta disposição, quanto agora, na caçada
implacável e sem tréguas ao Cara de Cavalo” (Fatos e Fotos, 19/09/64, p. 8) e que deixa
atônita toda a Polícia carioca e ainda consegue manter suas atividades profissionais:
Houve um momento em que três mil homens se puseram em ação e os morros foram
vasculhados, as saídas para o Estado do Rio se viram fechadas, a busca se fez noite e dia,
sem que, nem por isso, o bandido aparecesse. Pelo contrário, vários pontos do “bicho”, as
“fortalezas” chamadas, continuaram a ser visitados pelo marginal, que arrebanhou em
dois dias sob a caçada, perto de CR$ 1 milhão, na mesma Vila Isabel onde Le Cocq
morreu (O Cruzeiro, 19/09/64, p. 10).
Mas, se a mídia por vezes se trai e exalta Cara de Cavalo, quando deseja apenas
desprestigiá-lo, o mesmo não ocorre com a mais enfática saudação que já lhe fora atribuída:
o poema-protesto de Hélio Oiticica apresenta uma outra e enaltecida imagem do bandido:
“Eu quis aqui homenagear o que penso que seja a revolta individual social: a dos chamados
marginais” (OITICICA, 1986, p. 53). Cara de Cavalo e outros bandidos se tornam, então,
ícones da rebeldia, da inquietação e figuras comuns nos discursos e movimentos radicais
dos anos 1960.
Com o bandido Lúcio Flávio, nos anos 1970, talvez se tenha a melhor versão de bandido-
herói. Rapaz bonito, classe média e com alguma cultura, ele é um bandido-galã e, assim, sua
imagem se cristaliza no imaginário popular da época. O discurso policial talvez seja o único
a tentar reduzir a importância de Lúcio Flávio, como sugere a fala do então detetive Sivuca:
“Lúcio Flávio era um psicopata. Matou achando bonitinho o cara sofrer, se contorcer (...) foi
um cara covarde em alguns momentos (...)” (RIBEIRO, 1977, p. 195). No entanto, essa
mesma Polícia não deixa de reconhecer: “era inteligente, discutiu de igual para igual com
qualquer bandido, com qualquer policial” (RIBEIRO, 1977, p. 195).
Após a morte, Lúcio Flávio é amplamente aproveitado como material por escritores,
jornalistas e cineastas. Em todos, a imagem que prevalece é a de bandido inteligente, corajoso,
líder, uma personalidade ímpar no mundo marginal. Quando morre, as manchetes realçam
seus feitos: “As mais audaciosas proezas do chefão” (O Dia, 30/01/75, p. 8) e “O preso mais
famoso do Brasil tombou morto na prisão” (Manchete, 15/02/75, p. 23).
As fugas das prisões dão ao bandido grande parte de sua fama. E embora a Polícia lhe
confira mais crimes do que realmente cometera, sua ficha policial é de impor respeito:
“Envolveu-se com uma quadrilha de ladrões de automóveis, familiarizou-se com o
n.5, 2011, p.141-160 149
RÔSSI ALVES GONÇALVES
submundo do crime e viu seu nome ir se tornando respeitado e temido, tanto por policiais
como por marginais” (Manchete, 15/02/75 p. 24). Há, ainda, uma cena do filme “Lúcio
Flávio, passageiro da agonia” em que ele chega na prisão e é recebido, efusivamente, pelos
prisioneiros. É o grande herói do submundo.
O envolvimento com policiais é determinado por ele, que tem enorme ascendência,
também, sobre muitos policiais: “Escuta bem o que vou dizer, canalha. Daqui pra frente só
eu dou as cartas. Não quero o dinheiro que pegou, de volta. Vou querer coisa pior: vamos
ter reuniões semanais e todos os policiais que estão na jogada comigo vão estar presentes”
(LOUZEIRO, 1978, p. 59).
Até mesmo os temíveis policiais que pertencem ao “Esquadrão da Morte” submetem-
se às suas ordens, bem como a quadrilha que assalta bancos e que ele lidera, sempre, com
êxito e domínio: “Lúcio ainda não dissera uma só palavra. Sua vontade era abandonar
completamente o assunto do assalto, ir diretamente ao ponto que mais o preocupava.
Mas isso poderia mostrar fraqueza e um chefe de gang não pode vacilar” (LOUZEIRO,
1978, p. 80).
Outras vezes, é o bandido inteligente, culto: “Aos 14 anos já lera A Cinderela, de Cronin,
O pequeno príncipe, de Saint Exupéry, e ensaiava tímidos desenhos e esculturas (...) era o
prisioneiro de maior quociente intelectual dos presídios brasileiros” (Manchete, 15/02/75,
p. 23). A importância que a mídia e as artes lhe atribuem pode ser medida pelas manchetes
e notícias sobre seu enterro: “Desceu gente do morro atrás do cemitério e muitos dos que
passavam de carro ou a pé no Catumbi também pararam ontem, de manhã, para misturar-
se aos que estavam no velório de Lúcio Flávio” (O Dia, 31/01/75).
No caso de Lúcio Flávio, a literatura, o cinema e a mídia, invariavelmente, destacam a
violência e a falta de escrúpulos da Polícia, ao passo que do personagem não são evidenciadas
cenas brutais de violência. No filme, nas cenas que retratam uma de suas prisões, ele é
torturado por policiais encapuzados; as cenas anteriores, do assassinato de dois integrantes
do seu grupo e do assalto ao banco, protagonizadas por ele e por seus comparsas, quase
não são exploradas: são breves, sem choques.
Essa intenção de heroicização ao compor um bandido que não revela insensatez, que
só mata para proteger-se e poupa a vida dos humildes culmina, no filme, com a não
apresentação de sua morte, recurso explorado pela literatura que tem no herói o seu objeto.
A morte, no filme, é, apenas, sugerida: Marujo, o inimigo de cela, levanta-se, vai em direção
a Lúcio Flávio, que dorme, enquanto o outro companheiro de cela apaga a luz. Finalizando
a cena, aparecem escritos o local, dia e causa da morte do bandido.
Percebemos que tão somente o discurso policial ocupa-se de desmoralizar o bandido.
Fora dele, os diversos discursos sobre o bandido só dão conta de apresentá-lo de forma
glamourosa: seja caracterizando suas fugas como espetaculares ou revelando-lhe atributos
de coragem, liderança e perspicácia para arquitetar assaltos. Enquanto o bandido Cara de
150 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
Cavalo sofre, por algum tempo, implacável perseguição pela mídia, que o aponta como
inimigo n° 1 da população carioca.
Talvez sejam as práticas marginais de Lúcio Flávio e Cara de Cavalo que justifiquem o
tratamento distinto que a mídia lhes concede. Especialista em assaltos a bancos, Lúcio
Flávio não tira dos pobres, não comete injustiça com a população que, provavelmente, não
se sente ultrajada com os crimes do bandido; já Cara de Cavalo, um bandido inexpressivo,
matando Le Cocq tira da população o herói que prometia limpar a cidade dos crimes. Mata
um detetive respeitado, numa época em que a Polícia é mitificada. As notícias sobre o
enterro de Le Cocq exaltam o grande número de pessoas que vão homenageá-lo. Com isso,
o bandido consegue ter contra si parte da opinião pública, órfã de heróis.
Mídia e comunidade - a construção do heroísmo polêmico
O Rio de Janeiro vive há muitos anos essa perversa relação com os poderes: o poder
institucionalizado e o poder paralelo imposto, muitas vezes, à força ou de forma persuasiva.
É sabido que os problemas das grandes cidades crescem de forma rápida e assustadora,
impedindo soluções imediatas e definitivas. No entanto, no Rio de Janeiro, as grandes
aflições urbanas parecem mais acentuadas, uma vez que contribuem para o surgimento e
fortalecimento do crime, de uma forma, talvez, incomum no país.
É verdade que o alto índice de criminalidade não é um problema apenas desta cidade,
mas, por alguns motivos, o Rio se torna uma metrópole mais suscetível à proliferação do
crime organizado. O crescimento desordenado da cidade, os aspectos geográficos, o
desemprego, a precariedade do funcionamento do sistema público, as deficiências policiais,
a indiferença das autoridades para a crescente marginalidade e tantos outros problemas
que assolam as grandes cidades, criam, no Rio de Janeiro, um ambiente mais propício a um
certo tipo de ação da bandidagem.
O problema toma tal dimensão porque, como já esboçamos anteriormente, o crime,
no Rio de Janeiro, desenvolve-se nos espaços mais necessitados da atuação pública. É neste
vácuo deixado pelo poder público que a ação da bandidagem torna-se menos ilícita: fazendo
pela comunidade o que deveria ser oferecido pelo poder público, os “donos do morro” -
como são conhecidos os chefes do tráfico - conseguem o silêncio, a cumplicidade e, o mais
assustador, a simpatia de muitos moradores. Com isso, o poder paralelo ganha sustentação
e pode competir com o poder oficial.
Por possuir inúmeros morros e outros locais favoráveis à ocupação desordenada, é
crescente o número de guetos em precaríssimas condições de vida. A geografia da cidade
permite a proliferação de favelas, tomada por morros onde é possível abrir construções,
ruelas, terrenos vazios e viadutos que mesmo cercados não constituem obstáculos à
população carente.
n.5, 2011, p.141-160 151
RÔSSI ALVES GONÇALVES
Com isso, há, por toda a cidade, sem distinção de zonas, locais onde vivem pessoas de
baixíssima renda, nos quais, normalmente, não há esgoto, água encanada, luz elétrica. E
como também as construções mais ricas dividem espaço com os casebres, uma vez que a
Zona Sul também vive essa problemática, a questão da violência relacionada com a miséria
ganha uma dimensão maior do que em outras cidades com problemas semelhantes,
justamente, porque não estão os miseráveis geograficamente separados dos ricos.
No Rio de Janeiro, a beleza das praias, dos edifícios, shoppings, o lado nobre da cidade
e que a torna célebre divide espaço com a penúria - meninos de rua em sinais de trânsito,
casas condenadas, mendigos, favelas. E esse contraste é vivido de uma forma intensa e
angustiante, obrigando-nos a pensar a todo instante nesse problema e aprender a dividir a
cidade com o outro. Melhor, no Rio de Janeiro, a área cobiçada da cidade - a Zona Sul - é
território de ricos e pobres, as praias são divididas por moradores da orla, do morro
próximo e por moradores do subúrbio, mas sem que isso represente, sempre, uma
convivência harmônica.
Ou seja, as fronteiras são ultrapassadas, há o impulso constante em busca do lazer.
Explica-se, dessa forma, a recusa das pessoas em deixar as favelas da Zona Sul; ainda que
seja para moradias mais humanas, as pessoas tendem a permanecer no lado nobre da
cidade, como se assim obtivessem algum reconhecimento.
Esses são fatores que facilitam o crescimento de favelas na cidade e a condição miserável
em que se mantêm. É assim que esse local se torna um espaço onde a ação de “heróis”
providenciais torna-se uma constante. Diante da espera interminável, as comunidades se
rendem ao assistencialismo dos “donos do morro” que financiam construções de casas,
remédios, lazer, alimentos etc.
“Como na Baixada não tem traficante, a gente vinha aqui para pedir auxílio: dinheiro,
remédio, bujão de gás” (Jornal do Brasil, 07/03/96, p. 18). O discurso é de uma moradora da
Baixada Fluminense, sobre o traficante Jorge Luís, de Acari. Entre algumas lamentações
sobre a morte do bandido, os moradores ressaltam a generosidade do mesmo por suprir as
muitas faltas que os moradores daquelas áreas vivem: “Ele só pensava nos pobres. Fazia
tudo por nós. Estão tentando fazer dele um animal, mas para a gente ele era um rei” (Ibid.).
Tais discursos, que apresentam o marginal como um homem digno, e o discurso da mídia,
datado da mesma ocasião, dão um contorno heróico ao inimigo da lei:
Uma bandeira preta no alto de um sobrado da Favela de Acari simbolizava o que a
comunidade achou da morte do traficante Jorge Luís dos Santos. Logo na entrada, uma
barricada de geladeiras e fogões velhos bloqueava o principal acesso. Cerca de 3.200
comerciantes da região tiveram que fechar as portas, num feriado determinado pelos
donos do tráfico de drogas. (O Globo, 06/03/96, p. 16)
Na cidade do Rio de Janeiro há grandes chefes do tráfico. Grandes pelo poder, que nesse
caso está ligado a áreas de atuação, quantidade de venda de tóxico, armamento, dinheiro
152 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
movimentado, basicamente. Alguns são bastante discretos e outros, com frequência, ocupam
os noticiários; mas, normalmente, todos têm uma ascendência forte sobre as comunidades
onde atuam.
Raramente, um chefão do tráfico prescinde dos moradores, pois uma relação amistosa
com a comunidade pode ser valiosa em casos de batidas da Polícia, prisão, invasão de
grupos rivais e outras situações. “Estou aqui no Dendê há anos e a favela sempre foi um
lugar tranquilo para se viver. Agora a gente não sabe mais como vai ficar” (O Globo, 9/11/95,
p. 24) - diz um morador, temendo as mudanças por que passaria a comunidade em virtude
da morte do traficante Miltinho do Dendê.
Como benfeitor da área, ele pode sair-se bem destas situações, contando com o apoio
da comunidade que, por motivos diversos, deseja mantê-lo na liderança, sobretudo pelo
temor de que um grupo rival deseje tomar o comando na comunidade, o que se dá de forma
violenta, com guerra entre as quadrilhas, transformando a vida do morador num desespero,
pelo risco das balas perdidas, acentuado pela possibilidade de ter um novo líder sem
preocupações com a comunidade.
A imagem de benfeitor e líder carismático revelada pela comunidade encontra apoio
no discurso midiático, que também destaca qualidades sobre-humanas do traficante: “Ele
é capaz de enfrentar a Polícia, a Marinha e até os traficantes inimigos (...) e impôs à Marinha
de Guerra brasileira uma das mais constrangedoras situações de sua história” (Jornal do
Brasil, 8/11/95, p. 18).
No entanto, observamos, com frequência, que a defesa dos traficantes é feita de forma
mais veemente por parte dos jovens. Crianças e adolescentes, sobretudo, relacionam-se de
forma incomum com a marginalidade local. Não que seja bastante numerosa a quantidade
de cooptados dos líderes locais; decerto há uma parcela que mantém o vínculo, porque não
lhe cabe outra alternativa, mas, sem dúvida, a simpatia pelos envolvidos com o tráfico é
significativa e assustadora. Uma admiração que se reflete em letras de funk, na adoração
pelas armas e conflitos, na formação de “miniexércitos”, na vibração com as atrocidades.
Nascidos, como os “chefes do morro”, em famílias humildes, com pouquíssimo ou
nenhum recurso, essa garotada não tem muita expectativa de vida. A escola, que deveria ser
a opção de uma vida um pouco diferente é, ainda, muito preconceituosa e desestimulante
para tal grupo. Assim, os caminhos apresentados não são muito atraentes. A família
trabalhadora é precária como exemplo, já que o trabalho é muito e o dinheiro recebido é
pouco. Enquanto isso, um “vapor” ou “avião” das bocas de fumo tem um rendimento
bastante superior ao de outras categorias de trabalhadores. É por aí, pelo dinheiro rápido,
que um jovem é atraído para o “movimento”.
Ainda assim, tornando-se heróis dos jovens em razão de performances espetaculares,
os grandes bandidos que atuam na cidade têm os seus feitos diminuídos pelas autoridades.
As denúncias de excessos cometidos pelo poder paralelo são, frequentemente, rebatidas. O
n.5, 2011, p.141-160 153
RÔSSI ALVES GONÇALVES
que se torna um falatório inútil e acaba por popularizar mais ainda o bandido em questão,
já que, insistentemente, os jornais e revistas, através de manchetes e textos, revelam a ilimitada
audácia da marginalidade.
Junito de Souza Brandão (1987, p. 15) identifica a base etimológica de herói no indo-
europeu: servã, da raiz ser, de que provém o avéstico haurvaiti, “ele guarda” e o latim servâre,
“conservar, defender, guardar, velar sobre, ser útil”, donde herói seria o “guardião, o defensor,
o que nasceu para servir”.
Alguns heróis, oficialmente reconhecidos, ganham expressão porque, de alguma forma,
lutam pelo enobrecimento nacional ou de alguma região. Dentre estes heróis, podemos até
discutir a trajetória de alguns, seus ideais, mas é certo afirmar que suas realizações,
invariavelmente, traduzem-se de uma forma positiva e corajosa. Por isso, o personagem
marginal, o traficante, esse tipo tão presente na cena urbana carioca, com certa assiduidade,
faz pose de herói.
Uma constatação cruel, mas que não pode ser negada: parte da população, sobretudo
carente e jovem, deixa-se seduzir pela trajetória dos “chefes do morro”. Ainda assim, cabe
conferirmos se os aspectos negativos presentes na biografia do personagem marginal
desqualificam-no para o título. Muitos heróis apresentam traços contraditórios e que se
tornam irrelevantes diante da luta travada. “Todos os sentidos do termo ‘herói’, tal como é
usado pelos adeptos das interpretações heróicas da História, pressupõem que, quem quer
que seja o herói, ele se destaca de um modo qualitativamente único dos outros homens na
esfera de sua atividade e, ainda mais, que o registro das realizações em qualquer setor é a
história dos feitos e pensamentos de heróis” (HOOK, l962, p. 29).
Demonstrando a altivez incomum aos demais moradores - tão habituados à servidão
- o traficante se mostra habilitado, permanentemente, ao cargo de “dono do morro”. O
poder dos traficantes do Dona Marta não é de se menosprezar. “Há três meses o prefeito
César Maia contou que teve que negociar com os vendedores de drogas a construção de
um muro que protegeria a área de constantes invasões de bandidos” (Jornal do Brasil, 09/
02/96, p. 17).
Fica patente, ainda, a participação da mídia na construção do mito que os meninos
admiram tanto. Afinal, é o bandido com foto estampada no jornal. É a revelação de um
semelhante de forma glorificadora, ainda que a glória consista em ser considerado o maior
inimigo da lei: “Articulado e com forte ascendência sobre seus cúmplices. Assim se apresentou
o homem que até ontem detinha o título de bandido mais procurado pela polícia” (O Globo,
8/11/95, p. 18).
Ainda que por curto tempo, o delinquente consegue sobreviver, com certa facilidade, a
forças contrárias, como a Polícia e demais autoridades. A definição da autoridade nos
morros e favelas do Rio de Janeiro é instrumentalizada pela violência, mas requer, também,
astúcia, destemor, inteligência. Muitos almejam o cargo de dono da “boca de fumo”, o que
154 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
representa ser “dono do morro”, entretanto, poucos mostram-se preparados para tal tarefa
que exige severos requisitos:
“Somente o que ostenta coragem e inteligência, astúcia e lucidez, só quem exibe uma
razoável força de comunicação, consegue alicerçar seu breve reinado, que depende,
sobretudo, de braço forte, um revólver sem hesitação, uma crueldade sem lindes. O
segredo da hegemonia do líder será fruto, tanto da habilidade de coagir, como da
geração de mitos sobre as proezas que tenha praticado” (PEREIRA, 1984, p.21)
Nessa mitificação, a mídia foi e é responsável pela construção de muitos personagens
violentos que ganham notoriedade na cidade. Ainda que demonstrando perplexidade pelos
fatos, invariavelmente, as manchetes destacam façanhas que, normalmente, promovem o
bandido e, consequentemente, deixam o poder público margeando o descrédito, já que o
mesmo não impede tais feitos bárbaros, seja por incompetência, inabilidade, ou mesmo,
pela sua ausência nos espaços marginais à sociedade cidadã: “A ocupação do Morro Dona
Marta há três meses pela Polícia Militar não alterou o funcionamento da boca de fumo. Os
policiais sabem onde estão os traficantes e vice-versa, mas um não incomoda o outro. Para
comprar drogas, os viciados passam por um posto da PM” (Jornal do Brasil, 12/02/96, p. 16).
Todavia, há outros atributos que um líder do tráfico apresenta e que figuram na
trajetória de um herói. De início, identificamos na origem do termo herói a sua função
precípua: servir, defender:
Eu quero saber se o governo vai suprir a falta de Miltinho. Quem vai dar auxílio-
funeral, pagar remédios e dar presentes às crianças. Em 88, quando 16 casas desabaram
na favela, o governo não deu auxílio aos desabrigados, mas o Miltinho botou a mão no
bolso e bancou a construção de 16 casas. E agora? (O Globo, 9/11/95, p. 24).
Entre as principais funções da marginalidade carioca que atua nos morros e favelas
está a prestação de serviços à comunidade - muito embora isto se deva mais a interesses
próprios do que a uma preocupação social. Tratam-se de espaços de imensa miséria e é com
facilidade que interesses diversos penetram e consolidam-se diante de tantas necessidades.
Assim, o tráfico de drogas, com enorme poderio, sustenta-se, prometendo segurança e
outras virtuais conquistas. “A sensação de segurança alcançada reforça o laço com o herói:
um dos motivos principais do culto ao herói é a proteção que o mesmo dispensa à sua pólis
em guerra” (BRANDÃO, 1987, p. A.2). Atribui-se, assim, ao chefe do morro, uma
responsabilidade do governo e, dessa forma, ele vai se tornando o justiceiro do povo e
fortalecendo-se enquanto poder paralelo:
A justiça do Rio e o Itamarati não foram as únicas barreiras que o cantor Michael
Jackson teve que vencer para garantir a filmagem de seu clipe (...) Uma equipe contratada
pela produção teve que negociar com os traficantes para permitir a presença de Michael
Jackson (...). Dominada há vários anos pelo traficante Márcio Amaro de Oliveira, o
n.5, 2011, p.141-160 155
RÔSSI ALVES GONÇALVES
Márcio VP, nem mesmo uma câmera fotográfica portátil entraria na favela se não fosse
sua autorização (Jornal do Brasil, 9/02/96, p. 17).
A leitura do texto não deixa dúvidas a respeito do poder do bandido em relação a sua
comunidade. E se, inclusive, a imprensa constata com aparente naturalidade a tirania dos
traficantes, é praticamente impossível a um morador de favelas desvincular-se dessa ou de
outra forma de poder violento. Desde pequeno, este habitante percebe que o morro tem um
dono que o protege ou não. É uma constatação. Não se luta porque o mal parece inevitável.
A diferença reside no tipo de dono: cruel, protetor, fraco. Mas ele estará lá. Ciente dessa
situação, cabe ao morador esperar que seu líder promova, também, algumas melhorias:
“Estou aqui no Dendê há anos e a favela sempre foi um lugar tranquilo para se viver. Agora
a gente não sabe mais como vai ficar” (O Globo, 9/11/95, p. 24).
A violência constante, no entanto, parece tornar o dono do morro mais bem preparado
para o cargo e, por isso, mais respeitado: “É nessa promoção da justiça pelas próprias mãos
e com seus próprios recursos que jaz a legitimidade e popularidade desses personagens”
(DaMatta, 1990, p. 222). A barbárie com que os casos de infração, traição e outros são
tratados adquirem um contorno que chega a ser considerado digno nos meios mais carentes,
principalmente porque essa forma de justiça parece ser a única possível, além de ser a mais
conhecida nestes meios.
A ordem jurídica tradicional não atinge as classes mais miseráveis. É abstrata para o
homem favelado que a conhece apenas dos discursos. Para este cidadão, a justiça que não
falha é aquela que ele faz com suas mãos, de acordo com as leis locais. Por isso, por mais
violentas, crueis e arbitrárias que sejam as atitudes dos traficantes e seus “soldados”, elas
não agridem o morador do morro como o do asfalto. Logo, alguns traços que poderiam ser
considerados negativos na trajetória de um chefe do tráfico acabam por conferir-lhe mais
carisma. E, assim, a comunidade faz dele o seu salvador, aquele que tem a coragem, a
predisposição que o grupo não tem e que, talvez, sejam exclusivas dos heróis. É uma
admiração pelo superior: “Talvez uma fonte mais importante de atração exercida pelo líder
sobre seus seguidores se encontre na satisfação vicária de seus anseios através dos supostos
traços e êxitos do líder. O esplendor, a força, o brilho do líder são compartilhados
imaginariamente” (HOOK, 1962, p. 25, 26).
Para um morador de comunidades, reconhecer, no traficante, o inimigo da cidade é tão
pouco provável quanto reconhecer neste somente atitudes heróicas. É uma relação de
equilíbrio entre o pavor da dominação e a gratidão pelos pequenos serviços prestados à
comunidade. Ainda que a caracterização do dono do morro feita por aqueles que vivem em
comunidades carentes seja distinta das demais, parece claro existir, naquele meio, a
consciência da ilegalidade das atividades do tráfico. Mesmo que essa ilegalidade receba
conotação diferente daquela que tem nos demais meios sociais.
156 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
Para o favelado e, principalmente, o jovem, o bandido pode significar, apenas, alguém
que não se adapta totalmente às regras de bom comportamento, que prefere viver de maneira
impetuosa e perigosa e que, sobretudo, é “gente boa”. São aqueles indivíduos que vivem em
harmonia, via de regra, com os moradores e, no entanto, estão na mira da Polícia e são
temidos pela sociedade do asfalto.
É inegável, então, que a Polícia seja um dos mais polêmicos meios de repressão à
desordem. Polêmico, porque o seu papel de zelar pela ordem é, muitas vezes, realizado
arbitrariamente e sob uma visão preconceituosa, frequentemente apoiada pela sociedade.
Fato que gera um enorme desrespeito à lei, favorecendo, inclusive, a propagação da
delinquência, uma vez que o modelo de ordem - a Polícia - apresenta, comumente, contorno
tão distante do desejado.
Assim, o “guardião” é tão somente o bandido. Apesar de ser constante o aparato policial
nessas comunidades, não se tem, por este, o crédito depositado naquele, frequentemente
revelado com a preocupação de ter um líder que não baseie sua vida profissional, na favela,
na troca de favores.
Vivendo uma relação complicada com a instituição de segurança, a procura da Polícia
pelos moradores desses territórios é rara. Os casos de denúncia são sufocados pela auto-
ridade local, o marginal; as dificuldades que a Polícia encontra para resolver problemas nestes
locais também são imensas, uma vez que recebe pouca ou nenhuma ajuda dos moradores.
Tudo isso deixa o trabalho da instituição muito aquém das expectativas. E, embora a
Polícia ainda seja respeitada por uns poucos nas favelas e morros, o seu trabalho parece
bastante infrutífero. “A Polícia só entra aqui atirando. Não poupa ninguém. Mulher, criança,
adulto, velho, não faz diferença. A única alternativa é correr” (Jornal do Brasil, 17/04/96, p. 21).
Diante desta situação, apresentada por um morador, é que se dá o impasse com a Polícia,
porque o trabalho desta, na favela, é exercido por traficantes, de forma violenta, porém,
infalível, submetendo os moradores às suas ordens. Talvez a diferença entre as ações da
Polícia e dos traficantes distinga-se, fundamentalmente, neste aspecto: ambos são
autoritários, violentos; porém, enquanto normalmente o trabalho da Polícia não seja bem
visto pelos moradores da favela e também não seja eficiente na erradicação da desordem, o
trabalho realizado pelos traficantes é “competente”, sobretudo, porque se baseia na barbárie,
conta com a cumplicidade dos moradores e, ainda, é exaltado pela mídia: “O bandido,
quando mata, o faz para punir uma deslealdade: é um crime ‘justificado’; ao contrário do
que ocorre com a Polícia, cujas vítimas, muitas vezes, não mantêm qualquer vínculo com a
criminalidade” (Cf. ZALUAR, 1983).
A função da Polícia de proteger a comunidade e punir desvios, nas áreas carentes, é
habitualmente realizada por algum bandido, que a desenvolve como se assim se
descomprometesse com o ilícito. Logo, o que determina a vitória nesta disputa entre o
poder legal e o do traficante, comumente, é uma segurança aparente, massacrante e indigna.
n.5, 2011, p.141-160 157
RÔSSI ALVES GONÇALVES
As favelas, em razão da interferência direta dos traficantes, vão fechando-se às poucas
oportunidades oferecidas pelo poder institucionalizado. E não porque esta atitude de
desconfiança e má-vontade com o Estado deva-se, apenas, à realização dos anseios da
comunidade pelo tráfico de drogas, já que são atendidas de imediato, mas, pela pressão
exercida pelos “benfeitores” que permitindo, ainda que mesmo uma pequena intervenção
do Estado nas comunidades carentes, veriam o seu poder reduzido.
Para que alguns serviços públicos básicos sejam realizados nas favelas é necessário que
o “chefe” daquele local não veja, nos mesmos, uma ameaça. Recenseadores, médicos,
engenheiros, oficiais de justiça e tantos outros profissionais que atuam como intermediários
entre as duas áreas da cidade - a favela e o asfalto - estão sujeitos ao bloqueio do tráfico.
Situação muito mais delicada para as investidas da Polícia: esta, nas raras vezes que
tenta atuar como a Polícia ideal, mediadora, protetora, orientadora dos cidadãos, encontra
enorme resistência. De qualquer forma, a dificuldade do Estado em atrair para si os esforços
no sentido de uma reorganização destas comunidades reafirma um descontrole insustentável
que, por sua vez, habilita lideranças diversas, instáveis e maléficas.
Buscando firmar a imagem de bom bandido - aquele que não mata sem motivos,
protege a comunidade, controla seu “exército” - o bandido, na cidade do Rio de Janeiro,
expande suas atividades, alcança votos, alicia menores e se heroiciza.
Bibliografia
ARCE, José Manuel Valenzuela. Vida de barro duro: cultura popular juvenil y graffiti. Guadalajara: Universidad
de Guadalajara, 1997.
BANDEIRA, Manuel e ANDRADE, Carlos Drummond. Rio de Janeiro em prosa e verso. Rio de Janeiro: José
Olympio, vol.5, 1965.
BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega – vol. I. Petrópolis: Vozes, 1987.
_________________________Mitologia Grega – vol. II, Petrópolis: Vozes, 1987.
CANDIDO, Antônio. A dialética da malandragem. IN: ALMEIDA, Manoel Antônio de. Memórias de um
sargento de milícias; ed. critica de Cecília de Lara. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978.
CARVALHO, José Murilo. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São Paulo: Companhia
das Letras, 1987.
COSTALLAT, Benjamim. Mistérios do Rio. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento
Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1995.
DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de
Janeiro: Guanabara, 1990.
DAHRENDORF, Ralf. A lei e a ordem. Trad: Tamara Barile. Instituto Tancredo Neves ( Brasília): Fundação
Friedrich Naumann (Bonn), 1987.
FISCHER, Rosa Maria. O direito da população à segurança. Petrópolis: Vozes / Cedec, 1985.
HOBSBAWM, E . J. O bandido social in Rebeldes primitivos. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.
__________________ Bandidos. Rio de Janeiro: Forense Umversitána ,1976.
LOUZEIRO, José. Lúcio Flávio: o passageiro da agonia. Rio de Janeiro: Record, 1978, 4 edição.
158 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
BANDIDOS & BANDIDOS: OS VÁRIOS TEMPOS DA CIDADE
MAY, Rollo. Poder e inocência: uma análise das fontes da violência. Trad.Álvaro Cabral. Rio de Janeiro:
Zahar Editores, 1981.
OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
PEREIRA, Armando. Bandidos e favelas: uma contribuição ao estudo do meio marginal carioca. Rio de
Janeiro: Eu e Você Editora, 1984.
PERLMAN, Janice. O mito da marginalídade: favelas e políticas no Rio de Janeiro. Trad. Waldivia Marchiori
Portínho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2 edição, 1977.
RENAULT, Delso. Rio de Janeiro: a vida na cidade refletida nos jornais (1850- 1870). Brasília: INL, Civilização
Brasileira, 1978.
RIO, João do. A alma encantadora das ruas. Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Cultura, Departamento
Geral de Documentação e Informação Cultural, 1987.
SCHNEIDER, Leda. Marginalidade e delinqüência juvenil. São Paulo: Cortez, 1982.
VENTURA, Zuenir. Cidade partida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
Revistas & Periódicos:
BORBA, Marco Aurélio. ARAÚJO, Celso Arnaldo. O preso mais famoso do Brasil, que tombou morto na
prisão, foi vítima de um crime até agora mal explicado pela polícia. Manchete. Rio de Janeiro. n° 191,
ano 21. 15 fevereiro 1975.
GONÇALVES, Liane. Bandeira preta para simbolizar o luto. O Globo. Rio de Janeiro. Caderno Rio. 06
março 1996.p. 16.
GUEDES, Octávio. Assistencialismo no Morro do Dendê. O Dia. Rio de Janeiro. Caderno Polícia. 09
novembro 1995. p. 11.
HOMEM, Renato. Polícia prende Miltinho do Dendê. O Globo. Rio de Janeiro. Caderno Rio. 08 novembro
1995. p. 18.
LEITE, Marcelo. Invasão de favela cantada em rap. O Globo. Rio de Janeiro. Caderno Rio. 26 dezembro
1995. p.18.
MATTA Daniela. Governo paga para entrar em favelas. O Globo. Rio de Janeiro. Caderno Rio. 17 março
1996. p. 18.
MONTEIRO, Paulo. O inimigo público n° 1 caçado pelas Forças Armadas, O Globo. Rio de Janeiro.
Caderno Rio. 08 novembro 1995. p. 18.
MOREIRA, Marcelo. O dono do Dona Marta. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro Caderno Cidade. 12 fevereiro
1996. p 17.
RAMALHO, Eduardo. BILATE, Anver et al.: Esquadrão da morte começa a morrer. O Cruzeiro. Rio de
Janeiro. n° 50, ano XXXVI. 19 setembro 1964.
ROCHA, José Sergio. WERNECK, Antonio. Polícia alimenta mito do inimigo público n° 1. O Globo. Rio de
Janeiro. Caderno Rio. 05 fevereiro 1995. p. 32.
SEARA, Berenice. Polícia pára tráfico no Dendê. O Globo. Rio de Janeiro. Caderno Rio. 09 novembro 1995.
p. 24.
SETEMBRINO, Humberto. Rei dos Bodes desafia seu inimigo de infância, o bandido mais temido do Rio
de Janeiro. Fatos e Fotos. Rio de Janeiro. n° 191, ano IV. 26 setembro 1964.
SETEMBRINO, Humberto. SOARES Odacir. A grande caçada dos Boinas-Pretas. Fatos e Fotos. Rio de
Janeiro. n° 190, ano IV. 19 setembro 1964.
VARSANO, Fábio. Multidão vai a enterro de traficante. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. Caderno Cidade.
07 março 1996. p. 18.
As mais audaciosas proezas do chefão . O Dia. Rio de Janeiro. Caderno Polícia. 30 janeiro.1975. 1p.
Cara da Cavalo está apavorado. O Dia. Rio de Janeiro. Caderno Polícia. 15 setembro 1964. 52p.
Flávio enterrado. O Dia. Rio de Janeiro. Caderno Polícia. 31 janeiro 1975. 1p. Matador de tiras. Luta
Democrática. 11 janeiro 1965.1lp.
n.5, 2011, p.141-160 159
RÔSSI ALVES GONÇALVES
O morro não tem vez. Veja Rio. Rio de Janeiro. ano 6, n° 9. p. 8-13. 28 fevereiro 1996.
PMs são acusados de matar criança. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. Caderno Cidade. 17 abril 1996. 2lp.
Preso chefão do tráfico. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. Caderno Cidade. 08 novembro 1995. l8p.
Tráfico autorizou clipe. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. Caderno Cidade. 09 fevereiro 1996. l7p.
Tráfico mandou no clipe. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. Caderno Cidade. 12 fevereiro 1996. l6p.
Vingada a morte de Le Cocq. O Dia. Rio de Janeiro. Caderno Polícia. 05 outubro 1964. 1p.
BUARQUE, Chico. Ópera do malandro, Rio de Janeiro. Philips/Polygram, 1979.
BABENCO, Hector. Lúcio Flávio: o passageiro da agonia. São Paulo. HB Filmes, 1977.
(Recebido para publicação em 11/02/2011)
160 REVISTA DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Você também pode gostar
- Resumo Os Donos Do PoderDocumento6 páginasResumo Os Donos Do PoderLorena de PaulaAinda não há avaliações
- Lábaro Estrelado - Cleise MendesDocumento82 páginasLábaro Estrelado - Cleise MendesClara VasconcelosAinda não há avaliações
- As Almas Do Povo Negro Du BoisDocumento30 páginasAs Almas Do Povo Negro Du BoisJuliana BelliniAinda não há avaliações
- Fichamento Do Capítulo 1Documento12 páginasFichamento Do Capítulo 1Melissa Daniels100% (2)
- Revista Liberdades N. 15Documento219 páginasRevista Liberdades N. 15dicionariobrasilAinda não há avaliações
- Tese Fabio Versao FinalDocumento316 páginasTese Fabio Versao FinalFábio AraújoAinda não há avaliações
- 08 RUI BARBOSA - Atos InconstitucionaisDocumento9 páginas08 RUI BARBOSA - Atos InconstitucionaisMateusTormin0% (1)
- Paulo Nascimento - Dilemas Do Nacionalismo. Pag. 33Documento124 páginasPaulo Nascimento - Dilemas Do Nacionalismo. Pag. 33Josian PereiraAinda não há avaliações
- GRAMSCI, Antônio - Maquiavel, A Política e o Estado ModernoDocumento52 páginasGRAMSCI, Antônio - Maquiavel, A Política e o Estado ModernoJucilene MedeirosAinda não há avaliações
- Malandros e MalandrasDocumento3 páginasMalandros e MalandrasLuccas Marques0% (1)
- Maria NavalhaDocumento11 páginasMaria NavalhaRac A Bruxa92% (13)
- Identidade Bandida:: A Construção Social Do Estereótipo Marginal E CriminosoDocumento13 páginasIdentidade Bandida:: A Construção Social Do Estereótipo Marginal E CriminosoLívia Maria TerraAinda não há avaliações
- Observações Sobre A TorturaDocumento3 páginasObservações Sobre A TorturaFabi Mendes DiasAinda não há avaliações
- Aula 00 - Apresenta+º+úo Do Curso Introdu+º+úo Aos Direitos HumanosDocumento39 páginasAula 00 - Apresenta+º+úo Do Curso Introdu+º+úo Aos Direitos Humanoslance direitoAinda não há avaliações
- LABRONICI, Rômulo para Todos Vale o EscritoDocumento165 páginasLABRONICI, Rômulo para Todos Vale o EscritoVinicius Ferreira NataAinda não há avaliações
- A GEOGRAFIA ELEITORAL DAS MILÍCIAS Um Estudo Exploratório Dos Candidatos À Câmara Municipal Do Rio de JaneiroDocumento116 páginasA GEOGRAFIA ELEITORAL DAS MILÍCIAS Um Estudo Exploratório Dos Candidatos À Câmara Municipal Do Rio de JaneiroarilsonAinda não há avaliações
- Prevenção e Responsabilidade Ou Punição e Culpa?Documento15 páginasPrevenção e Responsabilidade Ou Punição e Culpa?Guilherme DornellesAinda não há avaliações
- Biografia - Jair Messias BolsonaroDocumento3 páginasBiografia - Jair Messias BolsonaroMichel FondaAinda não há avaliações
- A Cultura Jurídica Brasileira e A Questão Da Codificação Civil No Século XIX (Ricardo Marcelo Fonseca)Documento16 páginasA Cultura Jurídica Brasileira e A Questão Da Codificação Civil No Século XIX (Ricardo Marcelo Fonseca)Lucas Igor100% (1)
- Historia Das Revistas PiauiensesDocumento15 páginasHistoria Das Revistas PiauiensesMayara FerreiraAinda não há avaliações
- Rio, Uma Utopia Sem Amor: Violência de Gênero e Homicídio Contra Mulheres Meretrizes Nas Revistas Policiais Do Rio de Janeiro (1892-1925)Documento43 páginasRio, Uma Utopia Sem Amor: Violência de Gênero e Homicídio Contra Mulheres Meretrizes Nas Revistas Policiais Do Rio de Janeiro (1892-1925)Wellington R. de OliveiraAinda não há avaliações
- Teoria Das Relações Internacionais No Pós-Guerra Fria - HerzDocumento8 páginasTeoria Das Relações Internacionais No Pós-Guerra Fria - HerzMaria Eduarda PaivaAinda não há avaliações
- Livia - Lima BarretoDocumento3 páginasLivia - Lima BarretoLetícia GiovannaAinda não há avaliações
- Maués - Estado e DemocraciaDocumento9 páginasMaués - Estado e DemocraciaDécio MalhoAinda não há avaliações
- A Linguagem Do ImpérioDocumento3 páginasA Linguagem Do ImpérioLeonardo SenaAinda não há avaliações
- O tempo do Poeira: História e memórias do jornal e do movimento estudantil da UEL nos anos 1970No EverandO tempo do Poeira: História e memórias do jornal e do movimento estudantil da UEL nos anos 1970Ainda não há avaliações
- Confissões de Ralfo - Avesso Das MemóriaDocumento7 páginasConfissões de Ralfo - Avesso Das MemóriaMauríciodeAlmeidaAinda não há avaliações
- Criminalidade Direitos Humanos e Seguranca Publica Na BahiaDocumento336 páginasCriminalidade Direitos Humanos e Seguranca Publica Na BahiaFabiano DantasAinda não há avaliações
- MOURA, Maria Lacerda de - Serviço Militar Obrigatório para A MulherDocumento21 páginasMOURA, Maria Lacerda de - Serviço Militar Obrigatório para A MulherTatiana Ranzani Maurano100% (1)
- Thompson - A Questão PenitenciáriaDocumento12 páginasThompson - A Questão PenitenciáriaJamil Marques LimaAinda não há avaliações
- Texto 5 Hespanha, Manuel. As Vésperas Do Leviatã.Documento12 páginasTexto 5 Hespanha, Manuel. As Vésperas Do Leviatã.Tiago Santos100% (1)
- Juliana Vinuto PDFDocumento27 páginasJuliana Vinuto PDFLiana LisboaAinda não há avaliações
- Teoria Do Direito, Era Digital e Pós-HumanoDocumento29 páginasTeoria Do Direito, Era Digital e Pós-HumanoElaina ForteAinda não há avaliações
- Classificação Final - Superior - Ampla ConcorrênciaDocumento28 páginasClassificação Final - Superior - Ampla ConcorrênciaDarlan AlvesAinda não há avaliações
- HERRERA FLORES, Joaquin. Direitos Humanos, Interculturalidade e Racionalidade Da Resistência PDFDocumento18 páginasHERRERA FLORES, Joaquin. Direitos Humanos, Interculturalidade e Racionalidade Da Resistência PDFAristeu PortelaAinda não há avaliações
- Um Século de Favela11Documento7 páginasUm Século de Favela11Ronaldo FurtadoAinda não há avaliações
- Maranhao, Eduardo - Marketing BolaNeveChurch - OkDocumento279 páginasMaranhao, Eduardo - Marketing BolaNeveChurch - OkRita GonçaloAinda não há avaliações
- Notas Sobre o Neocontratualismo Na Teoria Da Justiça de John RawlsDocumento15 páginasNotas Sobre o Neocontratualismo Na Teoria Da Justiça de John RawlsJulius SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento - Tortura e Cultura Policial No Brasil ContemporâneoDocumento6 páginasFichamento - Tortura e Cultura Policial No Brasil ContemporâneoRudy Heitor Rosas100% (1)
- À Procura de Vacinas: Estado Dá Passo para Tombar Serra Do CurralDocumento28 páginasÀ Procura de Vacinas: Estado Dá Passo para Tombar Serra Do Curraljesimyel Silva Ribeiro 1984 galoucuraAinda não há avaliações
- A Via Colonial de Entificação Do CapitalismoDocumento18 páginasA Via Colonial de Entificação Do CapitalismoJefersonAinda não há avaliações
- Violência e Performance No Chamado Novo CangaçoDocumento29 páginasViolência e Performance No Chamado Novo CangaçoJania Perla Aquino100% (1)
- As Forças Armadas e o poder constituinte: a tutela militar no processo de transição política (1974-1988)No EverandAs Forças Armadas e o poder constituinte: a tutela militar no processo de transição política (1974-1988)Ainda não há avaliações
- Arapesh TrabalhoDocumento4 páginasArapesh TrabalhoIvanCarvalho100% (1)
- Capitalismo, Socialismo, Liberalismo e GlobalizaçaoDocumento10 páginasCapitalismo, Socialismo, Liberalismo e Globalizaçaowevertodeoliveira100% (1)
- Caderno de Resumos - VPreliminarDocumento212 páginasCaderno de Resumos - VPreliminarMatheus de CarvalhoAinda não há avaliações
- Escritas de SiDocumento107 páginasEscritas de SiKézia DantasAinda não há avaliações
- A Crise Da Democracia Brasileira-Convertido-1Documento162 páginasA Crise Da Democracia Brasileira-Convertido-1adridesleAinda não há avaliações
- Resenha Expandida - O Pêndulo Da Democracia LEONARDO AVRITZERDocumento14 páginasResenha Expandida - O Pêndulo Da Democracia LEONARDO AVRITZERFernanda Lage A. Dantas100% (1)
- Anel de GigesDocumento2 páginasAnel de GigesJoão AntonioAinda não há avaliações
- Os Idiotas Da Objetividade, Nelson Rodrigues. JC.Documento2 páginasOs Idiotas Da Objetividade, Nelson Rodrigues. JC.Daniela GomesAinda não há avaliações
- A atuação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha nos conflitos armados não internacionaisNo EverandA atuação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha nos conflitos armados não internacionaisAinda não há avaliações
- Tipos Históricos Do EstadoDocumento2 páginasTipos Históricos Do EstadoD100% (1)
- Clóvis Moura O Racismo Como Arma Ideológica de DominaçãoDocumento20 páginasClóvis Moura O Racismo Como Arma Ideológica de DominaçãoAna Paula CamposAinda não há avaliações
- RESUMO - Cap3 Repartição de Renda - Aprendendo Economia - Paul SingerDocumento6 páginasRESUMO - Cap3 Repartição de Renda - Aprendendo Economia - Paul SingerCaroline I. S. FreitasAinda não há avaliações
- Novos Desafios para A Teoria Democrática ContemporaneaDocumento26 páginasNovos Desafios para A Teoria Democrática ContemporaneaHISTARLEY DOS SANTOS CONCEICAOAinda não há avaliações
- Ementa Do Curso 'A Questão Criminal No Brasil Contemporâneo', Proferido Pela Prof. Vera Malaguti Batista-Uerj-2012Documento2 páginasEmenta Do Curso 'A Questão Criminal No Brasil Contemporâneo', Proferido Pela Prof. Vera Malaguti Batista-Uerj-2012bgxavierAinda não há avaliações
- Covid19 Capitalismo Crise PDFDocumento200 páginasCovid19 Capitalismo Crise PDFZé AzevedoAinda não há avaliações
- FERREIRA, António Casimiro - Sociologia Das Constituições - Desafio Crítico Ao Constitucionalismo de ExceçãoDocumento19 páginasFERREIRA, António Casimiro - Sociologia Das Constituições - Desafio Crítico Ao Constitucionalismo de ExceçãoOz FalchiAinda não há avaliações
- (Andreas Hofbauer) O CONCEITO DE "RAÇA" E O IDEÁRIO DO "BRANQUEAMENTO" NO SÉCULO XIX - BASES IDEOLÓGICAS DO RACISMO BRASILEIRODocumento48 páginas(Andreas Hofbauer) O CONCEITO DE "RAÇA" E O IDEÁRIO DO "BRANQUEAMENTO" NO SÉCULO XIX - BASES IDEOLÓGICAS DO RACISMO BRASILEIROPatrick Silva Dos SantosAinda não há avaliações
- Anteprojeto de TCC Giselle Baptista TeixeiraDocumento16 páginasAnteprojeto de TCC Giselle Baptista TeixeiraLeo SouzaAinda não há avaliações
- Apx3 PDFDocumento3 páginasApx3 PDFLeo SouzaAinda não há avaliações
- Anteprojeto TCC - Mattheus Macedo Dolne PereiraDocumento14 páginasAnteprojeto TCC - Mattheus Macedo Dolne PereiraLeo SouzaAinda não há avaliações
- Apx3 PDFDocumento3 páginasApx3 PDFLeo SouzaAinda não há avaliações
- Leitura Da Aula 3 PDFDocumento49 páginasLeitura Da Aula 3 PDFLeo SouzaAinda não há avaliações
- Manual Colaborador ForpontoDocumento5 páginasManual Colaborador ForpontoLeo SouzaAinda não há avaliações
- O Bota Abaixo de Pereira Passos A Tentativa de Promover Uma Nova Etica UrbanaDocumento16 páginasO Bota Abaixo de Pereira Passos A Tentativa de Promover Uma Nova Etica UrbanaLeo SouzaAinda não há avaliações
- Os Caminhos Do LixoDocumento17 páginasOs Caminhos Do LixoLeo SouzaAinda não há avaliações
- Revolta Da ChibataDocumento10 páginasRevolta Da ChibataLeo SouzaAinda não há avaliações
- TCC Lara JannuzziDocumento48 páginasTCC Lara JannuzziEdilson Marcio Almeida da SilvaAinda não há avaliações
- Zé PelintraDocumento4 páginasZé Pelintrajuandsant100% (3)
- Cantigas de Malandro - Yasmim 2Documento14 páginasCantigas de Malandro - Yasmim 2Yasmim Vianna100% (1)
- O Mais Belo Futebol da Terra_ o que somos, porque nos destruímos _ by József Bozsik _ MediumDocumento57 páginasO Mais Belo Futebol da Terra_ o que somos, porque nos destruímos _ by József Bozsik _ MediumRafael SaldanhaAinda não há avaliações
- Luiz Rufino - Filosofias Do CorpoDocumento18 páginasLuiz Rufino - Filosofias Do CorpoKarolina Souza100% (1)
- 10 - Pontos de ExuDocumento15 páginas10 - Pontos de Exuedilsonsantos1997gbiAinda não há avaliações
- Projeto de Recuperação Paralela - 3º Ano Médio - Dissertativo ArgumentativoDocumento8 páginasProjeto de Recuperação Paralela - 3º Ano Médio - Dissertativo ArgumentativoPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- Um Babalaô Me ContouDocumento9 páginasUm Babalaô Me ContouThatyane CarvalhoAinda não há avaliações
- Anos 1940Documento42 páginasAnos 1940Thamires CorrêaAinda não há avaliações
- A Bíblia Das Cantadas - 4.2Documento108 páginasA Bíblia Das Cantadas - 4.2Everton MaMae MarquesAinda não há avaliações
- PDF 20230713 172055 0000Documento56 páginasPDF 20230713 172055 0000Tata CardosoAinda não há avaliações
- 17 - PONTOS CANTADOS MALANDROSDocumento15 páginas17 - PONTOS CANTADOS MALANDROS0lid0.lpAinda não há avaliações
- Atividade Governo VargasDocumento7 páginasAtividade Governo Vargasapi-3740186Ainda não há avaliações
- 03 - Bezerra Da Silva PDFDocumento57 páginas03 - Bezerra Da Silva PDFEverton Souza100% (1)
- PontosDocumento30 páginasPontoscarlosaugustoofc2021Ainda não há avaliações
- Resenha - Fichamento - Dialética Da Malandragem PDFDocumento9 páginasResenha - Fichamento - Dialética Da Malandragem PDFRoberto JuniorAinda não há avaliações
- BenguelaDocumento12 páginasBenguelaJunior RodriguesAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro O Que Faz o Brasil BrasilDocumento9 páginasFichamento Do Livro O Que Faz o Brasil BrasilTaynara FernandesAinda não há avaliações
- CansionarioDocumento52 páginasCansionarioDaynier PeckAinda não há avaliações
- Musicas e Artistas - Vargas - FinalDocumento6 páginasMusicas e Artistas - Vargas - FinalLucas BaakoAinda não há avaliações
- Conto ZeMaquinista InesDocumento10 páginasConto ZeMaquinista InesWendel AnthunyAinda não há avaliações
- Baianos e MalandrosDocumento12 páginasBaianos e MalandrosGabriel Kitzmann100% (2)
- Os Desafios Da Escola Pública Paranaense Na Perspectiva Do Professor Pde Produções Didático-PedagógicasDocumento59 páginasOs Desafios Da Escola Pública Paranaense Na Perspectiva Do Professor Pde Produções Didático-PedagógicasKarla NielsAinda não há avaliações
- Capitulo 7 - SociologiaDocumento32 páginasCapitulo 7 - SociologiaJean CarlosAinda não há avaliações
- Mal Do Malandro É Achar Que Só - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaMal Do Malandro É Achar Que Só - Pesquisa GoogleJhonata O AlipioAinda não há avaliações
- Zé Pilintra Não É Zé PilantraDocumento29 páginasZé Pilintra Não É Zé PilantraCalmon Tabosa100% (1)
- Historias Dos ExusDocumento19 páginasHistorias Dos ExusFenando FilgeiraAinda não há avaliações