Uma articulação entre o Estado e as “Autoridades Tradicionais”? Limites na congruência entre o Direito do Estado e os Direitos “Tradicionais” em Angola
Armando Marques Guedes
Muitos dos Estados africanos contemporâneos têm sido diagnosticados como vítimas de uma crise de legitimidade.
Estou grato pelas leituras, discussões e comentários formulados por Rui Pinto Duarte, Stephen Ellis, Albert Farre, David Henley Jan Michiel Otto, Ravi Afonso Pereira, e Maria Johanna Schouten. Largos segmentos do presente texto não teriam vindo à luz sem o apoio de Jorge Azevedo Correia, Francisco Corboz e João Pedro Pimenta, a quem agradeço a imediata disponibilidade. A responsabilidade por este ensaio permanece inteiramente minha. O texto em inglês da apresentação em que se baseia o presente trabalho – cujos conteúdos, embora formulados em termos diferentes, não diferem muito dos aqui expostos – foi publicada em Armando Marques Guedes (2007). Tal concepção não está desligada dos processos quantas vezes turbulentos de State-building nos quais estão envolvidos: muito daquilo que provoca as crises contemporâneas está enraizado na notória insegurança com que estes Estados, ainda recentemente reconfigurados e, na maior parte dos casos, frágeis, mostram quando tentam novamente adaptar-se – e tentam-no a um ritmo pouco saudavelmente veloz – a um mundo rapidamente comprometido nas mudanças que acompanham os processos de transformação a que chamamos globalização. Há, porém, outras razões, mais históricas, para um défice de legitimidade que podemos facilmente detectar: parte dele está também indubitavelmente ancorado nas normais dores de crescimento, um estado de coisas banal, ainda que transitório, agravado por uma vulnerabilidade aos autênticos tours de force económicos da geração de líderes africanos que sucederam aos carismáticos Founding Fathers do primeiro momento pós-colonial.
Mais razões merecem ser sublinhadas, várias delas decifráveis num plano puramente sincrónico. Parece claro, por exemplo, que muitas das actuais crises de legitimidade que com facilidade detectamos em África devem ser associadas à presença de pluralismos jurídicos e jurisdicionais hard, pluralismos esses que formam multiplicidades densas que tendem a cruzar-se com pluralismos sociológicos ou institucionais – o que faz da governação uma actividade arriscada, para dizer o mínimo, especialmente quando as entidades estatais se vêem enfraquecidas pelas interacções incessantes de conjunturas externas e internas em mudança
É certo que amálgamas de pluralismos variados podem ser encontradas noutras instâncias; seria, por conseguinte, injustificado tratá-las como um fenómeno especificamente africano. Em África, contudo, estas amálgamas ganham expressão em múltiplos domínios; têm uma dimensão institucional; e, segundo as experiências vividas, quaisquer formatos de harmonização normativa que possamos imaginar parecem ser tudo menos possíveis. Numa perspectiva comparativa em vol d’oiseau e de largo espectro, o pluralismo na África sub-Sahariana, não só é quantitativamente, como é também, em certo sentido, qualitativamente mais intenso que em quase todos os outros locais. Para uma discussão mais desenvolvida destes pontos e dúvidas que lhes são associadas acerca da possibilidade de formular generalizações sobre “África” ver a minha monografia Armando Marques Guedes (2004), em especial a primeira secção..
É possível que fenómenos de aparente incongruência não passem disso mesmo, simples questões de aparência, e, portanto, possam ter uma solução. Tal parece no entanto bastante improvável: uma boa quantidade dos estudos levados a cabo nas últimas duas décadas – se não mesmo a maioria deles – alerta-nos para a presença de um número infindo de obstáculos que travam esforços para alcançar qualquer tipo de compatibilidade (e, portanto, muito menos um nível bom de integração efectiva) entre Estado e “direito costumeiro” nas comunidades políticas africanas contemporâneas. O mais leve escrutínio de um século de modalidades diferentes de experiências e práticas coloniais tende a corroborar a impressão de que se existe uma solução, ela, de facto, nunca foi encontrada. Procurarei, no que segue, defender que há, efectivamente, boas e sólidas razões para dúvidas mais robustas, quanto a eventuais articulações “democráticas” entre o Direito estadual e os “tradicionais”, do que aquelas que avulsamente têm sido fornecidas: dúvidas essas decorrentes de meras questões de congruência.
Explorarei alguns casos angolanos recentes que escolhi pela sua relevância, tentando esboçar algumas das questões principais suscitadas pelo que Jeffrey Herbst celebremente caracterizou como “the complicated dance between States and Chiefs”
Jeffrey Herbst (2000: 174). Uma coreografia que bem merece ser compreendida. Como o próprio Herbst escreveu numa página antes de usar a belíssima imagem, “one of the most contentious issues in the politics of the continent has been the relationship between central authorities and leaders”. A bibliografia que trata estas questões é extensa. . Não é minha intenção, de forma alguma, esgotar o tema; quero apenas esclarecer aquilo que considero recantos insuficientemente iluminados. Fazê-lo, permitir-me-á – espero-o – reconduzir assuntos a molduras mais amplas e equacionar eventuais soluções. Mesmo que finalidades normativas sejam abandonadas, esta estratégia oferece-nos uma vantagem óbvia. Na pior das hipóteses, o esforço cartográfico que proponho levar a cabo possibilita a delimitação das possíveis formas de congruência e harmonização entre Estado e sistemas normativos legais e políticos “tradicionais” em Angola. Ao longo do meu argumento, procurarei manter a postura do que considero ser uma saudável equidistância relativamente às várias escolhas que confrontam os líderes angolanos, não indo muito além da delineação daquilo a que podemos chamar uma topografia geral de matérias
O caminho oposto, escolhido por Ineke van Kessel e Barbara Ooman (1999) e por eles explorado num paper sobre a estrutura e evolução de chefias tradicionais na África do Sul moderna, parece mais preocupado com as árvores que com a floresta, com todas as vantagens e desvantagens que tal estratégia implica. Não creio que mais conhecimento acerca dos factos mudasse a essência desta análise, ainda que lhe conferisse, certamente, uma maior complexidade, uma base empírica mais ampla e, portanto, uma melhor resolução. Kessel e Ooman dedicaram-se a estabelecer história e genealogia; tento, ao invés, identificar incompatibilidades inultrapassáveis. . Mais do que a maioria, se não do que todos os países africanos, Angola
Angola é o exemplo que tratarei neste breve estudo; acredito, contudo, que vários outros casos poderiam ilustrar o fenómeno. Uma maior resolução de imagens, para usar uma metáfora, revela claramente razões de fundo para a minha convicção: não é certamente difícil vislumbrar vários avanços e retrocessos na operação das grelhas sistémicas que, ao longo dos anos, têm exercido fortes pressões nos árduos e mal sucedidos processos de reconhecimento de fontes de Direito locais em África. Um dos mais icónicos destes fluxos e refluxos foi certamente aquele a que os avanços e retrocessos nos domínios de “jurisdição subsidiária” dão corpo, ao ligar Estados africanos embrionários com as chamadas “autoridades tradicionais”. De facto, delineiam, por um lado, uma das arenas nas quais pressões externas formais e informais (ambas provindas do sistema de Estados internacional e das comunidades doadoras e de ONGs) se fazem mais directamente sentir. O âmbito formalmente atribuído a “autoridades tradicionais” parece-me, por outro lado, sujeito a uma das flutuações mais significativas e interessantes de entre todas as que podemos analisar – e essa centralidade advém não só da abundância de implicações jurídicas e políticas que estes movimentos podem gerar, mas também do facto de que estas formas emblemáticas de “devolução” redundam num dos ingredientes mais activos no plano da disseminação efectiva de uma consciência política constitutiva das complexidades do pluralismo legal e institucional patente em África. sofreu profundamente com a Guerra Fria e as convulsões civis que implicou. É também densamente plural, em todos os sentidos do termo, e este pluralismo tem sido muito afectado pela sua trajectória nos últimos cerca de cento e cinquenta anos. Como iremos ver, em casos como os que temos em mão as duas tendências frequentemente convergem, e por via de regra reforçam-se mutuamente. Em termos políticos e jurídicos Angola é, de facto, complexa. Não será excessivo afirmar que as três palavras-chave que a podem delimitar enquanto objecto são pluralidade, disseminação e volatilidade
Para uma discussão mais detalhada da aplicabilidade destas ideias-chave a realidades contemporâneas angolanas, ver o meu Armando Marques Guedes (2005), sobretudo a sua terceira parte.. Grupos “autóctones” exibem não só diferenças etno-linguísticas marcantes, como também diversos níveis de integração política
Um breve esboço. No enclave nortenho de Cabinda, por exemplo, há vários “reinos” matrilineares com hierarquias sociais íngremes. Em todo o caso, este tende a ser o padrão em quase todo o Norte de Angola, mesmo que nas províncias do Nordeste, “nativos” mistos Lunda e Tschokwe que chegaram do Leste mostrem padrões sócio-políticos substancialmente diferentes. No Noroeste vivem grupos Bakongo que durante muitos séculos se associaram dentro do “Reino Kongo”. Todos estes grupos vivem tradicionalmente da agricultura. Numa linha que corre a Leste da capital, Luanda, e, abaixo, pela cidade costeira de Benguela, vivem os Kimbundu, agricultores cum comerciantes, que incluem alguns subgrupos dedicados a economias piscatórias mistas. A faixa central do imenso território angolano, composta maioritariamente pelo Planalto Central, é habitada por agricultores Mbundu, que tendem a organizar-se localmente em clãs e linhagens num modo “clássico” centro-africano. As suas franjas cruzam-se no Sul com falantes de Ovimbundu, essencialmente pastores semi-nómadas, divididos em numerosas entidades com fronteiras ou limites, tanto socialmente como territorialmente fluidos. O Sul de Angola tem tradicionalmente sido habitado por Hotentotes não-Bantu, alguns dos quais pastores e alguns Bosquímanos caçadores, recoletores e comerciantes, com níveis fracos de integração política para além da dos acampamentos. A urbanização em Angola é avassaladora e a guerra levou a maciças e rápidas vagas de êxodo rural. Uma população considerável de mestiços vive nas cidades principais e nalgumas áreas rurais também. Algumas centenas de milhares de portugueses (alguns deles, agricultores, muitos homens de negócios, e um vasto número de staff de suporte técnico) ainda vivem em Angola. cubanos e soviéticos saíram de Angola mas, actualmente, muitos chineses começaram a chegar e vários estão, aparentemente, a instalar-se no Planalto Central, o lugar histórico Mbundu da UNITA – apesar de na maior parte dos anos 70 e 80, o extremo da província Sudeste de Kuando-Kubango, onde se encontra a mítica Jamba, tenha servido como seu quartel-general. Com a indizível brutalidade da guerra e as mudanças profundas que esta induziu, rápidos processos de hibridização social e cultural diluíram fronteiras que, de qualquer forma, nunca foram muito nítidas. .
O ponto que quero sublinhar – o arco narrativo deste ensaio, se assim se quiser – é simples e linear. Procurarei defender que o Estado e “leis tradicionais” se tornam mais facilmente congruentes a longo do que a curto prazo, especialmente em casos, como o de Angola, nos quais ao pluralismo legal é somada uma camada de pluralismo institucional ou sociológico densos, gerando uma espécie de versão em alta intensidade de pluralismo que tem de ser cuidadosamente cartografada se a quisermos politicamente viável. O que quero, sobretudo, enfatizar é que, em última instância, parece inevitável que o arranjo geral irá ter de ser, em última análise, um de subalternidade diacrónica das “tradições”, na senda do que foi defendido por entidades políticas e administrativas oficiais durante muito tempo, apesar de o terem feito por razões de estato-centrismo e não por razões lógico-formais implícitas; com isto quero dizer que o ascendente hierárquico do Direito estatal tem de ser claramente afirmado e que os limites devem ser desenhados desde o início. Outros modelos, muito diferentes, são, decerto, nocionalmente possíveis, envolvendo, por exemplo, acomodações normativas não-hierárquicas, sobretudo se em múltiplas camadas. É plausível que muitos destes modelos funcionem bem, nomeadamente na Europa e Canadá; não funcionarão, contudo, de maneira aceitável em Angola, dadas as incompatibilidades radicais encontradas.
Usando case-stories como exemplos, procurarei demonstrar as razões pelas quais creio ser este o caso. Apesar de não me parecer de descontar a possibilidade de processos laboriosos de “acomodação política” poderem mitigar tensões parcial e temporariamente, estou convencido que uma harmonização efectiva e estável apenas poderá derivar de uma consciência lúcida daquilo que está efectivamente em causa, associada uma gestão ponderada de implicações politicas e jurídicas de quaisquer escolhas feitas no que toca aos mecanismos de articulação prática – e depois (e só depois) da cautelosa gestão de uma convergência progressiva de práticas costumeiras com práticas estatais. Boa ou má, uma orientação geral deste tipo parece-me ser inevitável, quanto mais não seja pela via de considerações “democráticas clássicas”. Em termos puramente formais, uma convergência na direcção oposta – isto é, uma que leve o Estado angolano a uma “nativização” – lograria a mesma compatibilidade; mas o resultado não seria um Estado moderno, e muito provavelmente nem sequer teria, num qualquer sentido reconhecível, um produto identificável como um Estado. Neste sentido, é essencial aquilo a que chamamos – com alguma falta de clareza acerca do que exactamente queremos dizer – State-building, um termo demasiadas vezes utilizado com uma notória imprecisão
Não tento aqui definir o que é State-building, dado que tal excederia, obviamente, o âmbito limitado deste ensaio. Para garantir que não sou mal compreendido, reformularei, por conseguinte, o ponto que enunciei no parágrafo anterior a partir de um ângulo ligeiramente diferente: o que estou a sugerir é que é possível interpretar a acomodação como um mecanismo, ou processo, constitutivo e construtivista. Para tal é, em última análise, suficiente assumir uma visão das coisas sociais menos “clássica” e talvez mais “comunitarista”, na senda, por exemplo, de Charles Taylor, Michael Walzer, Jeffrey Alexander ou Will Kymlicka, para mencionar apenas alguns nomes. Não ficaria, certamente, surpreendido se tal ocorresse no terreno, visto que a maior parte dos actores políticos angolanos assume uma perspectiva comunitarista. Ainda assim, defenderei que soluções comunitaristas só funcionam realmente se a supremacia estatal for garantida. Os resultados, mesmo neste caso, poderão ser inferiores àquilo que é por norma considerado como constituindo um Estado, e o seu funcionamento será sempre certamente menos que democrático. .
O presente ensaio divide-se em três secções principais. Forneço, primeiro, informação que penso ser essencial para o esforço de perspectivar algum do pano sociopolítico de fundo que faço questão de tomar em linha de conta; não pretendo ir além de um muito breve e leve esboço da progressão conjunta da articulação entre estruturas político-administrativas centrais e locais em Angola e a mudança nos papéis atribuídos às comunidades politicas locais e às suas lideranças. Aliterando Herbst, chamo a esta progressão conjunta uma forma de “dança sincronizada”. A ideia que quero defender é a de que cada uma destas duas séries só pode ser plenamente compreendida se e quando posta no contexto com a outra. Qualquer alternativa a isso releva do mais puro essencialismo; quero, designadamente, mostrar que a prática corrente de acomodação de “autoridades tradicionais” é melhor decifrada como uma forma conveniente de gesticulação politica, uma postura arriscada e populista que envolve perigos muito reais, infelizmente nem sempre reconhecidos em Angola.
Numa segunda secção, trato quatro “histórias de caso” que conferirem substância ao ponto anterior. Interessar-me-ei, especialmente, pelo traçar de limites. Três dos exemplos incidem sobre o Planalto Central, a mais densamente populada área do País, onde o Huambo, a segunda cidade angolana, está localizada, e onde a maior parte dos locais são falantes de Mbundu – a base clássica de recrutamento para a UNITA; não é surpreendente que esta área seja, em muitos sentidos, problemática no que toca aos assuntos mencionados. O meu outro exemplo, o quarto e último, é tirado de Cuando-Cubango, a maior das províncias angolanas, aquela que ocupa toda a faixa do Sudeste angolano.
A terceira e derradeira secção é mais interpretativa, e daí resulta que seja menos verificável e, portanto, mais lassa. Nessa última secção abordo o que, em última análise, não é mais que um conjunto de projecções especulativas, apesar de constituirem – ou assim quero acreditar – um exercício do que os anglo-saxónicos apelidam de educated guesswork.
1.
Começo por algumas generalidades e depois, progressivamente, circunscrevo um âmbito. Antes do mais, todavia, algum pano de fundo. Decorridos dois ou três séculos durante os quais influências europeias foram escassas, muitas vezes rudes, bastante localizadas, por via de regra cirúrgicas e variáveis, de 1884-1885 em diante (ou seja, após a Conferencia de Berlim) toda a África se sujeitou ao domínio colonial europeu; a única excepção foi, evidentemente, a Libéria
A Etiópia constituiu um caso diferente, um caso de colonização tardia. Talvez protegida pelo mito do governante cristão Prestes João, a Etiópia foi poupada da conquista europeia até à investida de Benito Mussolini, que se seguiu às fracassadas tentativas italianas de invasão militar (com 10.000 soldados) em 1896, às quais o Imperador Menelik conseguiu resistir. que James Monroe criou em 1822. É interessante notar que já nessa altura vários sistemas jurídico-legais operavam simultaneamente em virtualmente todos os territórios e unidades populacionais distribuídos no Continente. No Magreb, bem como na África sub-Sahariana, o pluralismo legal, como agora o chamamos, era a regra.
UNIDADE E DIVERSIDADE NOS FORMATOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS
A atitude formal das recém-chegadas administrações coloniais – que, quer o quisessem quer não, tinham de se confrontar com esse facto - não foi, de forma alguma, unitária, ou, em algum sentido relevante, uniforme. É certo que, tal como Edward Keene escreveu há cinco anos atrás
Edward Keene (2002), sobretudo pp.60-120., a postura jurídica genérica assumida pelos Estados europeus face a não-europeus manteve-se sempre bastante homogénea e evoluiu em contraste com a que ostentaram nas relações que tinham entre si: enquanto no último caso era a “tolerância” que predominava, no caso das interacções com África a regra foi a de sobre forçar sobre os autóctones – frequentemente de forma vigorosa – a “civilização”. Mas a uniformidade dessa postura escondia muitos traços heterogéneos: os meandros desta propensão colonial europeia (e os vectores segundo os quais normalmente são interpretados) foram variados e muito sinuosos.
Não vale a pena entrar em muito pormenor sobre tal sinuosidade e variedade. É suficiente mencionar que René David, o famoso juscomparatista, provavelmente teve razão quando contrastou “l’attitude jurídico-coloniale” dos britânicos com a dos “latinos”, referindo-se com este termo aos franceses, portugueses, espanhóis e belgas
René David (1984): 570-571.. Apesar de demasiado genérico– é escusado insistir que distinções mais finas deveriam ser nele apuradas – o contraste continua a ser útil. Segundo R. David, o último “grupo” tendeu a preferir manter a sua administração pública sob a égide da figura de “colónias” e, mesmo quando defendiam ideais liberais – o que fizeram frequentemente –, os Estados europeus adoptaram politicas de assimilação baseadas no duplo implícito de que os Homens tinham valor igual enquanto, curiosamente, a “civilização europeia” era considerada como sendo claramente superior aos “costumes africanos”.
Os britânicos, pelo contrário, favoreceram, por norma, a utilização de figuras administrativas como as dos “protectorados”; e, portanto, tenderam a preferir políticas de “domínio indirecto” [traduzo indirect rule]. Como é bem conhecido, tanto foi robustamente teorizado logo no princípio do século XIX por Edmund Burke, em relação à Índia, essencialmente em termos de um marcado realismo político, e implicou a noção – pelo menos como um princípio geral – de que “nativos” podiam e, de facto, deviam permanecer largamente sob auto-governo, sendo preferível que se administrassem a si próprios de acordo com os seus próprios “costumes” e que seguissem as “formas tradicionais” que decidissem escolher. Tal não deixava, contudo, de implicar uma submissão “imperial”: deviam, evidentemente, fazê-lo sob supervisão e controlo últimos por parte da Grã-Bretanha
Sejam quais forem os méritos da dicotomia de R. David, quero enfatizar um ponto óbvio – óbvio, em todo o caso, se pensarmos nele por um segundo – de que britânicos e “latinos” parecem ter transposto, de forma espontânea e muito directamente, às relações coloniais em que estavam envolvidos, simples variantes das concepções descentralistas e centralistas e modelos que aplicaram às suas próprias comunidades locais. Tal foi porém, na prática, pouco mais do que uma declaração de intenções.; é fascinante notar que a distinção do comparatista francês – no que toca à sua referência às relações empíricas evidentes entre europeus e africanos, ou governantes e governados, se se quiser – redundava em pouco mais do que numa fórmula. O que, como veremos, teve consequências inevitáveis nos mecanismos e estratégias para a consolidação do estatuto político, e até cosmológico, daquelas pessoas que mais tarde foram chamadas de “chefes locais”. P. Geschiere (1993), designadamente, compara neste último plano os exemplos francês e britânico. Seria um exercício fascinante levar a cabo um estudo semelhante sobre os casos coloniais portugueses (Angola e Moçambique, designadamente), que poderiam então ser comparados a equivalentes laterais pós-coloniais. .
Na prática, porém, as semelhanças efectivas patentes na “administração” concreta levada a cabo por “latinos” e “britânicos” superavam largamente as diferenças patentes entre elas: distinções entre as implicações concretas da “Common Law” e as modelizações “romano-germânicas” idealizadas, revelaram-se como pouco mais do que meras disparidades estilísticas nestes e noutros domínios. Um simples “thought-experiment” clarifica-o ad absurdum: seria impensável imaginar que as populações subordinadas ao domínio colonial britânico pudessem fazer valer de alguma forma relevante os seus costumes contra leis imperiais, tal como seria ingénuo acreditar numa hegemonia total e não-questionada do Direito Colonial “latino” sobre populações para as quais este era quase totalmente estranho.
Para desenvencilhar este contraste, será útil olhar para as realidades político-administrativas empíricas de um ângulo histórico-legal. O “domínio indirecto” constituiu, evidentemente, uma estratégia de controlo essencialmente baseada em teorizações, não realizadas, de Henry Sumner Maine e, no que toca ao exercício actual da administração colonial, formatadas por Lord Lugard
Para uma discussão deste ponto e de outros com ele relacionados, será útil ver o “clássico” estudo de T. W. Bennett (1981) sobre o Zimbabwe, Martin Chanock (1985) e o seu trabalho intemporal sobre o Malawi e Zâmbia, L. Benton (2002), e o pequeno texto de por Cristina Nogueira da Silva (2005) sobre a especificidade da doutrina colonial portuguesa. Há estudos numerosos e relativamente acessíveis sobre Frederick (Lord) Lugard. – muito graças às dificuldades que este último enfrentou ao se ver na contingência de ter de governar dez milhões de norte-nigerianos com um total irrisório de nove administradores ao seu lado. Independentemente de considerações políticas pragmáticas, a solução estratégica que Lugard gizou assentou, sobretudo, na convicção, liberal e muito romantizada, de Maine: a ideia segundo a qual o pluralismo jurídico devia ser cuidadosamente respeitado, uma vez que as sociedades nativas tradicionais eram tidas como estáveis, internamente coerentes, mas ao mesmo tempo frágeis e, portanto, altamente susceptíveis de serem irreversivelmente destruídas caso o Estado colonial britânico nelas interferisse directamente. Na prática, a versão britânica de domínio indirecto começou na Índia e, no fim do século XIX, foi transplantada para a África.
As doutrinas coloniais portuguesas (uso a expressão por comodidade, já que evidentemente estas variaram muito, ou melhor talvez, oscilaram, ao longo dos séculos XIX e XX) assentaram em premissas e ideias bastante diferentes destas. Nas colónias portuguesas – e nomeadamente em Angola – os africanos podiam, se assim o desejassem, abandonar os seus universos e afiliações normativas, desde que o fizessem definitivamente e alinhassem com o sistema político e jurídico do governo colonial
Cristina Nogueira da Silva (2005) op cit. : 918-919.. O que era visto como um dos meios de realização da “missão civilizadora” portuguesa: acreditava-se (e os Códigos coloniais reflectiam-no explicitamente) que de forma lenta, mas sólida, os africanos escolheriam ultrapassar a fronteira civilizacional que os separava dos portugueses “originários” – a progressiva eliminação de usos e costumes tradicionais era, de facto, tida como uma consequência natural e mecânica dos nossos esforços coloniais. Numa auto-representação que tinha vindo para ficar, a colonização portuguesa assumiu desde cedo vestes messiânico-evolucionistas não completamente conformes à “mission civilisatrice” francesa, ao “white man’s burden” britânico, ou ao “manifest destiny” dos norte-americanos.
A INDIRECT RULE E A “DANÇA SINCRONIZADA” ENTRE ESTADOS E ‘CHEFES’
De um ponto de vista empírico, as questões políticas e administrativas mais problemáticas que levaram a tal convergência objectiva, só começaram a ser realmente suscitados após a Conferencia de Berlim de 1884-1885. O condicionamento internacional – para o propósito de reconhecimento de direitos de colonização – para uma ocupação territorial efectiva e para um controlo eficaz pelo aspirante a colonizador era decisivo. Em África (e África era, de facto, o foco principal da Conferência), isto queria dizer que se tinha tornado útil e interessante
Esta “primeira vaga” de estudos foi levada a cabo (sobretudo em África) por académicos britânicos e franceses. Investigadores como Isaac Shapiro e E.E. Evans-Pritchard foram nela preponderantes. Provavelmente podemos ver na colectânea de artigos intitulada African Political Systems, de Meyer Fortes e E. E. Evans-Pritchard, publicada em 1940 – baseada em trabalhos de pesquisa levados a cabo por vários investigadores na década de 30 – o pico deste período inicial. Seguindo um padrão parcialmente davidiano, numerosos investigadores franceses e portugueses tenderam a preocupar-se, no decurso deste período, com a produção de manuais jurídicos sobre administração colonial, em detrimento de um foco na organização local. Os primeiros grandes manuais jurídico-administrativos portugueses, nomeadamente – muito influentes no que toca à administração colonial – foram produzidos neste intervalo. equacionar, uns com os outros, os assuntos que relevantes à criação e manutenção de laços de independência entre Estados coloniais embrionários e chefias locais, fossem elas “reinos” ou unidades de natureza tribal.
O que em resultado se tornou tão necessário quão activamente procurado foi a forma como se poderia torná-los viáveis. Num estilo verdadeiramente modernista, tal significava enveredar em trabalhos preparatórios de investigação. Como resultado, começando no fim do século XIX, e sobretudo do princípio do século XX em diante, começaram a ganhar forma estudos sobre sistemas jurídicos e políticos locais bem como monografias sobre formas de liderança africanas, em trabalhos frequentemente produzidos por uma nova geração de cientistas sociais, os antropólogos. Estes primeiros passos continuaram até ao século passado. A evolução dos horizontes de problematização gizados, ainda que conjunturalmente bem sustentada, não foi, de forma alguma, uniforme: como veremos, mudanças no próprio xadrez em que eles se tiveram de inscrever: inevitavelmente levaram a algumas alterações radicais na sua natureza, âmbito e temas. Ainda assim, uma espécie de dança analítica sincronizada tinha começado. A “primeira geração” da coreografia escolhida deu-se em duas etapas, duas fases que, dada a fluidez dos seus limites, me parece devemos conceber como “vagas”.
Se a Grande Guerra de 1914-1918 chegou a África – e muito obviamente chegou – a Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo no continente. Os Estados coloniais foram abalados. Os africanos nativos começaram a vir para a Europa para obter instrução. A nova ordem internacional desenhada pelos vencedores foi abertamente favorável aos novos ventos da auto-determinação que, como consequência, se faziam sentir. Talvez não surpreendentemente, no período imediatamente posterior a 1945, em conjunturas marcadas por tentativas de reafirmação de um “normal” exercício de poder, um primeiro pico foi alcançado no que toca a estudos jurídicos e políticos sobre chefias africanas e comunidades politicas associadas
Estudos detalhados acerca desta “segunda vaga” de trabalhos de investigação (mas incluindo-se ainda na “primeira vaga” segundo a minha taxonomia) infelizmente são escassos e seriam benvindos. Este foi, de facto, um período fascinante, como o mostra claramente a investigação levada a cabo nas colónias lateralmente equivalentes do Sudeste asiático (em particular as que eram ocupadas pelo Japão, que abertamente fomentaram a emergência de movimentos nacionalistas lá). Foram pontos altos Max Gluckman (1955), o clássico trabalho sobre o sistema jurídico de Barotse (Lozi) do Norte da Rodésia, Paul Bohannan (1957) sobre o sistema judicial dual dos Tiv nigerianos, e a colecção de A. R. Radcliffe-Brown e Darryl Forde (1950) sobre African Systems of Kinship an Marriage, uma espécie de volume par do de Meyer Fortes e E.E. Evans-Pritchard. Foi o tom político – frequentemente associado a um arriére gout pragmático – dos trabalhos publicados durante esta “segunda vaga” aquilo que possivelmente deu azo ás imputações radicais de uma cumplicidade entre “conhecimento” antropológico e “poder” colonial em Talal Asad (1975) e George Stocking Jr. (1991). Uma leitura como essa constitui porém, obviamente, de um exagero. Para uma discussão crítica destas posições, ver Armando Marques Guedes (2003), sobretudo a nota 15. .
Para Angola este foi o período germinal em que (com um atraso comparativo de pelo menos uma geração relativamente a outras colónias) se lançaram os primeiros estudos “etnográficos” de grupos autóctones, escritos por académicos e missionários: os nomes que me vêm à cabeça são os de Cordeiro da Matta e Héli Chatelain, seguidos de Óscar Ribas, Carlos Estermann, José Martins Vaz e José Redinha.
À imagem do que se verificou por toda a África, também em Angola a formatação de estudos produzidos não variou muito, enquanto esta “segunda vaga” de análises durou; o modelo subjacente do seu design, por assim dizer, torna-se, por tanto, fácil de esboçar. Nalguns casos, líderes locais, bem como o tipo de liderança pelo qual enveredaram, tenderam a ser vistos como incorporando o que eram consideradas formas políticas e jurídicas “costumeiras” sui generis. As monografias produzidas propenderam a limitar-se a “grupos” africanos, grupos que, para o efeito, eram tratados como entidades “tribais” ou “culturais” virtualmente autónomas
É interessante e significante notar que estas eram encaradas como tipos de organização pensadas, de uma forma durkheimiana, como reflexos de estruturais e arranjos locais de parentesco, em “sociedades” cujas “solidariedades” e coesão eram tidas como inseparáveis de laços de consanguinidade e afinidade; ou então, numa veia mais weberiana, enquanto manifestações de “tipos-ideais” de “poder” e expressões do que em última instância seriam estádios de formas de “liderança carismática”. Como iremos ver, o modelo weberiano iria prevalecer nos últimos anos, quando numerosos “neo-chefes”, como os apelido – com pouca “legitimidade consanguínea” – começaram a multiplicar-se em África. . Alguns desses trabalhos visavam muito explicitamente uma delineação politica e administrativa que pudesse vir a ser útil para as futuras administrações coloniais. A maioria não o era, contudo: a grande massa dos estudos foi antes desenvolvida como investigação básica, como lhe chamaríamos hoje em dia.
Esta fase inicial não perdurou, dado que os próprios cenários africanos mudaram. Em sincronização com a catadupa generalizada de independências que surgiram nos anos 60 e (no caso português) 70, levando à libertação de África e da ascensão de uma parcela africana do sistema de Estados internacional, a primeira grande “geração” de estudos teve um final abrupto. O número de projectos dedicados a objectos de estudo jurídicos “tradicionais” muito rapidamente caiu e, a passadas rápidas, “o Estado tornou-se no centro de todas as atenções analíticas”
Eduardo Costa Dias (2001): 29 num texto fascinante em que alude aos “notáveis” e “chefes” da Guiné-Bissau, no contexto da região de África. . Esforços entusiásticos (e, frequentemente, um forte compromisso político e programático) de investigadores envolvidos na ajuda dos processos íntimos de State e nation-building – duas expressões que na altura ainda não são usadas – exigiram-no. Uma “segunda geração” analítica de trabalhos emergiu como resultado. Os horizontes tinham como que sido redesenhados: seguiu-se a convicção forte de que Estados africanos recentemente independentes eram agentes reais de coisas tão distintas quanto “desenvolvimento”, “tradição” e “modernização”.
Em retrospectiva, parece claro que tenha ocorrido uma espécie de convergência de agendas. Formas políticas locais perderam a atracção que tinham. Instalaram-se novos tipos de poder. No entanto, os estudos etnográficos levados a cabo em moldes “clássicos” não desapareceram: viram-se ultrapassados. Talvez assumindo uma importância superior, a dissolução de impérios coloniais pareceu ditar o fim da disjunção entre “formas políticas indígenas” e o poder estatal que sobre elas agia. A retórica dos líderes africanos nacionalistas, veementemente modernizadora, pesou na reificação (justificada como politicamente correcta) de convergências putativas nas agendas políticas de Estados e “chefes”.
Pelo menos, assim o pareceu. Na realidade, no entanto, as divergências tinham sido acentuadas: as minudências da mudança mostravam, para observadores mais atentos, que a relação entre Estados e “chefes” se estava a tornar cada vez mais problemática. Não é necessária uma grande contextualização histórica e sociológica para evidenciar a raison d’être última para tanto. Em África, para a maioria de jovens nacionalistas “ilustrados” (e frequentemente educados no Ocidente) que visavam a emancipação – como regra, eram pessoas associadas a grupos em ascensão social e ligados a missões religiosas ou a elites urbanas dos “velhos tempos” – as atitudes e aspirações rotineiras de muitas das “autoridades locais” tendiam a ser incompatíveis com as inovações revolucionárias frequentemente sonhadas com idealismo voluntarista
Dois livros são essenciais para uma compreensão deste período em África. O de Jeffrey Herbst (op. cit.) e também o de Christopher Clapham (1996), neste último ver especialmente entre as pp. 31 e 40.. Em resultado, emergiu uma forte desconfiança, relativamente imune às opções político-ideológicas do Estado: como E.A. Van Nieuwaal escreveu, “most head of state, revolutionary or reactionary, were suspicious of the chief”
E.A. Van Nieuwaal (1987): 20-21..
Em muitos casos, a incongruência ao nível dos princípios da ordenação para a comunidade política viu-se amplificada pela publicitação da atitude ambivalente que muitas “autoridades locais” tinham assumido durante o período colonial e, em particular, pela ambiguidade das suas lealdades, posturas, e “enfeudamentos”, durante os processos – quantas vezes tão turbulentos – que levaram às independências africanas. Do ponto de vista dos “chefes tradicionais”, o cenário não teve contornos mais pacíficos. Em muitos casos os chefes locais – sem realmente compreender os métodos ou motivos e o impulso dos jovens gerações afro-nacionalistas – hesitaram e, consequentemente, recusaram (quando não se lhes opuseram abertamente) as agendas revolucionárias das elites urbanas instruídas apostadas num controlo rápido e decisivo do poder do Estado. Em muitos casos, a tensão emergente descambou numa situação geral de desconfiança mútua. Na maior parte das vezes, contudo, a situação ainda foi muito mais “esquizofrénica”, para usar a tão gráfica caracterização de Jeffrey Herbst
Jeffrey Herbst, op. cit.: 176.. Enquanto jovens líderes nacionalistas tendiam a ver nos chefes locais e estruturas políticas “espontâneas” competidores perigosos para as suas agendas de engenharia social, a verdade é que precisavam deles: enquanto, por um lado, aspiravam a substitui-los nos interiores rurais, pelo outro, era precisamente essa extensão de poder para áreas remotas não-urbanas que eles procuravam, e que precisavam para os seus chefes – não só como autênticas condutas de poder, mas também por razões ligadas à sua legitimidade local.
Angola é aqui, mais uma vez, um bom exemplo. Tal como fora o caso, uma geração antes, um pouco por toda a África sub-Sahariana, o jovem Estado soberano angolano aceitou desde cedo reconhecer a eficácia das “autoridades tradicionais” no seu papel como intermediários face aos vários grupos locais e regionais distribuídos ao longo do extenso território nacional. Essa aceitação foi, de início, contudo, hesitante e, de certo modo, renitente. É bastante fácil compreender porquê: das perspectivas ideológica e nacionalista (e as duas dimensões eram ingredientes absolutamente essenciais para a edificação das elites que controlaram o Estado durante a 1ª República), o mero facto de a sua própria premissa de poder, enquanto “representantes” do “povo” e dos “angolanos”, em larga medida não condenar automaticamente as “autoridades tradicionais” à irrelevância, tornou-se num claro factor de desconforto. Por outro lado – e isto foi efectivamente um corolário da reacção instintiva anterior – aceitar a evidência de que “autoridades” continuavam a assumir papéis importantes, e se viam alimentadas por mecanismos de legitimidade local, parecia equivalente a reconhecer que espaços políticos autónomos se viam mantidos (e, de facto, esse era o caso) no que era veementemente desejado como um controlo político e administrativo meticuloso e uniforme sobre toda a população e território nacionais.
Estas desconfianças reflectiam mais do que meras convicções ideológicas: exprimiam um real medo de alguns vácuos, no contexto de uma crescente e muito dura guerra civil empreendida em várias frentes – uma contenda na qual a UNITA, o grupo insurgente, competia com o Governo precisamente pelo controlo territorial e populacional monopolístico. Como se para piorar as coisas, nos círculos governamentais, era comum acreditar-se que muitos dos “chefes”, (e em muitos casos tal era mesmo verdade), tinham colaborado activamente com o poder colonial português, e que teriam recebido benefícios indevidos desse conluio – uma afirmação por norma mais exagerada. Para os militantes do MPLA, os chefes tradicionais representavam também entidades “politicamente retrógradas”, que o partido “vanguardista” no poder se sentia historicamente obrigado a erradicar. Uma boa dose de Realpolitik impôs-se todavia rapidamente: os “chefes tradicionais” eram precisos, pelo menos numa primeira fase, para um exercício eficaz do poder estadual. Como consequência, durante a 1ª República (uma 1ª República que formalmente terminou em 1991), mesmo se os sobas não fossem excluídos (como o foram, por exemplo, em Moçambique), a verdade é que iriam ser certamente alvos de muita desconfiança. Como noutras partes de África, a situação em Angola foi vivida numa dualidade complexa de distanciação e oportunismo. Esta necessidade filtrou lenta mas seguramente, em Angola como noutras paragens em África – e fê-lo com ou sem guerras civis.
Pelos anos oitenta adentro tais necessidades foram difíceis de ignorar, e com o correr do tempo a situação piorou: as rupturas que se deram no fim da década de oitenta e no início da de noventa causaram uma autêntica mudança tectónica. Foi-se tornando evidente em meados dos anos oitenta, que uma “terceira geração” de análises estava como que destinada a surgir, se de facto tivesse vindo para ficar o modelo bem testado de uma emergência – firmemente coordenada – de um suporte teórico para factos empíricos. O desastre generalizado para o qual muitas experiências de Estados pós-coloniais caminharam fizeram-se indubitavelmente sentir de forma muito pesada e dolorosa. Não será exagero afirmar que os Estados africanos tiveram de começar a fazer frente, pela primeira vez desde a sua criação, uma geração antes, a uma profunda crise de legitimidade. E viram também empurrados, em termos puramente funcionais, para uma crise de eficácia aparentemente insuperável: em geral, e por vezes de forma dramática, tornaram-se flagrantemente incapazes de fazer aquilo que tinham como propósito – governar. As dificuldades fizeram-se sentir principalmente nas terras do interior. Um pouco por toda a parte, como seria de esperar, as chefias locais, até então muito significativamente chamados em todo o continente de “autoridades locais”, tornaram-se novamente foco de interesse analítico – tanto por líderes políticos como académicos. Durante toda a década de oitenta, na realidade, no plano político normativo, as tentativas de codificar as relações entre os Estados e as “autoridades locais” complicaram-se em África. Em Angola o processo (re)começou algures em meados dos anos oitenta; aconteceu sempre naqueles casos – Moçambique, por exemplo – nos quais a repressão foi desde o início a palavra de ordem. No contexto de um fracasso crescente do Estado, não é decerto surpreendentemente que os políticos e as entidades locais se tenham rapidamente tornado parceiros essenciais no jogo da política nacional, regional, e local.
O “Renascimento Africano” (um termo alardeado por John Harbeson), ou seja a retoma de um continente torturado – uma recuperação largamente conseguida pela via de “transições democráticas” e que teve lugar no início dos anos noventa – reconfigurou relacionamentos centrais-locais segundo as novas bíblias políticas que aterraram a sul do Sahara. O reposicionamento de “autoridades locais” (de preferência crismadas, desde então, “autoridades tradicionais”, como começaram a ser conhecidas em fora analíticos), respondia a uma variedade de pressões, provindas de diferentes quadrantes. Empiricamente, os “chefes” renasceram devido em larga escala à ineficácia do Estado. Política e administrativamente, recuperaram centralidade em Estados empurrados, em muitos casos, para a fronteira do caos. Programaticamente, os líderes locais passaram a ser considerados essenciais para uma fruição efectiva do novo dogma da Boa Governação.
Em Angola, esta plétora de restrições uniu mãos com as novas e dramáticas conjunturas que resultaram do regresso da UNITA à guerra – este movimento ocupando, pela primeira vez, cidades, nos anos 90 e retirando efectivamente ao controlo governamental muito do território e ainda mais população. Em muitas regiões, a presença do Estado angolano simplesmente desvaneceu. Mesmo em regiões sob controlo nominal do Estado, o Governo tornou-se rapidamente incapaz de exercer o poder, ou pelo menos de manter uma boa parte do seu papel governamental, em todo o caso já escasso; uma dívida militar com rápido crescimento, uma corrupção local desenfreada e incontrolável, e uma forte irracionalidade da gestão tornou-o inevitável. Seguiu-se-lhes um marcado enfraquecimento dos laços de interdependência até aí existentes entre largas porções e camadas da sociedade “nacional”. Com o esbatimento de uma presença estadual, muitos “clientes periféricos habituais” viram os seus relacionamentos com o centro esvaziar-se a par e passo de conteúdo.
Amplamente como uma reacção a tais desenvolvimentos o Estado angolano decidiu, em 19992
22 O diploma essencial foi neste caso o Decreto-Lei 17/99, de 29 de Novembro de 1999, que reestruturou as relações entre a administração “central” e “periférica”, garantindo, em confronto com o “centralismo democrático” de outrora, uma rápida “desconcentração” e “descentralização” das funções do Estado. Em Fevereiro de 2002, o Conselho de Ministros angolano aprovou um “plano estratégico” para regulá-lo e realizá-lo. No nível mais baixo, eram criadas, pelo menos no papel, “autarquias” (Municípios, Comunas, Bairros (urbanos) e Povoações (rurais). Tirando algumas Povoações, tudo estava sob “directa administração do Estado”. Para as Povoações com “autoridades tradicionais” o desenho administrativo está ainda no projecto. Será provavelmente um composto de “administração directa” e “indirecta”, mesmo se formalmente acabar expressa constitucionalmente como totalmente “directa”. Para uma descrição e análise correctamente detalhada, ver Armando Marques Guedes et al. (2003).2, reorganizar-se – especialmente no que respeitou a relações entre o “centro” e a “periferia”. As “autoridades tradicionais” receberam uniformes2
23 Algo que vinha dos tempos coloniais. Em meados dos anos oitenta, o Estado angolano independente redesenhou os uniformes até ao mais ínfimo detalhe. É o Decreto-Lei 2/86, de 27 de Dezembro aquele que pormenoriza os uniformes a utilizar pelas “autoridades tradicionais”; quanto aos salários que estas recebem, o diploma relevante é o Decreto Executivo Conjunto 37/92, de 21 de Agosto.3, em muitos casos jipes de tracção às quatro rodas, e um salário mensal. O resultado foi o esperado. Por 2002, havia em Angola 25.000 “autoridades tradicionais” na folha de pagamento do Estado. Em 2004, o número tinha subido para 35.000. Estamos de momento (no ano de 2007) acima dos 40.0002
24 Os números são os oficiais que me foram dados pelo Ministro e pelo Vice-Ministro angolano dos Assuntos Internos e que foram por mim confirmados através do Gabinete do Presidente da República angolano. Na folha de pagamentos do Estado, os “Chefes” eram nomeados pelo ordenado que recebiam pelos seus papéis preenchidos enquanto “autoridade tradicional”.4.
Os chefes locais voltaram deste modo a Angola com estrépito, desta feita designados como “autoridades tradicionais” – um rótulo politicamente correcto a que voltarei na minha última secção. À primeira vista, podia parecer estarmos a testemunhar um renascer de uma longa e oportuna reiteração de um interesse, e de uma precaução, por entidades esquecidas e injustamente submergidas pelos ventos da história. Tratou-se porém de tudo menos isso. Os “chefes” tinham sido estudados por investigadores preparados para “laboratórios de descobertas”. De meados dos anos noventa em diante, novas chefaturas (e novos tipos de chefaturas) foram sendo criadas e sustentadas pelos vários poderes de um Estado Central que esperava (e lutava) por uma expansão das suas próprias clientelas. Um segundo passo (ou “vaga”, para manter a minha terminologia inicial) da “terceira geração” de análises estava rapidamente a ser dado. A posição das “autoridades tradicionais” como intermediários na ligação com o Estado é aparentemente a sua mais forte característica de marca; de um outro ângulo, ligeiramente diferente, será todavia porventura melhor encará-las como entidades que foram assumindo um papel a meio caminho entre o “central” e o “local”. O que é claro, a todos os títulos, foi que nesta tardia “terceira geração” já não era o “local”, nem o Estado, aquilo que atraía a atenção dos analistas, mas antes a modelização intricada das múltiplas relações estabelecidas entre os dois, entendidas como um nexo constitutivo de ambos. O que, de novo, reflectia circunstâncias profundamente alteradas no chão.
As consequências são bem conhecidas, e valem para Angola como para muitos outros países de África. Os estudos típicos dos dias de hoje tratam as velhas dicotomias como problemas – a entre o “local” e o “nacional”, a que opõe “modernidade” e “tradição”, ou os mais difusos contrapontos propostos, ou assumidos, entre “desenvolvimento” e “estagnação” (ou talvez “depressão”, ou até “regressão”), remoldando-as como no essencial entidades relacionais e inter-constitutivas. Na grande maioria dos casos contemporâneos, o olhar algo irónico dos autores para as “autoridades tradicionais” imagina-as como uma espécie curiosa de agentes políticos locais incrustados numa rede, compacta e cada vez maior, de comunicações – agentes que competem pelo ascensão e dominação jogando as cartas dos seus relacionamentos privilegiados com o centro, em conjunturas cujas coordenadas político-culturais se encontram sujeitas a constantes mudanças. Mesmo de uma perspectiva estritamente etnográfica tal não constitui, de modo algum, um desenvolvimento que possamos qualificar como surpresa. As novas “autoridades tradicionais” emergentes são na realidade “agentes locais organizados”, intermediários cujo perfil é muitas vezes totalmente atípico. Assumem diversas facetas, simplesmente porque são pouco mais do que “actores políticos locais”; e hoje em dia, na África pós-bipolar, tais actores surgem sob várias guisas. Muitos analistas têm tido como regra, nos últimos anos, reconhecê-lo de forma tão exaustiva quanto possível. De início, os investigadores verificaram que os diferentes tipos de actores políticos são cada vez mais rápidos a multiplicar-se nos enredamentos locais contemporâneos – por vezes instalados por motivações económicas, e outras vezes guiados por habilidades políticas, noutros casos guiados por finalidades religiosas ou místicas, numas poucas situações enquanto portadores de agendas médico-sanitárias. Alguns são jovens e uns poucos são mulheres, o que também é uma novidade. Estão todos a começar a ser reconhecidos como agentes eficazes, por mérito próprio, na ligação-articulação entre o nível central e o local, proliferando nas redes sociais profundamente alteradas que se vão instalando. Respostas pró-activas do Estado estão em curso e ajudam a mudar ainda mais estes cenários – e as mudanças induzidas são muitas vezes inesperadas.
Em resultado de todas estas reconfigurações sócio-políticas e sócio-económicas temos agora, como “chefes”, uma plétora do que poderemos talvez chamar “neo-chefes”, entidades que dificilmente encaixam em moldes clássicos. Os “chefes” com que hoje em dia deparamos são de facto entidades bastante diferentes – e em muitos casos até antitéticos, ou antinómicos – das “tradicionais” do passado. O poder que têm não é muitas vezes bem definido, como no caso de líderes carismáticos, sendo um resultado da sua posição como nexo entre as cidades e as áreas rurais, ou entre as gerações dos dias passados e as vindouras. Impõem-se muitas vezes – por uma espécie de efeito mecânico – como interlocutores do Estado e mediadores dos centros para as periferias e das periferias para os centros. Muitas vezes são entes criados, na totalidade, pelo Estado. Não raras vezes, através de curiosos processos de bricolage, os novos notables2
25 Um termo colhido na África francófona, inicialmente aplicado a millieux muçulmanos, mas com uma crescente adequação aplicável a outros palcos africanos. Em Angola, como na maior parte de África, muitos dos novos chefes, na verdade, emergiram ou dessa curiosamente “espace de notabilité” weberiana – ou para ela passaram rapidamente. Efectivamente, os estudos modernos tendem a apostar nas filiações múltiplas e estruturações conjunturais destes novos mediadores políticos, ou “agentes de mudança”, e tendem a dar realce aos meios pelos quais transcendem criativamente a natureza informal dos poderes difusos que retêm como resultado de serem precisamente isso, intermediários criativos. Concepções-chave nas novas agendas teóricas e metodológicas dos investigadores contemporâneos são, por exemplo, as de “arena”, “campo político”, “espaços de interacção”, “espace de notabilité”, multiplicidade de laços”, “informalidade”, “redes de comunicação”, e, claro, a sempre presente bricolage, essa venerável trouvaille terminológica de Lévi-Strauss para denotar processos-patchwork de invenção conceptual. 5 emergentes manipulam abertamente velhos símbolos prestigiados e dessa forma adquirem suplementos imensos de legitimidade. É curiosamente paradoxal – mas torna-se inteiramente compreensível nos termos de imagem de Herbst de uma dança entre local e central, e em termos de um estreitar de relações entre as análises realizadas e as agendas políticas da nova geração de analistas (as do Estado e das ONGs) – que estas muitas vezes novas entidades sejam apelidadas de “autoridades tradicionais” pelos Chefes de Estado africanos do início do século XXI. Um ponto ao qual regressarei na última etapa do presente trabalho.
Antes disso queria porém enfatizar que nada há de particularmente novo na minha leitura da situação: aquilo que afirmo não está muito longe do que Rijk van Dijk e E. Adriaan van Nieuwaal escreveram2
26 Rijk van Dijk e E. Adriaan van Nieuwaal (1997): 7, in E. Adriaan van Nieuwaal and Rijk van Dijk (1999), African Chieftaincy in a new socio Political Llandscape, African Studies Centre, Leiden.6. Nos cenários da África contemporânea, os novos papéis dos chefes foram observados de forma notável por J.F. Bayart como forma de “mediação” e Pierre Bourdieu denota-os como mecanismos de “trabalho transformado”. No entanto as mudanças são lentas: na Angola pós-Unita, para usar as palavras de Trutz von Trotha2
27 Trutz vom Trotha (1996), “From administrative to civil chieftaincy. Some problems and prospects of African chieftaincy”, Journal of Legal Plurslism (37-38): 79-107.7, a verdade é que uma “liderança civil” para-estatal foi acrescentada à “liderança administrativa”, na qual, em muitos casos, os líderes estão ainda em processo de incorporação num aparelho do Estado em crescimento. Para Dijk and van Nieuwaal, há de facto “um novo panorama” no mundo transformado das “chefaturas”2
28 Rijk van Dijk and E. Adriaan van Nieuwaal, idem.8. O que muda tudo; para van Dijk e van Nieuwaal, “a questão é que não só devíamos parar de enfatizar o legado das chefaturas africanas e a sua dependência em relação a uma política de nostalgia, mas não devíamos sequer considerá-las como ‘tradicionais’, o resíduo de algo autêntico”2
29 Ibid.. de novo tradução minha.9. Tasty food for thought.
2.
Como segundo passo, quero rascunhar e discutir algumas imagens de maior resolução destes novos cenários da Angola contemporânea. Eis então as quatro “histórias de caso” que escolhi expor e analisar. As primeiras três foram recolhidas em Angola, no Huambo e seus arredores, nomeadamente num campo de refugiados, Casseque 3, em 2002 (História 2) e noutro local em 2003 (a História 1, bem como a 3). Situo a quarta (a História 4) entre 2004 e 2005, baseado em conversas, referências jornalísticas e um longo Acórdão do Tribunal Supremo Angolano. Os “dramas sociais” que se desenrolam, como Victor Turner os apelida e como certamente o eram na realidade, e as histórias que, embora sob uma espécie de foco jurídico, envolvem um grau de contextualização que me permite articular assuntos no quadro sociopolítico local em que os eventos tomaram lugar e foram vividos, interpretados e compreendidos.
História de Caso 1
Em Novembro de 2002, em Cabata, um pequeno agregado de aldeias situado na Comuna do Sambo, no Planalto Central, um residente viu-se acusado de feitiçaria e foi severamente agredido pela população local. Não presenciámos as agressões físicas ao feiticeiro; mas o que presumivelmente ocorreu (repito, a informação é tão escassa quanto indirecta a este respeito) foi uma intervenção de último segundo pelo soma local, ou de alguém com autoridade substancial sobre a turba o que, in extremis, evitou o golpe fatal. Foi-nos dada uma razão pragmática para essa contenção: havia um medo generalizado de que o Estado angolano visse o sucedido como um caso de homicídio e, em resultado disso, os envolvidos pudessem vir a ser condenados como assassinos.
O que se seguiu foi tanto curioso como edificante. O “bruxo” foi levado perante o representante mais próximo do Estado, o Administrador da Comuna, por um grupo de residentes liderado pelo soma, e viu-se aí formalmente acusado de feitiçaria. Face a este “dilema” – o termo é do próprio – o Administrador como que tregiversou, declarando-se “incompetente” perante um crime (feitiçaria) não tipificado pela lei angolana e recusou-se por isso a tomar conhecimento da matéria. Não pôs, contudo, fim ao assunto e não assacou a responsabilidade pelo sucedido aos habitantes de Cabata, nem tomou qualquer outra medida que pudesse resolver a contenda – tendo-nos afirmado que “não soube o que fazer” e preferiu por isso “deixar as coisas seguirem o seu próprio curso”. Mesmo quando colocado perante a possibilidade de enviar o agredido para tratamento médico, decidiu que fazê-lo seria “enviar ao povo o sinal errado”, e assim, nada fez.
O assunto não terminou por aqui. Visando uma solução, o soma e os seus seguidores decidiram deslocar-se em seguida andando durante alguns dias, arrastando consigo o feiticeiro para o apresentarem, e ao seu caso, ao Rei do Sambo, Cipriano Kaningi, o grande soma inene da região. Cipriano Kaningi controla (ou controlava à altura) quarenta e oito ombalas (côrtes, em português, talvez seja a melhor tradução), e tinha então vinte e um “conselheiros” (os sekulos). De algum modo história repetiu-se: Kaningi, o soma inene, tal como o Administrador antes dele, foi cauteloso e declarou-se incompetente para avaliar a matéria. Deu como razão a origem do homem acusado. Era nativo de outro Reino, contíguo ao Huambo e esse, sim, era “o lugar apropriado”, para ser “levado à justiça”.
Quando, após outra longa viagem, a procissão chegou ao aldeamento do Rei do Huambo, este último decidiu que o homem deveria ser enviado para a Comuna do Chipeio, no Município de Ecunha, um local assaz remoto sob a jurisdição do Reino Huambo, onde, por decisão régia, seria perpetuamente ostracizado pelos crimes de feitiçaria de que era acusado. Tanto quanto se sabe ainda lá se encontra.
História de Caso 2
O segundo caso teve lugar há alguns anos, em 1999, também no Planalto Central onde se encontra o Huambo – um altiplano habitado sobretudo por Mbundu – mas desta feita na zona então ocupada pela UNITA. O soma local, um chefe menor, um reputado apoiante do governo e do MPLA, partiu para Luanda assim que as suas terras foram ocupadas pelos insurgentes. Seguiu-se o que os envolvidos nos caracterizaram como “um perigoso vazio de poder”.
Num ambiente local profundamente dividido, com a maioria dos habitantes leais às autoridades governamentais recentemente depostas, e com novos “homens fortes na terra” – os líderes da UNITA – foi sentido como urgente que houvesse uma solução política que garantisse alguma estabilidade e um patamar mínimo de controlo sobre a população local. Em resposta a esse imperativo, foi dado um passo raro e excepcional: na ausência de homens de confiança, três mulheres ascenderam à posição de soma com o apoio da UNITA, algo que aparentemente nunca havia acontecido ou de que, pelo menos, “não havia memória”.
Com os benefícios da retrospecção o que sucedeu em seguida teria sido previsível. A morte de Jonas Savimbi, a assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz e o efectivo fim das hostilidades, permitiram que o soma regressasse a casa em 2002, tendo para o efeito viajado de jipe de Luanda para o Mungo. À chegada deparou com o cenário inesperado. A solução foi rápida e necessária. Com a ajuda preciosa do Administrador António Cavindi, recém-nomeado pelo Governo, as três mulheres foram sumariamente desinvestidas dos seus poderes. O velho soma foi reinstalado na liderança e novos ombalas e sekulos (todos “homens e de correcta ascendência”, e também com “a filiação política nacional certa”) foram rapidamente investidos como sucessores das senhoras. As razões invocadas para este acto político foram bastante interessantes: alegou-se – e isto foi recebido com forte apoio local no Mungo – que mulheres tendiam a ser incorrigivelmente defensoras do seu interesses particulares e que potencialmente seriam feiticeiras poderosas com acesso a perigosas fontes de poder místico; eram, portanto, somas indesejáveis, mesmo que em cargos menores em ombalas de pouca importância.
Como curiosa nota lateral, é de interesse destacar que a substituição levada a cabo, embora (como assim parece) sendo bem recebida em Mungo, não foi unanimemente aceite nos círculos governamentais afectos ao MPLA: o Administrador Municipal, por exemplo, que na longa conversa que comigo teve se me apresentou como “um progressista moderno”, opôs-se à destituição e substituição, considerando-a eivada de “actos politicamente abusivos” e “retrógrados”. Foi tacticamente vencido, e como resultado recebeu uma rápida recolocação fora do território onde se havia desenrolado a contenda.
História de Caso 3
Como terceiro caso, escolho uma “forma judicial” com que deparámos num campo governamental de refugiados, Casseque 3, também no Planalto Central de Angola, desta vez apenas a cerca de 40 quilómetros da capital de província, o Huambo. Trata-se de um caso que já discuti noutros locais em maior pormenor3
30 Ver Armando Marques Guedes et al (2003) e Armando Marques Guedes (2005).0, pelo que o resumirei muito sumariamente. Até ao Verão de 2002, o Casseque 3 albergava cerca de 2500 refugiados. Em Agosto, o número tinha diminuído para umas escassas centenas, tendo a maior parte das pessoas saído com destino aos seus locais de origem – alguns, porém, preferiram calcorrear durante alguns meses o caminho até Luanda.
No campo conhecemos um rapaz, António Pinto, nomeado pelo Governador Provincial do MPLA como “coordenador do Partido para a cultura”. Era o chefe de facto do campo, capaz de mobilizar as autoridades através da sua filiação política, sendo reconhecido como tal pelos outros habitantes em virtude das relações de parentesco com o anterior soma que tinha partido para um subúrbio de Luanda “em busca de vida melhor”. António Pinto, uma “autoridade tradicional” em gestação na ausência do seu familiar, assegurava com aparente destreza as ligações entre os residentes do campo e as autoridades governamentais locais – nomeadamente os Delegados Provinciais para os vários Ministérios e os Administradores locais. Internamente desempenhava também um papel fundamental como líder geral de um grupo disperso de pessoas congregadas em condições muito difíceis.
Vale a pena que me detenhamos um pouco neste último ponto. Talvez compreensivelmente os conflitos não eram raros no campo Casseque 3, dada a severidade e atipicidade da situação em que as pessoas se encontravam, nas quais gente sem relações de parentesco entre si, ou apenas pessoas remotamente ligadas umas à outras, se viram forçadas a coabitar em espaços confinados, em condições de extrema escassez, e o no meio de estranhos locais, os residentes nas redondezas do campo. De acordo com estes residentes locais (e segundo me foi confirmado por António Pinto), a massa de assuntos contenciosos que ocorreram estavam centrados em disputas conjugais, que emergiam de infidelidades generalizadas, em acusações de feitiçaria entre vizinhos acidentais, em casos de embriaguez e em discussões associadas e furtos menores nos aldeamentos vizinhos e nos campos agrícolas da vizinhança. Encontrar soluções para casos que emergiam destas “frentes” formava o núcleo duro da “liderança judicial” de António Pinto – e constituía, em última análise, o core business das suas funções de “governação local”. Implicavam habitualmente a tomada de decisões em julgamentos, assumindo assim o jovem “coordenador cultural” o papel de pacificador local. Curiosamente, quando os casos eram demasiado complexos, ou envolviam mortes ou outras consequências especialmente gravosas, António Pinto via-se relegado a pouco mais do que ao papel de um intermediário reconhecido, dado que o mecanismo habitual então desencadeado era simplesmente o apelo às nunca demasiado distantes autoridades estatais angolanas para que estas tomassem conta da ocorrência.
A forma muito sui generis como o nosso jovem “chefe” desempenhava as suas funções judiciais e políticas, quando o conheci, parece-me no entanto fascinante. Relatá-la-ei, sumariamente. De acordo com as narrativas locais, o soma, residente em Luanda – o homem que Pinto substituiu – sempre operara judicialmente de acordo com os cânones tradicionais, se tal me é permitido como descrição, no que respeita a “instituições de disputa” (dispute institutions) Umbundo. Permitam-me que realce o modus operandi “clássico”. Quando emergiam conflitos o soma local convocava os sekulos para um tête-à-tête num django aberto, e aí ouvia o relato da disputa da boca dos “anciãos” que, segundo é dito, “representam as partes”. Tal era sempre realizado na presença dos “litigantes” (que nunca intervinham directamente), e na presença do maior número de “vizinhos” que pretendessem assistir. Após a primeira ronda, as “testemunhas de defesa” (traduzo aqui, abusiva e muito aproximadamente, o termo local de ocyane) eram ouvidas, seguidas das de acusação (conhecidas por epindikisio). O soma, com o intuito de cumprir o papel designado de “lídere supremo” do “tribunal” (no vernáculo muenlekanga) decidia então o que havia a fazer para resolver o caso em apreço – normalmente, como me foi afirmado, tentando uma fórmula negociada que as partes pudessem aceitar livremente como solução.
Este foi o modelo que António Pinto escolheu para a resolução de disputas com que passou a ter de lidar quando o soma partiu para a capital. De moto próprio, decidiu, contudo, introduzir algumas modificações no formato herdado. As mais importantes são sáceis de resumir: após a audição das “testemunhas” (os ocyame e os epindikiso), António Pinto, talvez dando expressão às suas próprias concepções daquilo em que deveria consistir uma boa participação política – ou talvez ávido de assegurar a legitimidade da sua decisão eventual, qualquer que ela fosse – procedia invariavelmente a uma espécie de votação popular. Após as intervenções formalizadas dos ocyame e epindikiso, todos os presentes no django eram por ele convidadas a falar sobre a matéria em questão e, em resultado disso, seguia-se um fogo cerrado de “defesas, ataques e críticas” no decurso do qual ele e “o povo presente” se envolviam animadamente. Só após essas discussões generalizadas chegava António Pinto a uma decisão – então anunciada “de imediato”.
Na minha conversa com ele, o muenlekanga temporário – que obviamente considerava a solução que inventara ser justificada e necessária – foi evidente o orgulho que A. Pinto tinha no método de adição que improvisara, que considerava, ao mesmo tempo, como politicamente correcta. e como um contributo para uma maior eficácia jurídica das decisões que tomava. Explicou-me que, em virtude das suas “consultas populares” alargadas e do seu cunho informal, era possível a tomada em linha de conta de “considerandos de fundo”, uma contextualização que permitia uma melhor atenção aos pormenores dos assuntos em deliberação. Parece-me claro que Pinto tomava as inovações como posicionadas a meio caminho entre uma forma de consulta pública popular e uma sessão de “crítica revolucionária”; quando, em todo o caso, lhe sugeri este diagnóstico, concordou entusiasticamente.
Como resultado desse “alargamento democrático” – o termo é meu e não dele – as suas sentenças, afirmou-me repetidamente, eram sempre acatadas pelos residentes do Casseque 3. Não tive meios de confirmar este último diagnóstico de António Pinto.
História de Caso 4
Esta é possivelmente a história mais interessante das que apresentei. De qualquer das formas é, certamente, a que tem um maior raio de implicações. Ocorreu no Sudeste de Angola, nos últimos dias de Agosto de 2002, na enorme e muito remota – para além de escassamente povoada – Província do Kuando-Kubango, cujo epíteto, na época colonial era o de “Terras do Fim do Mundo”. Os acontecimentos desenrolaram-se alguns meses apenas depois da morte de Jonas Savimbi e imediatamente após a assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz que pôs fim à longa e brutal Guerra Civil angolana. A sequência de acontecimentos é, como iremos ver, paradigmática e edificante.
Em fins de Agosto de 2002 alguns chefes locais (geralmente conhecidos por sobas, embora não seja esse o nome por que localmente são conhecidos), falantes de Ngangela liderados pelo “Rei” Bingo-Bingo, pediram para ser recebidos pelo Governador, Fernando Biwango, na capital provincial, Menongue. Com eles traziam outros oito sobas locais, que acusavam de feitiçaria. Os acusados vinham amarrados e patenteavam sinais nítidos de agressões violentas. A delegação das “autoridades tradicionais” requereu ao Governador o imediato aprisionamento dos oito acusados e pretendia que o grupo fosse enviado para o campo prisional de Bentiaba – um campo isolado na parte norte do deserto do Kalahari, no Namibe, no Sudoeste angolano.
De acordo com os chefes que acompanhavam a expedição de Bingo-Bingo, havia numerosas testemunhas de que os oito homens tinham como prática comum o assassinato de pessoas, posteriormente usando-as (ou melhor, aos seus “espíritos”) como “escravos” nos seus próprios terrenos agrícolas e nas suas actividades piscatórias. Isto significava, alegadamente, que os “bruxos” (de acordo com os registos do Tribunal Supremo de Fevereiro de 2005, o termo usado, em Ngangela, foi o de kamutukuleni, que, à falta de melhor, o tribunal decidiu traduzir por “feitiçaria”) prosperavam, contra a indigência dos outros habitantes da região3
31 Sigo aqui, de perto, os registos judiciais relativos ao caso e que correspondem ao Processo nº3.146, do Tribunal Supremo de Angola. O Tribunal Supremo, na sua decisão de Fevereiro de 2005, mencionou o uso de “pessoas já falecidas,“como escravos”, “progredindo assim” os feiticeiros “a olhos vistos, perante a indigência dos demais habitantes da região”.1. Naturalmente, tanto as práticas como as suas consequências eram localmente consideradas inaceitáveis e os sobas queriam por isso que os oito homens fossem removidos da região de uma vez por todas.
Porventura sentindo algum desconforto, o Governador Biwango recusou o pedido de enviar os homens para Bentiaba, invocando uma “inconformidade das acusações com a lei em vigor3
32 Nos termos do Acórdão do Tribunal Supremo angolano, “esta proposta (do “rei” Bingo-Bingo e dos seus acompanhantes) não encontrou acolhimento do senhor Governador Provincial, por alegada não-conformação com as leis vigentes”.2”. O Governador declarou, contudo, “compreender” a questão e o seu alcance e implicações. Como resultado decidiu, através de um memorando escrito, que neste e noutros casos de kamutukuleni, medidas severas e imediatas deveriam ser tomadas, com recurso às forças de Defesa Civil – o contingente militar local – “se necessário”3
33 Mais uma vez do Acórdão: a decisão defendia que deviam ser “tomadas medidas duras e urgentes, com recurso à Defesa Civil em caso de resistência dos acusados.3. Com esse propósito em vista, Fernando Biwango criou para a questão em apreço uma Comissão, que incluía alguns dos sobas de Menongue, o Regedor, bem como um representante do Governo Provincial. A Comissão reuniu, teve lugar um julgamento, e os oito homens foram sentenciados e condenados à morte por fuzilamento, a ser levado a cabo pelos militares locais. Foi para além disso decidido que os corpos seriam rapidamente lançados ao rio, para assim garantir que os seus “espíritos”, considerados malévolos e perigosos, não continuariam a assombrar a vizinhança.
A data para a execução foi marcada para alguns meses depois, presumivelmente porque o Governador Biwango decidiu retirar dividendos políticos da situação. No período que se seguiu, os oito acusados foram levados em parada um pouco por toso o Kuando-Kubango e mostrados como exemplo em comícios políticos convocados para o efeito. Quando a data final chegou, os homens foram devidamente executados. Sete deles foram amarrados e sumariamente abatidos, pelas costas, por um pelotão militar de fuzilamento. O oitavo foi, por sua vez, morto por um oficial que o atingiu a tiro no estômago quando o infeliz tentou escapar, mal o grupo começou a ser conduzido para o local da execução da pena; o texto do Acórdão do Tribunal Supremo é bastante gráfico e detalhado, nestas como noutras matérias de facto.
Como era inevitável, a história acabou por chegou Luanda e às autoridades centrais. A resposta estatal foi rápida. Os membros da Comissão, assim como os vários representantes do Governo envolvidos (incluindo alguns militares), foram julgados e, na sua maior parte, condenados, nalguns casos a penas acumuladas de vinte anos de prisão, noutros a menos, mas ainda assim sempre a penas de prisão substanciais e a sanções pecuniárias pesadas. Seguindo uma disposição constitucional que assim o exige, o Governador e o Vice-Governador foram julgados pelo Tribunal Supremo, única entidade considerada competente para tal, ambos tendo recebido sentenças de doze anos de cadeia, segundo Acórdão de Fevereiro de 2005.
DISCUSSÃO
Começo por notar que cada um destes casos toca em pontos diferentes – no que respeita aos meus objectivos – apesar da complementaridade dos assuntos versados. Mais ainda, fica decerto claro, pelos traços gerais das “histórias”, que as mesmas não foram escolhidas por serem genericamente representativas. Não o são. A maior parte das interacções entre os Estados e os “chefes”, em Angola – e nos restantes locais de África – tendem ver-se focadas em questões simples de disputas territoriais. Os meus quatro casos foram seleccionados precisamente por serem problemáticos e difíceis. O que todos eles fazem, ao que creio, é realçar e sublinhar os limites da congruência entre, por um lado, os imperativos normativos, de diferentes tipos, do Estado e, por outro lado, as constrições criadas pelas estruturas e práticas “costumeiras” – práticas e estruturas que nem sempre são fáceis de discernir, com os seus avatares contemporâneos, e que se manifestam, muitas vezes, como formas híbridas. Escolhi estas quatro histórias de caso porque elas me permitem um mapear exaustivo dos problemas patentes entre as necessidades estatais e os Leitmotif das comunidades locais na Angola moderna e pós-colonial – problemas esses, em grande parte, suscitados pelas tentativas de tornar estes dois planos congruentes entre si. Irei sumariamente reentrar nos quatro casos, primeiro um a um, e posteriormente no seu conjunto.
Entre outras questões, a História de Caso 1 suscita certamente uma complexa questão político-jurídica, ou jurídico-política, e não apenas uma questão técnico-legislativa. De facto, face a opções plurais, a primeira questão que se pôs aos vários líderes por cujas mãos o caso passou não foi uma questão puramente normativa; parece antes ter sido a da determinação da jurisdição competente – isto é, aquilo que foi tido como mais premente dizia respeito à percepção concreta da correlação das forças que, de facto, estavam em presença. O soma inene do Sambo, o Rei Cipriano Kaningi, compreendeu visivelmente e de forma perspicaz que, caso decidisse agir segundo a prática costumeira, o Estado angolano, recém-chegado à região, muito possivelmente iria abrir uma investigação que poderia culminar numa acusação de homicídio. Tratava-se de um risco que não estava disposto a correr. Por outro lado, a simples abertura de uma investigação estatal, independentemente da forma como ela pudesse terminar, levantaria dúvidas sobre o carácter soberano do seu poder de decisão enquanto soma grande. A colaboração com o Estado, nesta como noutras questões, apresentou-se como um mal menor – uma hipótese particularmente convincente se assumirmos (como provavelmente devemos, embora não tenhamos em boa verdade forma de o confirmar) que o nosso soma inene foi capaz de antecipar a decisão cuidadosa do Administrador, que preferiu protelar, ao invés de dar ao caso uma solução imediata. Tanto quanto sabemos, um e outro podem mesmo ter orquestrado uma resposta conjunta; tanto não seria, de forma alguma, novidade, dada a história de conluio entre as duas entidades, uma história que eventualmente conduziria Kaningi ao Comité Central do partido do poder em Luanda.
Note-se que, a menos que façamos um “desvio” do tipo do que aqui sugiro, a nossa reconstrução do que realmente se ocorreu está condenada a falhar: a sequência de eventos torna-se ininteligível. Numa visão mais pormenorizada, de facto, a decisão do Administrador de protelar o assunto – em vez de o fechar de imediato – é difícil de compreender até que assumamos que o fez nos termos de um cálculo político: uma vez que a “feitiçaria” não é uma categoria legal do Estado angolano, o Administrador teria normalmente rejeitado a acusação, em vez de ter recusado tomar conhecimento dela. Ao colocar-se, prudentemente, na posição expectável das autoridades estatais, o soma inene, Cipriano Kaningi mostrou preferir como caminho uma dose de hibridismo jurídico – ao passo que o Administrador, talvez desafortunadamente, se mostrou, por seu turno, profundamente hibridizado: não só admitiu implicitamente, contra legem, que a matéria tinha de facto relevância jurídica – se não a “feitiçaria” em si própria, pelo menos a necessidade de uma certa pacificação social através da reparação de um valor normativo transgredido; mas decidiu também que o destino dos acusados deveria ser determinado por uma sentença do “Rei” – um Rei que ele sabia ir aplicar um conjunto de princípios judiciais e regras inexistentes na lei do Estado angolano e, provavelmente, incompatíveis com esta. De uma perspectiva estatal, o próprio violou dois princípios constitucionais, o nullo criminem sine lege e da nulla poena sine lege. O Administrador fez, de facto, mais que isso: do seu próprio ponto de vista, não permitiu aos acusados o processo devido; e apesar da sua decisão lograr seguramente uma pacificação da comunidade local, esta resultou numa constrição dos direitos de circulação do homem acusado de “feitiçaria”.
Não devemos porém, dito isto, subestimar o aspecto político das acções do Administrador. Tanto se torna claro uma vez que notemos a preferência que o Administrador manifestou pela solução jurídico-estatal simples (o não reconhecimento de um crime, uma vez que a feitiçaria não é uma categoria legal) não foi óbvia, imperativa, nem talvez, sequer, a melhor escolha. Embora os Estados modernos não vejam, certamente, na “feitiçaria” uma matéria jurídica, pode dar-se o caso de que reconheçam (como é usual em Angola) que as populações locais o fazem e que em torno disso existe uma regra de reconhecimento comunitária e constitutiva, que lhes permite ordenar a sua vida social – uma forma de reconhecimento local relativa à forma como a comunidade por norma reage a tais acções; e que, por conseguinte, os Estados reconheçam que, sem tais reacções, esta regulae agenda perderia muita da sua eficácia normativa e, portanto, capacidade de ordenar as relações sociais nas unidades sociais nas quais age – tornando-se incapazes, assim, de manter a ordem social.
Se este for o caso – e tudo indica que foi – então, de uma perspectiva política, o Administrador, uma vez confrontado com a acusação e o indiciado, poderá ter sentido que deveria fazer alguma coisa. A questão torna-se, se assim for, uma questão de política criminal: isto é, se recusarmos olhar para os acontecimentos como estando situados ao nível das questões jurídicas privadas, mas encararmos o caso antes no plano dos assuntos jurídico-constitucionais, daí decorre que algo semelhante a um Direito “Estrangeiro” Criminal – mais do que um verdadeiro Direito Internacional Privado – deveria ser aplicado, uma vez que os dilemas passam a constituir um “conflito de leis” linear, que tem lugar ao nível das regras de reconhecimento de Hart. Note-se que esta interpretação redefine totalmente a moldura analítica, num sentido forte repondo o caso ao iluminá-lo de um ângulo diferente. Ao deferir uma decisão para o eventual julgamento do “Rei” do Huambo – para quem efectivamente empurrou o acusado, aquilo que o Administrador fez, na realidade, foi reconhecer a existência, em Angola, de competências próprias a comunidades políticas originárias, autónomas, e auto-reguladas. Um problema ao qual quererei, naturalmente, regressar.
A segunda história de caso, relativa a mulheres-soma, é interessante por outras razões mais “pontiagudas”. Como o Administrador do Mungo, António Cavindi, nos disse de uma forma muito linear, no Huambo, “as autoridades tradicionais são o braço direito da governação”. Este caso mostra-no-lo, entre outras coisas, e fá-lo independentemente de qualquer tipo de governação em que possamos pensar, quer a da UNITA, quer a do Governo liderado pelo MPLA. Da perspectiva da UNITA, a partida apressada do soma simpatizante do MPLA criou um indesejado vácuo de poder, um vácuo que a deixou sem meio de controlo (salvo um meio directo custoso e árduo) sobre a população local. Administrar e controlar politicamente os grupos locais em questão implicou um recurso indesejado à violência, algo a evitar por motivos de hard bem como de soft power; esse recurso desviou recursos e gerou má publicidade, tanto pela sua agitação e propaganda, quanto pelo seu impulso de “recrutamento de corações e almas”. As lealdades de parentesco não conseguiram encontrar apoio local adequado no grupo de linhagem do soma, e por isso, sem alternativa, o Administrador viu-se na contingência de ter de recorrer à invenção de somas mulheres.
Neste sentido, os oficiais da UNITA induziram os líderes locais a ensaiar uma forma atípica de co-optação, sendo este o meio disponível para a concretização do propósito de assegurar a concessão de poderes políticos a dependentes funcionais. Podemos ser tentados a considerar uma surpresa o facto do grupo local ter, efectivamente, consentido a inovação levada a cabo; mas talvez a “cedência” possa ser explicada pelas circunstâncias político-militares extremas então sofridas, ampliadas por laços transversais de fidelidade a um agrupamento político Mbundu em aflição, bem como por um mecanismo recíproco para a maximização do impacto político do grupo militar insurgente sobre os locais – ambos confrontados por algo vislumbrado como um “inimigo” exterior que tinha já contado com a “colaboração” do anterior soma. Por outras palavras e em termos pura e simplesmente contrafactuais: se não fosse o stress da guerra, seria improvável que mulheres tivessem ascendido a posições de poder. O que torna compreensível a razão pela qual, quando a guerra acabou e o soma regressou a Luanda, ele rapidamente tenha reassumido as rédeas do poder, destituindo-as sem aparente resistência local: o poder tinha novamente mudado para outras mãos, e os devidos realinhamentos deram-se naturalmente de forma rápida através de uma reafirmação simbólica do status quo ante.
Se esta leitura de sequências de facto e de motivações está, pelo menos, parcialmente correcta (e foi esta a essência da interpretação oferecida pelos vários participantes com quem falámos sobre os eventos), a História de Caso 2 não é realmente acerca de mulheres e relações de afinidade, ou até entre conceitos de poder e os de género: consiste numa narrativa pragmática sobre power politics numa situação excepcional de necessidade. Seguindo a minha linha anterior de raciocínio, podemos talvez ir mais longe e especular que talvez não houvesse no agrupamento local, em boa verdade, uma especial desvalorização positiva da ascensão de mulheres ao papel de soma (dado que, de qualquer das formas, tal aconteceu sem grande turbulência); antes, uma desvalorização positiva foi criada como um facto normativo, ou seja pela destituição desencadeada pelo regresso do soma. Se a primeira História parece indiciar que estamos, em Angola, face a um autêntico “sistema internacional” em miniatura, no qual vemos esboçar a germinação de proto-soluções normativas “internacionais”, a segunda sugere decerto, de maneira complementar, que os mecanismos de fertilização cruzada observáveis são complexos e intrincados.
A terceira História de Caso, acerca de António Pinto e das suas inovações judiciais no eufemisticamente chamado Campo de Deslocados Casseque 3, parece prestar-se a uma muito mais fácil leitura e dá, de facto, corpo a uma sequência de acontecimentos mais linear do que as duas anteriores. Trata-se de um simples caso de hibridismo jurídico e judicial. Envolve mediação de conflito com “consulta popular” num campo de refugiados e é, por conseguinte, um contra-exemplo mais transparente que aponta para condições sob as quais congruências se tornam possíveis; acredito, por isso, que são muitas as lições que podemos retirar de histórias como esta. A verdade é que casos como este nos mostram uma parcela da capacidade que o Estado angolano tem de fundir as suas formas legais com as locais: exibem mecanismos que operam em parte da capacidade local para absorver e integrar, em formas canónicas “tradicionais” e aparentemente de forma suave, dispositivos e práticas advenientes de outras instâncias.
Podemos ir mais longe. A um determinado nível, a terceira História de Caso contradiz a segunda, ao mostrar que existem reais alternativas às soluções “internacionalistas” esgrimidas face a “conflitos de leis”. A um nível porventura mais profundo, a terceira História aponta na direcção de eventuais soluções integradoras; salienta também, contudo, as tensões imprevisíveis – e, portanto, de difícil controlo – induzidas por justaposições de mecanismos que estão desenhados de acordo com lógicas diferentes. O modelo “tradicional” Mbundu para resolução de conflitos enfatiza o equilibrar de poder das linhagens locais através de modos de “representação judicial”, na qual todos os grupos corporativos locais participam. Por outro lado, as inovações de António Pinto tendem a fomentar um consentimento público colectivo baseado em expressões e preferências mais individualizadas. Serão decisões ancoradas nestas duas lógicas e mecanismos realmente sempre compatíveis entre si? Ou seja, em generalizando mais uma vez, são de facto complexos e intrincados os mecanismos de fertilização cruzada observáveis – são-no a ponto de a interacção dos vários sistemas normativos em presença alterar profundamente o patamar em que co-existem e se manifestam.
Por último, a quarta História de Caso, a que considero a pièce de resistance. A história fala amplamente por si e, portanto, não vale a pena perder muito mais tempo com ela. É suficiente dizer que nos mostra, de uma forma muito nítida e explícita, a enorme ambivalência que o Governo angolano exibe nas suas relações com as “autoridades tradicionais” e o “Direito tradicional” com que tem de lidar. Considerações político-programáticas e finalidades político-administrativas, como lhes chamei, constituem seguramente a fracção mais substancial da série de motivos que levaram as elites do Estado angolano a apoiar e capacitar [no sentido de lhes disponibilizar algum empowerment] as “autoridades tradicionais”. Todo processo continua, porém, marcado por uma enorme ambiguidade. Uma vez que restrições materiais (e nomeadamente logísticas) às capacidades estatais foram reconhecidas pela 2ª República, a lógica mais macro da progressão que se deu ficou bastante transparente; mas o porquê dessa propensão torna-se particularmente claro se tomarmos em conta as constantes invocações de africanidade e autenticidade tradicional que a UNITA anunciou e assumiu como uma das suas principais bandeiras, especialmente numa das suas áreas essenciais para recrutamento e mobilização, o Planalto Central – face à ameaça criada para a sua própria legitimidade relativa, o Estado sentiu-se, compreensivelmente, na necessidade de lhes fazer frente; et pour cause – invocações de africanidade nunca deixaram de ser bem aceites entre os angolanos que, em geral, tendem a orgulhar-se dessa identidade e pertença. É também indubitável que, independentemente da forma como algumas elites urbanas possam professar desprezo ou mostrar sobranceria, face às “autoridades tradicionais”, estas tendem a ser romanticamente vistas como entidades pré-existentes, de alguma forma mais antigas que o Estado, entidades que escaparam à colonização e cujas implantação e legitimidade estão, por essa mesma razão, ancoradas em formas históricas de organização social na qual a “angolanidade” está enraizada. Os processos de formação e consolidação de uma opinião pública após a “transição democrática” do início dos anos noventa cristalizaram tais imagens, e propagaram-as, implantando-as distante e amplamente.
Para melhor ancorar uma visão de conjunto, quero deter-me um pouco num ponto que considero essencial: olhar as coisas da perspectiva das representações locais é um exercício proveitoso. A recuperação e capacitação das “autoridades tradicionais” pelo Estado angolano é uma atitude encarada por ambas as partes como conveniente. Da perspectiva dos Estados, o reconhecimento-integração de figuras do poder local cumpre duas funções principais: permite, por um lado, uma extensão da sua implantação, mesmo que apenas em termos indirectos; e, por outro, gera, e põe em circulação, imagens de um retorno às tradicionais formas de organização que incorpora esperanças num regresso a uma comunidade perdida no tempo que o colonialismo teria destruído e a cuja busca a brutal experiência de guerra não pode deixar de conduzir. Do ponto de vista das “autoridades tradicionais” elas próprias, um tal reconhecimento-integração também preenche várias funções – amplia o seu território e implantação, aumenta os seus meios para o exercício do poder, e, especificamente, a viabiliza a aquisição das muito convenientes e variadas comissões que o novo status lhes confere; o crescimento meteórico no número dessas autoridades atesta-o.
Mas a evidência de que estamos perante algo que é mutuamente conveniente de modo nenhum neutraliza a ambivalência sentida. Pode, ao invés, torná-la mais patente. Grosso modo, o discurso angolano estandartizado sobre o “Direito tradicional” e as “autoridades tradicionais” tem duas linhas de força. Uma delas é política num sentido pragmática: liga-se a uma intencionalidade e a um decifrar da realidade social com que os angolanos se confrontam. A outra trave-mestra manifesta uma posição mais profunda de pressuposições sobre a própria realidade social, cultural, e histórica, para a qual olha. Mais do que duas atitudes diferentes, comuns mas irredutíveis uma à outra, estas duas linhas de força parecem ser pensadas em Angola enquanto dois pólos de uma sequência contínua e a regra que fundamenta o jogo conceptual que subtendem é fácil de apurar. Na medida em que há uma formatação nocional, esta decorre, entre a elite dos detentores do poder, de uma tensão que tende a tornar-se cada vez mais visível entre, por um lado, uma ambição política e administrativa “modernizadora”, que aponta para uma cobertura geral e hegemónica de Angola e, por outro, uma expectativa nacionalista grosseira (em muitos casos com fortes sugestões “nativistas) que insiste numa re-visitação das “formas tradicionais políticas”, entendidas como “autónomas e espontâneas” – com a conotação de não contaminadas pelo domínio colonial.
Não será talvez excessivo dizer que a tensão está na realidade entre State-building numa extremidade da rampa, e nation-building, na outra. Muitas das pessoas com quem falei em Angola tentaram em vão reconciliar os dois pólos do que constitui, essencialmente, dois extremos, no fim de contas irredutíveis, de um gradiente. Mas serão capazes de substituir a construção de uma identidade mítica? Casos como os do Kuando-Kubango (a minha História 4), no final contrariam a possibilidade dessa harmonização...
3.
Nesta última secção, quero colocar as questões que suscitei num quadro ainda mais alargado, desmontando primeiro do meu horizonte de problematização e depois nele re-ingressando. Basicamente, fá-lo-ei pondo em ressonância recíproca o que foi adiantado nas primeiras duas partes deste estudo. O que significa ao mesmo tempo re-contextualizar e delinear conclusões – ou pelo menos formular hipóteses tal como o possível desdobramento de situações complexas e contínuas de interacção entre os sistemas políticos e administrativos centrais e locais que são uma parcela do “projecto-Angola”. O objectivo é o de reformular os problemas que fiz questão de ir suscitando num cenário maior e mais dinâmico. Uma re-perspectivação de conjunto das quatro Histórias de Caso que esquissei na minha última secção permite-nos, com efeito, dar uma resposta satisfatória a tudo o que discutimos. É bom notar que os motivos e agendas dos actores sociais, sejam eles do Estado ou actores locais, se situam num plano diferente do das realidades jurídico-políticas nuas e cruas: o wishful thinking, por mais bem intencionado que seja, nunca vai muito longe.
Quaisquer que sejam as motivações dos actores sociais, independentemente das ambições nacionalistas e ideológicas neles embutidas, a verdade é que da perspectiva da teoria da democracia, a articulação entre Estados e sistemas normativos locais esbarra contra vários tipos de obstáculos – e isto é sabido há muito tempo e demasiadas vezes esquecido. Num derradeiro passo deste estudo, vale a pena apontar as principais frentes abertas por tentativas ambiciosas de harmonização linear e não-problemática entre sistemas normativos “tradicionais” e estaduais. Estou a pensar em frentes – como as chamei – diferentes, algo semelhantes àquilo que Antonio Gramsci celebremente apelidou de “trincheiras”: essencialmente, linhas conceptuais de batalha para uma “hegemonia” programática.
MODALIDADES DE INCONGRUÊNCIA: OS LIMITES DO LÈGER-DE-MAIN JURÍDICO-POLÍTICO
Quero descer ao concreto, neste ponto. De entre estas “trincheiras”, antes do mais certamente colocaria a questão da possibilidade de integrar umas com as outras – ou até de conseguir um nível de articulação menos denso entre elas – entidades não-eleitas e muitas vezes autocráticas e outras que tenham sido livremente sufragadas e que podem ver-se destituídas se e quando (se não mesmo como) os eleitores quiserem. Desta frente problemática, várias consequências decorrem que dela são espécies: como, por exemplo, as dificuldades técnicas na delimitação das competências de entidades que não só não reconhecem uma forma de separação de poderes semelhante aquela incorporada em “guiões” democráticos formais, mas também tendem a nem sequer estabelecer distinções, mais difusas, entre domínios como os que chamamos de jurídico, político, religioso, ou familiar. A tudo isto podemos adicionar mais uma camada: as potenciais incongruências que derivam de delimitações e circunscrições, que desde há muito sabemos serem assaz diferentes entre si, de domínios “privados” e “públicos” – uma lacuna que não pode senão lesar gravemente muitos dos esforços feitos em eventuais tentativas para um aporcionamento de atributos estruturais e competências funcionais entre as chamadas “autoridades tradicionais” e o que é visto como o Estado angolano. Ao nível estritamente político, os riscos incorridos por insucessos deste tipo já nos foram há muito tornados claros pela dureza brutal da nossa própria experiência histórica3
34 Como Joel Migdal (2001: 128) escreveu, aludindo a um contexto diferente mas com óbvia pertinência, “in parts of colonial Africa […] the British attempted to extend the scope of the colonial state by incorporating tribal chiefs as paid officials. Many chiefs, for their part, gladly accepted the salary and any other perquisites that they could garner but often ignored the directives from their superiors in the state hierarchy. The demarcation between the state and other parts of society in such instances was difficult to locate and was in constant flux. Chiefs were state officials but sometimes – indeed, many times – simply used their state office and its resources to strengthen their rule as chiefs”. Migdal sintetizou as suas considerações acerca das implicações disto na página seguinte: “in arena after arena […] social forces have reorganized to deal with the new reality of ambitious sates. Where those forces have created or found the spaces and methods to sustain, sometimes even augment, their own social and economic power outside the framework of the state’s moral order and its rules, the society comes to be characterized by dispersed domination. Here, neither the state nor any other social force has established an overarching hegemony; by any one social force takes place within an arena or even across a limited number of arenas but does not encompass the society as a whole. Social life is then marked by struggles or standoffs among social forces over questions ranging from personal and collective identity and the saliency of symbols to property rights and the right to use force. People’s mattering maps remain remarkably diverse in such a society”. Independentemente da forma como a “acomodação” for levada a cabo, poderá uma comunidade política ser imaginada em tal cenário? 4.
Vou querer retomar este tema, mas de momento pretendo tratar estas questões de incongruência em moldes mais jurídicos, designadamente aqueles ligados aos ideais liberais-democráticos de Boa Governação que a 2* República angolana professa defender. A afirmação de que formas políticas e jurídicas africanas tradicionais têm, por regra, pouco em comum com aquelasoutras essenciais ao Rechtsstaat, não dá certamente corpo a uma real generalização: por mais que simpatizemos com as categorias socioculturais envolvidas – ou por mais lassamente que as definamos – na África sub-Sahariana tradicional a legitimidade dos detentores do poder e dos seus actos não se encontra sob o espectro de um qualquer “Império do Direito”. Em vez de Constituições, as chefias locais negociam as suas agendas políticas dentro dos quadros de repertórios – repertórios frequentemente muito ricos, mas também comparativamente indiferenciados – de preceitos morais, pela via sinuosa de interpretações e reinterpretações dinâmicas e recorrentemente muito variáveis de “costumes”, ou por intermédio de provérbios e dizeres ou adágios. A autoridade que exibem (ou melhor, o poder que têm) tende a ser tão vaga e difusa como ampla; normalmente é, para todos os efeitos, imensa. Como um publicista sul-africano liberal, T.W. Bennett3
35 T.W. Bennett (1998): 16. A citação foi tirada de um estudo muito interessante (ainda que, infelizmente, curto) sobre a constitucionalidade dos processos de reconhecimento de “autoridades tradicionais” na Namíbia e África do Sul contemporâneas. Para uma leitura diferente, ver, por exemplo, M.O. Hinz (1995), que defendeu a possibilidade de uma integração do que chama sistemas de legitimação “tradicionais” e “democráticos”, desde que estes sejam colocados numa relação “não hierárquica”; tal torna-se possível, segundo ele, através da definição cuidadosa dos limites do que são questões “públicas” e “privadas”. 5, recentemente asseverou, “the inclusion of traditional rulers in a Constitution dedicated to democracy is a conspicuous anomaly”. Algumas das facetas mais flagrantes desta anomalia são de fácil identificação. Indiferentemente da perspectiva que queiramos preferir, parece-me indiscutível que olhar para realidades como estas de um ângulo Iluminista “clássico” é interessante e frutuoso.
Para efeitos operacionais, pretendo tratar separadamente as questões constitucionais de congruência das jurídicas. Irei começar pelo primeiro tipo: questões constitucionais. No que toca às “autoridades tradicionais” note-se que, como regra, o exercício daquilo a que podemos chamar “funções legislativas” não é, na Angola tradicional, dependente de um qualquer sufrágio popular periódico; resulta, antes, da operação de regras hereditárias. De uma perspectiva normativa fundamental, uma questão que pode (e, de facto, deve) ser levantada refere-se a eventuais contradições – ou seja, a incongruências radicais – entre tais sistemas hereditários e disposições constitucionais anti-discriminatórias angolanas. Uma questão semelhante viu-se suscitada na nossa História de Caso 2: pode uma mulher, no quadro dos formatos políticos “tradicionais” que o Estado reconhece e integra no seu seio, ocupar um lugar de liderança política? Deveria podê-lo, em nome da lógica não-discriminatória política e jurídica oficial angolana. Poderá, contudo, fazê-lo de acordo com as regras e processos “tribais” comuns no Planalto Central? Poderá alguma forma de “acomodação” funcionar aqui?
Ainda ao nível do que o Estado considera como poderes públicos executivos, as “autoridades tradicionais” tendem, em Angola, a exercer um controlo extensivo e intensivo – muitas vezes legitimado por uma espécie de ligação directa aos antepassados do grupo –quanto à escolha e distribuição de terra ou do seu uso, sobre a alocação de direitos residenciais naquilo a que poderíamos chamar (com pouca distorção) expropriações de propriedade, na mobilização de trabalho, ou no que diz respeito a vários tipos de taxação e tributação. Tudo isto, por norma, dá-se no quadro do que não podemos deixar de encarar como um espaço normativo rarefeito: com efeito, como é habitual um pouco por toda a África sub-Sahariana, poucas regras ou normas são habitualmente invocadas por “autoridades tradicionais” em nome daquilo a que chamaríamos a regulação das funções administrativas que preenchem. Tanto ao nível normativo burocrático, como ao nível constitucional ou jurídico – a mais leve das comparações demonstra-o – da perspectiva da teoria democrática está patente em África um claro deficit de checks and balances. Com o intuito de evitar o abandono do bebé na água da banheira, podemos, evidentemente, insistir numa solução “constitucionalmente pluralista”, sendo-lhe adstrito um “dever de cooperação” e um “dever de informar” acerca das diferentes regras de reconhecimento. Será que, todavia, tal resulta num Estado? E se sim, será ele democrático3
36 A “acomodação”, a meu ver, funciona bem em contextos como os da União Europeia contemporânea ou na dimensão internacional mais ampla, na qual um State-building ostensivo e sistemático não faz parte intrínseca das regras de jogo. Quando faz, acho desejável que se encontre aí uma solução. Como N’Gunu Tiny (2007) muito bem nos mostrou, vai neste sentido o esforço tentativo que está a ser feito em Angola.6? Até que ponto podem princípios democráticos ser “acomodados” sem que se transformem em formas retóricas vazias3
37 Pretendo tratar isto num registo teórico mais denso. O que afirmo, poder-se-á dizer, é que a “democracia constitucional”, como Isaiah Berlin (1958) celebremente escreveu, é um modelo para “institucionalizar conflitos”; ela implica conflito e luta, mesmo quando estes últimos são atenuados por serem levados a cabo pela via de, por exemplo, o exercício de uma “livre expressão” sem restrições. Como é bem conhecido, é neste ponto que radica o que Isaiah Berlin chamou “liberdade negativa”: aquela que todos partilhamos como simples resultado das restrições constitucionais (ou outras) impostos ao poder estatal e que ele contrastou com a “positiva”, que encarou como muitíssimo mais construtiva. Obviamente, todavia, o facto de reconhecer que o constitucionalismo é um meio de institucionalização de conflitos não permite, de forma alguma, a conclusão de que tenhamos como seu inevitável resultado uma comunidade política na qual um Bem Comum (ou qualquer que seja o seu equivalente) seja, de facto, procurado. Ás vezes as coisas funcionam desta forma, outras não – para uma excelente discussão teórica sobre estas questões, ver o recente Zeev Sternhell, 2006: sobretudo nas pp. 516-528, que foca sobretudo o “desconstruir” do que é encarado como a abordagem “reaccionária” de Berlin. Torna-se relativamente fácil encontrar aqui um padrão: exercícios de “liberdade” entre agrupamentos sócio-políticos radicalmente incompatíveis raramente criam “espaços públicos” nos quais “contratos sociais”, ou “compactos” com algum conteúdo substancial, possam vir a ser desenvolvidos. Por regra, a ampliação de comunidades políticas não é possível, a menos que emirja uma forma de “pluralismo constitucional” mutualmente aceite; a União Europeia pode bem ser um exemplo disto. Todavia, a resultante não é realmente um Estado, mas antes um novo formato para uma quase-comunidade política – um resultado dificilmente compatível com aquele que está patente no actual blueprint pensado para Angola.7?
Deixando para trás o domínio constitucional, quero agora olhar brevemente a questões mais propriamente jurídicas. Continuarei a ater-me a uma perspectiva “clássica”. Apenas um ou dois exemplos são suficientes. O mesmo tipo de pontos que defendi relativamente a questões constitucionais pode, evidentemente, ser levantado novamente como uma vaga generalização, no que toca aos poderes judiciais “tradicionais” angolanos. Nas determinações enunciadas perto das respectivas fronteiras jurisdicionais, bem como no plano processual e, claro está, no que alude a multas e outras sanções, o funcionamento das “autoridades tradicionais” dificilmente é compatibilizável com o que é possível que legalmente aceitemos. Podemos, aqui, aprofundar e, analiticamente, esgravatar mais. Será realmente possível harmonizar noções “tradicionais” de “propriedade” com as entretidas pelo Estado? E, se assim for, quais das várias noções em evolução em Angola? Será algum modelo geral aplicável a todas? E como tratar o direito sobre a vida e a morte, que muitos dos líderes “tradicionais” exercem sobre os seus subordinados? O que significa “acomodação” em conjunturas como as existentes?
Questões constitucionais e jurídicas como estas não são, evidentemente, as únicas a ser levantadas e podem nem sequer constituir as mais sérias de todas – a não ser para juristas de convicções formalistas empedernidas. Questões político-pragmáticas, ligadas ao mundo real, acrescem às anteriores. Não irei aprofundar o ponto, mas não quero perder a oportunidade de retomar as intuições de Joel Migdal e de levar os seus comentários um pouco mais longe. Nesse sentido, gostaria de começar por enfatizar o que Migdal escreveu acerca do reforço de regras [the strengthening of rules]. Em primeiro lugar, note-se que um tal reforço funciona em ambos os sentidos: por um lado, confere um quantas vezes urgente suplemento de força e legitimidade aos “chefes”, enquanto, por outro, torna possível ao Estado alcançar áreas e povos que de outro modo não este conseguiria atingir, e permite fazê-lo com um melhor nível de aceitação local – ao que chamarei também legitimidade. De facto, o “domínio indirecto” [indirect rule] reforça ambos os lados da equação de poder, indiferentemente da sua densidade normativa. Mas também faz com que as suas fronteiras se tornem mais fluidas, e este é um ponto demasiadas vezes olhado e tratado sem a devida atenção a detalhes e às suas implicações.
Angola oferece-nos, seguramente, um estupendo terreno de testes e uma magnífica ilustração para que consigamos traçar os limites com que esbarram os modelos jurídicos e políticos ocidentais canónicos tal como estes tendem a ser projectados pelas vontades políticas e pelas forças cegas da globalização – e quando são expendidos esforços para uma transposição sistemática dos mesmos. Em várias áreas, o exemplo angolano fornece-nos com um paradigma diacrítico que muitas das limitações reais com que se confrontam tentativas de engenharia social de larga escala. Pelo menos três traços distintivos da do caso angolano lhe atribuem esse estatuto. Primeiro, a história recente do país – um território e o seu povo destruídos por uma dolorosa guerra colonial de trinta e três anos urdida em três frentes distintas, seguida de quinze extensos anos de combate entre facções que envolviam uma horrenda guerra civil que por seu turno sobreviveram a doze anos que foram terríveis cicatrizes – maldições, para muitos wishful thinkers, independentemente de quão devotas, ingénuas, bem intencionadas, ou messiânicas, pudessem ser as suas intenções. O número oficial de meio milhão de mortos é provavelmente uma subestimação grosseira. Dos dez ou doze milhões de angolanos de hoje, cinco milhões vivem em Luanda e uns quatro [os números são de 2004] estão concentrados em campos de refugiados semi-permanentes. A consequência é o que se pode ser esperar: dificilmente qualquer estrutura social em Angola tem algo de puro, e muito menos intacto em qualquer sentido.
Em segundo lugar, e isto não está desligado do meu primeiro traço, o pluralismo legal e sociológico angolano é particularmente marcado; mais do que a incubadora de uma sociedade civil emergente, Angola (na realidade um pouco menos do que um projecto político promissor) apenas alberga uma colecção de sociedades civis bastante pequenas que se aglutinam, afinal, apenas parcialmente, negativamente, ou em termos de uma coabitação que de forma constante choca com a agonia de ter de lutar com dificuldades dificilmente superáveis. Pululam, em Angola, formas híbridas de toda a espécie, sem qualquer profundidade comunicacional entre elas que prometa poder ver-se intensificada.
Terceiro – e isto está de novo estreitamente ligado aos dois pontos que assinalei – o modelo político regional e nacional angolano de facto – um sistema tão claramente “neo-patrimonialista” quanto é possível existir – milita total e obviamente contra quaisquer soluções claras, lineares, ou fáceis de integração limpa, do centro com níveis locais em constante mudança; apesar do centro lhes estar ligado através de teias de superordenação-dependência, e por vezes por o que com alguma boa vontade podemos ver como laços de fidelidade ou lealdade. O espaço entre as elites em Angola (económicas e militares) e o mainstream urbano é grande, e está a crescer. Além disso, tal panorama – em particular dada a presença de forças armadas poderosíssimas – é dificilmente favorável à consolidação laços horizontais de qualquer espécie entre os grupos locais. No cimo das diferenças sociais (por exemplo, as que separam as populações urbanas das rurais) a resultante é um dualismo, uma linha divisória visível entre o que podemos estar tentados a chamar “cidadãos angolanos” e “sujeitos locais” – para reformular uma velha dicotomia, ou bifurcação, tornada famosa por Mahmood Mandani. As estruturas sociais que restaram depois da guerra, e quaisquer referenciais dialógico-comunicacionais mínimos, vivem um mau momento num tal ambiente3
38 Para um estudo monográfico de precisamente isso, ver Armando Marques Guedes (2006), em que estes pontos (e alguns mais) são enquadrados e discutidos.8.
Quero aqui proceder a um alargamento de âmbitos, recontextualizando aquilo que tenho vindo a defender e teorizando-o. Como tem sido muitas vezes notado, desde o início dos anos noventa que a “comunidade internacional” insiste (tipicamente através das instituições de Bretton Woods e das inúmeras novas comunidades doadoras que se têm vindo a estabelecer) em mudanças de fundo, por forma a permitir uma verdadeira “descentralização” em África – incluindo quase invariavelmente na noção a ideia de que alguma atenção (e um eventual “reconhecimento”) devia ser concedida aos chefes locais. Os ecos comunitaristas neste tipo de discurso, são, acredito, prontamente audíveis. A Boa Governação e as agendas de democratização, clama-se repetidamente, estão em larga medida dependentes de uma tal “representação da comunidade”, o que assenta bem no clima neo-liberal que andou de mãos dadas com a implosão da União Soviética. Tal como foi antes o caso na Europa, reza esta visão, uma “devolução subsidiária do poder” – considerada no Velho Continente como sendo muito benéfica para o desenvolvimento, responsabilidade, e o desejável sentimento de pertença – é algo de que uma verdadeira democracia realmente precisa e exige.
Não é especialmente necessária uma aversão ao pensamento comunitarista para se conseguir apontar algumas das fraquezas patentes em semelhantes narrativas; basta ter algum senso ao comparar. O que, logo na primeira linha, parece realmente descabido em tais esperanças é a avaliação positiva acrítica das potenciais implicações do impacto e das consequências políticas de uma intrusão-embutimento das “autoridades tradicionais” em quaisquer tentativas sérias e sinceras de um State-building e de uma nation-building eficazes em África. Esta ausência é conjugada com um paralelismo hipotético e insuficientemente pensado entre a experiência africana e a europeia. Parece-me difícil evitar admitir que aquilo que aconteceu na Europa (tal como em África, o que ocorreu foi um desdobramento simultâneo de uma desconcentração política e administrativa, e de um reconhecimento de entidades e estruturas de poder local) só funcionou, em boa verdade, por causa da existência de um “léxico” e de uma “gramática” sócio-cultural comuns nos alvos visados: os agrupamentos e territórios que se pretendia controlar; quando tais “gramáticas” e “léxicos” não eram partilhados, o processo não correu bem3
39 Com efeito, onde os traços comuns eram mais ténues, um pouco como nos Balcãs, ou, num ângulo mais aberto, entre a Europa do Norte e a do Sul, o projecto de comunidade política vacilou. Mesmo quando formas limitadas de reconhecimento estiveram envolvidas, as linhas com as quais esta se desenhou eram tais que o resultado final esteve longe de edificar um sistema. No que a qualquer tipo de convivência participativa “contratual” dizia respeito, o resultado final foi de certa forma uma espécie de separação incómoda, vivida lado a lado com declarações de intenção residuais. 9.
Independentemente do que possamos desejar ou esperar, este tipo de considerandos obriga-nos a tomar consciência do facto de que há, efectivamente, limites empíricos na eficácia de quaisquer formatos de power-sharing, e aliás de quaisquer modalidades de “acomodação” que possamos querer testar – ou, se se preferir, há que constatar que existem condicionalidades implícitas. Partições de águas e acomodações, como processos desenhados para confluir num projecto político conjunto, podem talvez ter algum sucesso quando ensaiadas em situações de alteridade radical, ou no contexto do que James Tully apelidou de formas de agonistic pluralism – no sentido em que se trata de conjunturas marcadas por “irreducible disagreements”4
40 J. Tully (2000 e 2002). Para uma discussão interessante, facilmente aplicável ao caso angolano, ver Emilios Chistodoulidis (2003).0. Podemos, de facto, afirmar, com N´gunu Tiny4
41 N´gunu Tiny (2007)., op. cit.1, que Constituições são, na sua própria essência, dispositivos precisamente criados para dar conta este tipo de coisas; podemos também hipotetizar que por as inevitáveis tensões emergentes se verão resolvidas pelos esforços conjuntos de transferências do onde para o como nas resoluções de conflitos, ou nas mediações que teremos inevitavelmente de empreender – e que tudo isto será eventualmente tornado possível através da aplicação judiciosa de meios de princípios como aqueles que N. Tiny chamou the duty of cooperation, e the duty of informed divergence. Mas note-se que, mesmo com uma receita como esta, uma solução hierárquica é sempre em última análise pressuposta e seguida: quaisquer soluções só se tornam possíveis se tiver lugar um traçar prévio de fronteiras, se forem desenhadas “linhas na areia” que garantam o sacrifício, por subalternização de uma das parcelas, daquilo que o Estado considere irreconciliável para que uma comunidade política abrangente possa prevalecer.
O ponto em que estou a querer insistir é o seguinte: em muitos casos, a intensidade do qui pro quo necessário para uma solução efectiva atingida por meios deste género é tal que o resultado nunca logra ser realmente democrático bum qualquer sentido útil, independentemente de quão democrático o processo que utilizemos para chegar aos “pontos de equilíbrio” que logremos atingir. Angola é disso um bom exemplo. Nas condições densas do pluralismo de alta intensidade existente em Angola, a exequibilidade da gestão de “conflitos de leis e princípios” depende largamente de uma definição de numerosíssimos padrões mínimos com que os subsistemas presentes têm de se conformar para serem capazes de se integrar num sistema generalizado – seja contratualmente, seja de qualquer outra forma.
Estará alguma coisa deste género a acontecer em Angola? Cabe ainda outra pergunta: fora da retórica instrumental nacionalista, e a grande postura central reconhecidamente “democrática”, por uma vez, tendo atenção aos agrupamentos locais, haverá realmente um espaço público angolano partilhado ao largo, e haverá realmente uma comunidade política abrangente imaginada em Angola que abranja tudo o que é necessário para a emergência de um tal espaço4
42 Como em muito do resto de África, as elites políticas parecem em Angola estar totalmente inconscientes de tais assuntos. Para uma discussão comparativa detalhada e compreensível dos Leitmotivs governamentais africanos no processo contemporâneo de “descentralização”, ver, por exemplo, Catherine Boone (2003). Segundo Boone (op. cit. 355 e 377-380), as variações actuais que podemos detectar em África devem ser indexadas ao equilíbrio instável que é alcançado entre as capacidades e os interesses das populações locais, por um lado e, por outro, os dos “notáveis rurais” nos quais as elites do Estado decidam investir as suas esperanças. São estes interesses e não quaisquer “ideais”, argumenta Boone, que “formam as estratégias de institution building que os governos escolhem tentando entrincheirar o seu poder”. Para uma equação paralela francófona de precisamente este tipo de problemas – em particular do que chamaram as “leurres indigenisantes” – e dos riscos, para as elites, destas estratégias de recurso ao legados dos poderes do Estado e no que diz respeito à legitimidade local dos Estados africanos, é útil ler o curto mas muito rico artigo de Étienne Le Roy (1997).2? Nada é menos certo. Em Angola, certamente como em muitos outros lugares, tal significa que o Estado tem de ser a entidade que traça a “line in the sand” decisiva. Em todo o caso, consequências democráticas e modernas só resultarão se os padrões utilizados para a edificação desse espaço comum partilhado aderirem aos minima modernos e democráticos. Presumir uma conversão democrática do Estado angolano – uma proposição menos do que óbvia – não é fácil de imaginar, mas nem sequer é uma questão necessariamente conclusiva. Para que essa conversão ocorra e produza eficácia, o Estado tem certamente de ser capaz de usar tanto a força como várias doses de soft power: tem de impor limites para o que considera aceitável e tem de agir por dentro, por assim dizer, por forma a levar a carta a Garcia. Por outras palavras, o Estado, para ser eficaz nessas mudanças tectónicas de fundo, tem de actuam com robustez através do sistema de educação, por exemplo, por forma a tentar chegar, num longo-médio prazo, às várias convergências que são imprescindíveis para o estabelecimento de numerosos referenciais de comunicação que, eventualmente, possam tornar possível a construção de uma verdadeira comunidade política – e, inevitavelmente, uma comunidade muito intensamente multicultural4
43 A “Angola-Projecto” apenas o faz (na medida em que está de facto a avançar) dada a óbvia vontade do Estado angolano em usar da violência para garantir as suas oportunidades de sucesso. Para tornar o meu ponto o mais claro e inequívoco possível: é muito bonito esgrimir a noção de que “irredutibilidades” podem ser “acomodadas” num pluralismo ao nível constitucional, desde que os “princípios fundamentais” das várias partes não estejam comprometidos. Mas e quando (como é muitas vezes o caso de Angola, como as minhas quatro histórias mostram) a irredutibilidade acontece precisamente ao nível dos princípios fundamentais? Para casos como este, estou em crer que é necessária uma perspectivação diacrónica; independentemente de nos permitir uma visão dinâmica das coisas, só esse tipo de perspectiva toma em boa conta a dimensão temporal existente, e apenas ela nos permite compreender que é apenas por intermédio de uma convergência progressiva que as irredutibilidades ao nível dos princípios fundamentais podem ser “ultrapassadas”. Apesar de, em boa verdade, o que se alcança através de tais operações diacrónicas não ser em boa verdade uma harmonização, mas antes uma redução do “direito tradicional” para o do Estado – ou vice-versa. Esta via envolve processos genéricos de (re-)educação e imposição, como os teóricos da nation-building defenderam durante muitos anos ser inevitável. Por outras palavras, em tais processos a violência e a persuasão tornaram-se ingredientes indissociável da acção estatal, sempre que, no processo de State-building, o pluralismo se torna não-banal; ou, por outras palavras ainda, se o nosso objectivo for o de erguer um Estado, a junção de formas de hard e soft power é inevitável, caso estejamos perante um tipo de pluralismo de alta intensidade.3.
OS LIMITES E RISCOS DE UMA ACOMODAÇÂO PLURALISTA NÃO-SELECTIVA
Recuando um pouco, gostaria, para terminar, de regressar a questões de acomodação pluralista, abordando-as desta vez de cima para baixo e de modo diacrónico. Sejamos realistas: para um pais como Angola no qual, desde 2002, o Governo passou a poder atingir todos os seus nacionais, em qualquer lugar do que em que eles estivessem, tal significou que o Estado se dispersou – e que, portanto, na realidade, passou a não chegar a ninguém, nem que fosse por razões “logísticas”, a não ser aquelas que acontecesse encontrarem-se na sua imediata vizinhança, ou em situações de prioridade extrema. Daí a urgência do recurso pelo Estado angolano, em finais dos anos 90, a formas de indirect rule Tratou-se e trata-se ainda, certamente, de um caso no qual os mecanismos de “domínio indirecto” permitem, de facto, que o Estado alcance recantos do território e do povo sob sua governação – gentes e lugares que de outro modo seriam inalcançáveis.. O “domínio indirecto” amplia, de facto, as capacidades estatais ao nível do reconhecimento local num sentido burkeano, ou hartiano, no qual, por assim dizer, amplifica a sua legitimidade por alargamento. Do mesmo modo, os mecanismos de “domínio indirecto” oferecem também aos chefes locais um suplemento de força e de legitimidade; e, o seu poder de facto acaba, efectivamente, por lhes dar uma maior influência e algum “reconhecimento” local e regional.
A perspectivação que tenho vindo a assumir é, contudo, demasiado estática e linear. Tanto o Estado como os actores sociais locais têm agendas político-sociais nítidas e constantemente agem sobre elas: seria, por conseguinte, imprudente descontar as implicações disso a médio e longo-prazo. Como vimos, Cipriano Kaningi, o muito amigável “Rei” de Sambo e um todo-poderoso soma inene local, viu-se cooptado como membro de pleno direito do Comité Central do MPLA, o partido hegemónico no poder em Luanda. Não foi, de forma alguma, o único a ter essa possibilidade; muitos outros houve. Tal como no período colonial tardio, está hoje implantada em Angola uma autêntica via de dois sentidos: da perspectiva dos chefes locais, ou dos notáveis, aquilo que do ponto de vista dos governantes é desejado como conduta para o exercício do poder local, tende a ser vislumbrado como pouco mais do que uma “escadaria de acesso” ao próprio aparelho governamental, um meio de penetrar profundamente, por dentro, o centro4
44 A História mostra-nos que, no que respeita a África, não há nada realmente novo no que a isto diz respeito. É verdade que, em muitos casos históricos, o Estado impõe as suas próprias regras e vontade. Mas num sentido bastante forte, a relação foi construída passo a passo, como resultado errático das interacções e das motivações activas das partes na relação local-centro e local-local. Para estes e outros pontos relacionados, ver Martin Chanock (1985), op. cit., Mahmood Mamdani (1996), op.cit., e L. Benton (2002), op.cit. A compilação clássica de tais assuntos é, evidentemente, a de (ed) A. Allot (1971). Claro está que o pluralismo jurídico, enquanto envolver um sistema de tipo central e estatal de tipo ocidental, não foi, de forma alguma, um mecanismo desenhado com intencionalidade política pelos poderes existentes em Africa, quer tenham estes sido portugueses, britânicos, franceses, alemães, italianos ou espanhóis; resulta, pelo contrário, de um “encontro” em que os africanos não foram somente parte passiva. Esta percepção histórica é ainda hoje útil se pretendermos compreender as elites angolanas e a recolonização do hinterland do território. A hibridação então, como hoje, era a norma, e as fronteiras difusas, muitas vezes esbatidas – as relações hierárquicas de subordinação e superordinação legal e política eram abertas e negociadas em áreas bastante concretas. Não é difícil cartografá-lo: a capacidade local para acção pró-activa desenrolou-se sobre ambiguidades jurisdicionais, não raras vezes mobilizadas pelos sistemas estatais, e nalguns casos insistia em estatutos autónomos e semi-autónomos; em muitos outros casos os locais positivamente e forçosamente decidiram utilizar as normatividades coloniais, simplesmente porque, na sua perspectiva, fazê-lo era contextualmente mais conveniente. Para uma visão geral das questões teórico-metodológicas suscitadas pelo pluralismo, ver Joel Moret-Bailly (2002). Para constatar uma interactividade essa em África, é suficiente o escrutínio das várias mecânicas das independências africanas, aTerceira Vaga de “transições democráticas”, ou as frequentes tomadas de poder hostis das estruturas estatais por notáveis islâmicos, marabouts e outros, na Senegâmbia – o que começou como um expediente político de cooptação, levado a cabo com a finalidade de aumentar o poder do Estado por dentro, através do uso das “power conduits” existentes, muitas vezes termina com o esvaziamento, por dentro, dos Estados “modernos”.4.
Não deve, contudo, ser surpresa a constatação de que tantos dos intelectuais angolanos mais vanguardistas e “modernizantes”4
45 Existem bastantes casos, de facto: Maria da Conceição Neto (2002 e 2002ª) e Fernando Pacheco (2002), são apenas dois exemplos.5 reagem com veemência à nova movimentação constitucional pragmática (alguns dirão oportunista) levada a cabo pelo Estado angolano em formação com vista à integração dos líderes locais no processo de State-building em que está embrenhado. Como analistas não nos devemos deixar ser levados por significados implícitos. Quando ouvimos uma expressão como “autoridades tradicionais”, o que nos vem à cabeça são imagens de líderes de comunidades locais imersos numa das formas de poder que Max Weber qualificou de forma eloquente – neste caso “lideranças carismáticas”, em grupos sociais nos quais a religião e a política se entrecruzam livremente e onde o poder e as relações de afinidade largamente se sobrepõem. Quando permitimos que tais significados implícitos se esgueirem sub-repticiamente nas nossas representações dos factos, tendemos a descurar a evidência de que as autoridades tradicionais não são um termo inventado por cientistas sociais weberianos, mas sim uma expressão cunhada por políticos nacionalistas africanos4
46 A expressão, no seu conjunto, constitui uma fórmula brilhante de propaganda política. O termo “tradicionais” não se refere a um exercício de poder passé ou intemporal, talvez de certa forma estranho, ou até benevolente, mas antes a uma evidente tentativa de legitimação histórica de um presente (e futuro) desejado, alegando indirectamente que os poderes das pessoas em questão não estão contaminados pelo colonialismo, mas que são “puros” (originariamente primitivos). Mutatis mutandis, o mesmo poderia ser dito acerca das “autoridades”: o termo evoca ecos de que estaríamos na presença de formato de poder soft, incontestado. É, contudo, na realidade, um inteligente double entendre: a tónica é antes colocada na indicação de entidades que agem em nome do poder estatal. Tomada como um todo, a expressão “autoridades tradicionais” é tudo menos técnica, no sentido de neutral. Parece ter antes uma intenção instrumental, ao regredir paradoxalmente para o futuro com uma nostalgia messiânica. A escutar a frase “autoridades tradicionais”, muitas vezes ouvimos “liderança carismática”; mas esta última expressão é mais adequada a “agentes assépticos” – aponta para uma aceitação obediente da transformação, e certamente não é entendida como construída com o intuito de despertar reacções combativas que levem a uma mudança; A própria frase “autoridades tradicionais”, quero insistir, é parte e parcela de um mecanismo de controlo social. Um mecanismo que pode facilmente ser virado contra si próprio, como tem sido muitas vezes o caso em África. O que os líderes governamentais angolanos estão a fazer, quando usam a expressão, não é “recognition” ou “accomodation”. Estão, pelo contrário, indirectamente a afirmar a ascensão hierárquica do Estado central “moderno” sobre formas de “pré-Estado”, de ou “poder local”, para usar a sua própria terminologia constitucional.6.
A ansiedade sentida não é nova, sendo até bastante compreensível num território tão extenso, vítima de uma tão profunda disseminação demográfica, se vê na contingência de abrir a senda para que a volatilidade, provinda da guerra e da modernização, e que marca a definição da identidade dos grupos, tudo isto viabilizado pelas características de fraqueza Estado já implantado. No caso angolano, muito disto é evidente desde meados do século XX, no período colonial tardio, nomeadamente no conjunto de medidas tomadas para fazer face à revogação do famoso (ou infame, se se preferir) Estatuto do Indigenato. Julgo que as lições que daqui poderemos extrair são bastante edificantes. O Estato do Indigenato, que, segundo linhas mamdanianas, inequivocamente estabeleceu um dualismo societal nas colónias portuguesas, foi revogado em 1961, pelo Decreto-Lei 43.893, de 6 de Setembro. Com a sua abolição – pelo menos de acordo com a letra da lei – todos os habitantes se tornaram cidadãos iguais, sob a mesma regra. Evidentemente pouco mudou na prática. Talvez mais interessante para o nosso propósito seja o facto de que Angola se tenha tornado uma excepção parcial, por Decreto posterior publicado nesse mesmo dia (o Decreto-Lei 43.896, também de 6 de Setembro). O próprio texto deste Decreto é interessante. Nele é dito que em Angola “não era necessário dar forma e expressão a certas formas de institucionalismo local, que se podem articular elas próprias, com um respeito manifesto pela tradição e hábitos das populações”. Em termos práticos e programáticos – e num característico “para-burkeanismo-juridês” marcado por uma curiosa indirecção negativa assumida em matizes positivas, o discreto segundo Decreto de 1961 estipulava que as comunidades locais deveriam organizar os seus próprios interesses segundo procedimentos e instituições tradicionais. Com a intenção evidente de garantir uma parte efectiva de controlo estatal – ao invés de qualquer espécie de devolução, e talvez em reconhecimento da elevada intensidade do seu pluralismo, tanto jurídico como sociológico, e a disseminação das entidades que a compõem – Angola foi tomada como um caso especial, onde algum dualismo sobreviveu, Interessantemente, como anteriormente notado, nos tempos da colonização portuguesa tal tendia a ser emparelhado com o proviso evolucionista de que os indígenas poderiam optar pela lei portuguesa, se o desejassem, mas que assim que o fizessem se tornariam, irreversivelmente “assimilados” e portanto “civilizados”.
A primeira sugestão que decorre da recontextualização mais teórica e comparativa que enunciei parece ser a de que, apesar de sob um novo disfarce, o processo tem ultimamente vindo a conquistar um novo alento – agora pós-colonial – em Angola. A bifurcação está de volta. As provisões administrativas revistas, distinguindo as áreas urbanas das rurais do hinterland e as que se transmutaram em autarquias, dão-lhe corpo. Não é, porém, tudo igual ao que foi: trata-se de um dualismo escondido pela obliquidade e falta de direcção de um reconhecimento formal, agora sob roupagens “tradicionais” e “fraternais”, tão características dos modelos africanos de “pluralismo real”. Recolocar as coisas em perspectiva é sempre útil. É verdade que um simulacro público de “africanização” tem, de há alguns anos a esta parte, tido lugar em Angola. A morte de Jonas Savimbi e o fim da longa Guerra Civil que se seguiu aos desaparecimento da UNITA militar, aceleraram o processo. Durante esse tempo esse simulacro enxertou-se nos projectos de poder dos líderes do Estado angolanos. Tornou-se, de alguma forma, vulnerável ao escopo (sempre em mudança) dos poderes estatais, abalou a implementação de novas e velhas políticas públicas, e, sobretudo, reformulou a alçada das elites na sociedade. A “africanização”, se não a redefiniu, foi pelo menos reconfigurada pela nova relação Estado-sociedade, e ao fazê-lo alterou-se o equilíbrio de poderes entre os dois. Tornou-se numa ideologia de eleição para os líderes estatais, facto não raro em Estados pós-coloniais fracos que de outra maneira não possuiriam ferramentas ideológicas fortes e gozariam apenas, por isso, de uma hegemonia precária sobre a sociedade. Neste sentido limitado e superficial, a “Africanização” está, de facto, a tornar-se numa nova fase na vida do Estado angolano pós-colonial.
No fim de contas, a coreografia de “africanização” angolana não tem sido tanto uma reinvenção do Estado, tem sido mais um instrumento desenhado para permitir que ele se alcandore acima das limitações com que depara; como tal, não deve ser sobrestimada. As dimensões culturais dos gestos de africanização são reais, embora o seu impacto nas instituições, lei, e políticas públicas, não coalesçam ao ponto de criar um novo Estado a partir de novas premissas. Pelo contrário, o Estado angolano durante esta sua fase “africanização” tem-se mantido como sempre foi, apesar de agora disfarçado numa democracia de feição “autenticamente africana”. Tal como a partir de 1961, é difícil ver como o futuro afectará esta charada – barrando uma sempre possível ruptura político-militar radical (interna, externa ou compósita). Os notáveis locais serão provavelmente cooptados para o sistema que lhes inventou lugares de primazia. Decerto que, a longo prazo, o Estado pós-colonial em Angola emergirá desta provação contemporânea, desta “africanização”, ostentando, perfeitamente intactos, o seu desenho institucional anterior, a sua habitual estrutura de poder, e a sua visão venerável do papel que preenche face à sociedade. Pela via da globalização e das forças centrípetas a que ela dá corpo, não parece implausível que algumas pressões “africanizantes” se venham a fazer sentir em Angola. Mas isso ocorrerá através de um processo silencioso. O que estamos de momento a ver desenrolar constitui, apesar de o fazer em circunstâncias diferentes, um fascinante replay em fast forward das estratégias coloniais tardias, em resposta a problemas concretos que vão surgindo no quadro do processo de construção do Estado.
Uma vez mais, o risco – e o risco é sério – é o de estarmos a assistir, na Angola pós-colonial, ao desencadear de uma bifurcação – a criação de “cidadãos” por um lado e, por outro, de “súbditos”. De novo e tal como foi antes o caso na época colonial tardia, a finalidade tácita do poder central é a gestação progressiva de uma regra de reconhecimento uniforme e homogeneamente partilhada, numa pan-Angola unificada. Mesmo que isso se venha a revelar possível, sê-lo-á decerto apenas no final de um processo lento. Dois planos, a duas velocidades: State-building oblige.
BIBLIOGRAFIA
(ed.) A. Allot (1971), Integration of Customary and Modern Legal Systems in Africa, New York.
Jeffrey C. Alexander (2001), “Theorizing the ‘Modes of Incorporation’: Assimilation, Hyphenation, and Multiculturalism as Varieties of Civil Participation”, Sociological Theory 19 (3): 237-249.
(ed.) Talal Asad (1975), Anthropology and the Colonial Encounter, Ithaca Press, London.
T. W. Bennett (1981), “Conflict of Laws. The application of customary laws and the Common Law in Zimbabwe”, The International Comparative Law Quarterly 30 (1), London.
_____________(1998), “The constitutional base of traditional rulers in South Africa”, in (eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz and J. L. Sidano, op. cit.: 14-31, University of Namibia.
L. Benton (2002), Law and Colonial Cultures. Legal Regimes in World History, 1400-1900, Cambridge University Press.
Isaiah Berlin (1958), Two Concepts of Liberty, Oxford University Press, Oxford.
Catherine Boone (2003), “Decentralization as Political Strategy in West Africa”, Comparative Political Studies 36 (4): 355-380.
Martin Chanock (1985), Law, Custom and Social Order: the colonial experience in Malawi and Zambia, Cambridge University Press.
Christopher Clapham (1996), Africa and the International System. The politics of State survival, Cambridge University Press.
Emilios Chistodoulidis (2003), “Constitutional Irresolution. Law and the Framing of Civil Society”, European Journal of Law 9 (4): 401-432, Oxford.
René David (1984), “Sources of Law. Custom”, in (ed.) V. Knapp, International Encyclopedia of Comparative Law: 97-110, J. C. B. Mohr, Tübingen e Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London.
Rijk van Dijk and E. Adriaan van Nieuwaal (1999): “Introduction”, in E. Adriaan van Nieuwaal and Rijk van Dijk, African Chieftaincy in a New Socio-PoliticalLlandscape, African Studies Centre, Leiden, Lit.
(eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz e J. L. Sidano (1998) Traditional Authority and Democracy in Southern Africa, University of Namibia.
Meyer Fortes e E. E. Evans-Pritchard (1940), African Political Systems, Oxford University Press.
Peter Geschiere (1993), “Chiefs and Colonial Rule in Cameroon: inventing Chieftaincy, French and British style”, Africa 63 (2): 151-175.
John Harbeson (1994), “Civil society and political renaissance in Africa”, em (eds.) J. Harbeson, D. Rothchild e N. Chazan, Civil Society and the State in Africa: 1-29, Lynne Rienner, Boulder, Colorado.
(eds.) John Harbeson, Donald Rothchild e Naomi Chazan (1994), Civil Society and the State in Africa, Lynne Rienner, Boulder, Colorado.
Jeffrey Herbst (2000), States and Power in Africa. Comparative lessons in authority and control, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Edward Keene (2002), Beyond the Anarchical Society. Grotius, colonialism and order in world politics, Cambridge University Press.
Ineke van Kessel and Barbara Ooman (1999): “’One Man, One Vote’: the revival of Traditional Authorities in Post-Apartheid South Africa”, in E. Adriaan van Nieuwaal and Rijk van Dijk, African Chieftaincy in a New Socio-Political Landscape: 155-181, African Studies Centre, Leiden, Lit.
(eds.) Hilda e Leo Kuper (1961), African Law: adaptation and development, Berkeley University Press, Berkeley.
Will Kymlicka.(1995), Multicultural Citizenship: a liberal theory of minority rights, The Clarendon Press, Oxford.
Étienne Le Roy (1997), “Gouvernance et décentralisation, ou le dilemme de la legitimité dans la réforme de l’État africain de la fin du XXéme siécle”, em (ed.) Gemdev, Les Avatars de l’État en Afrique: 153-160, Karthala, Paris.
Mahmood Mamdani (1996), Citizen and Subject. Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Armando Marques Guedes et al. (2001), “Litígios e pluralismo em Cabo Verde. A organização judiciária e os meios alternativos”, Themis. Revista da Faculdade de Direito da UNL 3: 1-69, Lisboa.
____________(2002), Litígios e Legitimação. Estado, sociedade civil e Direito em S. Tomé e Príncipe, Almedina, Coimbra.
____________(2003), Pluralismo e Legitimação. A edificação jurídica pós-colonial de Angola, Almedina, Coimbra.
Armando Marques Guedes (2003), “Law as Culture?”, (ed.) A. M. Hespanha, Feelings of Justice in Macao, ICS, Lisboa.
____________(2004), O Estudo dos Sistemas Jurídicos Africanos. Estado, Sociedade, Direito e Poder. Almedina, Coimbra.
____________(2005), Sociedade Civil e Estado em Angola. Estado e Sociedade Civil sobreviverão um ao outro?, Almedina, Coimbra.
____________(2007), “The State and ‘Traditional Authorities’ in Angola: Mapping Issues”, em (eds.) Armando Marques Guedes e Maria José Lopes (2007), State and Traditional Law in Angola and Mozambique, Almedina, Coimbra.
(eds.) Armando Marques Guedes e Maria José Lopes (2007), State and Traditional Law in Angola and Mozambique, Almedina, Coimbra.
Joel S. Migdal (2001), State in Society. Studying how states and societies transform and constitute one another, Cambridge University Press.
Joël Moret-Bailly (2002), “Ambitions et ambiguïtés des pluralismes juridiques”, Droits. Revue Française de théorie, de philosophie et de culture juridiques 35 (2): 195-207.
Maria da Conceição Neto (2002), “Do passado para o futuro. Que papel para as autoridades tradicionais?”, communication presented at the Forum Constitucional, Huambo, published in Adérito Correia, A Constituição Angolana. Temas e Debates, Universidade Católica de Angola, Luanda.
____________(2002a), “Respeitar o passado – e não regressar ao passado”, unplublished communication, I Encontro Nacional sobre Autoridades Tradicionais, Luanda.
E. Adriaan van Nieuwaal and Rijk van Dijk (1999), African Chieftaincy in a New Socio-Political Landscape, African Studies Centre, Leiden, Lit.
Cristina Nogueira da Silva (2005), “’Missão Civilizacional’ e codificação nos usos e costumes da doutrina colonial portuguesa (séculos XIX e XX), Quaderni Fiorentini 33-34: 899-919, Milano.
Fernando Pacheco (2002), “Autoridades tradicionais e estruturas locais de poder em Angola: aspectos essenciais a ter em conta na futura Administração Autárquica”, unplublished communication, Ciclo de Palestras sobre Descentralização e o Quadro Autárquico em Angola, Fundação Friedrich Ebert, Luanda.
A.R. Radcliffe-Brown e Darryl Forde (1950), African Systems of Kinship and Marriage, Oxford University Press.
Zeev Sternhell (2006), Les anti-Lumières. Du XVIIIe siécle à la guerre froide, L’espace du politique, Fayard, Paris.
(ed.) George Stocking Jr. (1991), Colonial Situations. Essays on the contextualization of ethnographic knowledge, University of Wisconsin, Madison.
Brian Z. Tamanaha (1993), “The folly of the “social scientific” concept of legal pluralism”, Journal of Law and Society 20 (2):192-217.
N'gunu Tiny (2007), “The Politics of Accommodation. Legal and Constitutional Issues”, em (eds.) Armando Marques Guedes e Maria José Lopes (2007), State and Traditional Law in Angola and Mozambique, Almedina, Coimbra.
Trutz von Trotha (1996), “From administrative to civil chieftaincy. Some problems and prospects of African chieftaincy”, Journal of Legal Pluralism (37-38): 79-107.
James Tully (2000), “The Struggles of Indigenous Peoples for and of Freedom”, in (ed.) Paul Patton, Duncan Ivison and Douglas Saunders, Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples: 36-59, Cambridge University Press, Cambridge.
____________(2002), “The Unfreedom of Moderns in comparison to their ideas of Constitutionalism and Democracy”, Modern Law Review 65 (2): 204-228.
Jacques Vanderlinden (1996), Anthropologie Juridique, Dalloz, Paris.
�
PAGE 21

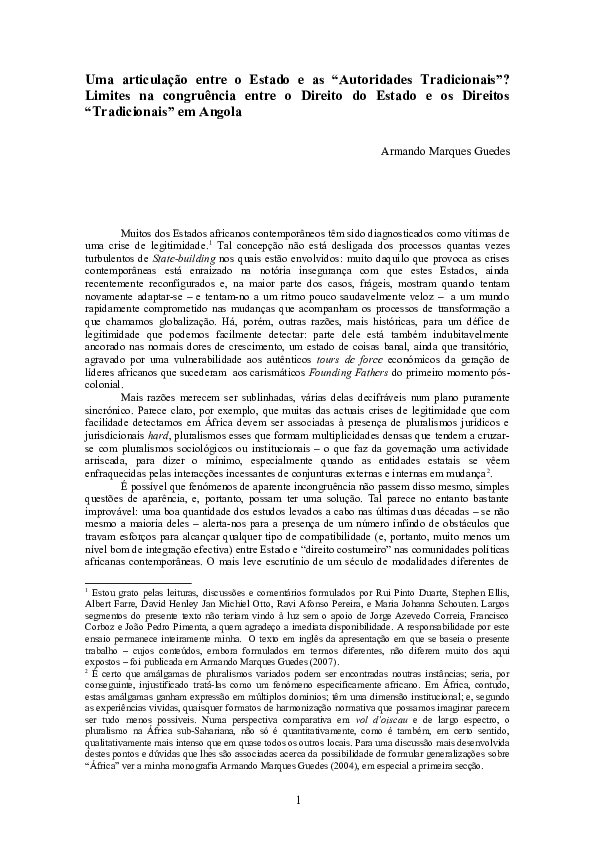
 Armando Marques-Guedes
Armando Marques-Guedes