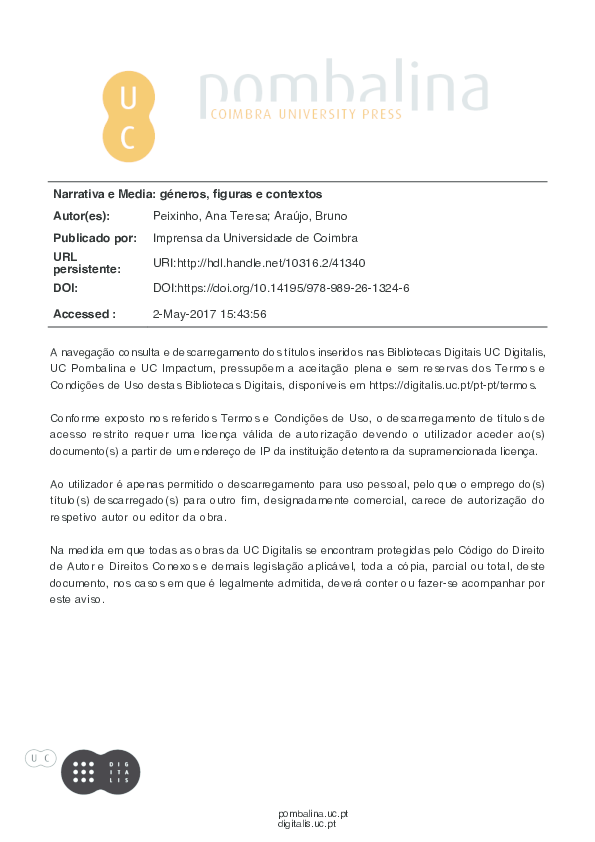Narrativa e Media: géneros, figuras e contextos
Autor(es):
Peixinho, Ana Teresa; Araújo, Bruno
Publicado por:
Imprensa da Universidade de Coimbra
URL
persistente:
URI:http://hdl.handle.net/10316.2/41340
DOI:
DOI:https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6
Accessed :
2-May-2017 15:43:56
A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis,
UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e
Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos.
Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de
acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s)
documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença.
Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s)
título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do
respetivo autor ou editor da obra.
Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito
de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste
documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por
este aviso.
pombalina.uc.pt
digitalis.uc.pt
�NARRATIVA
E MEDIA
GÉNEROS, FIGURAS E CONTEXTOS
ANA TERESA PEIXINHO
BRUNO ARAÚJO
EDITORES E ORGANIZADORES
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
COIMBRA UNIVERSITY PRESS
�Os quinze artigos aqui reunidos aparecem organizados por forma a dar
resposta a um conjunto de objetivos específicos, que presidiram à construção
da obra. Por um lado, houve a preocupação de integrar o estudo dos media
numa mais ampla reflexão teórica sobre narrativa, com contributos de
especialistas quer das Ciências da Comunicação, quer dos Estudos Narrativos
e dos Estudos Literários. Entende-se que a compreensão do funcionamento
das narrativas mediáticas, objeto complexo e multímodo, exige um olhar
interdisciplinar, capaz de congregar metodologias, conceitos e perspetivas de
áreas disciplinares diversificadas. Por outro lado, por uma questão meramente
metodológica, decidiu-se definir quatro eixos de intervenção correspondentes
a quatro grandes áreas de estudo.
Assim, organizada em quatro partes, esta obra reúne contributos de
investigadores e académicos de formações e áreas diversas, quer brasileiros,
quer portugueses, que refletem e problematizam questões sobre a construção,
a circulação e o funcionamento das narrativas no espaço mediático hodierno.
�I
N
V
E
S
T
I
G
A
Ç
Ã
O
�Coordenação editorial
Imprensa da Universidade de Coimbra
Email: imprensa@uc.pt
URL: http://www.uc.pt/imprensa_uc
Vendas online: http://livrariadaimprensa.uc.pt
Conceção gráfica
Comissão Científica
António Barros
Carlos Camponez
Universidade de Coimbra
Infografia
Felisbela Lopes
Carlos Costa
Universidade do Minho
Fernanda Martinelli
Execução gráfica
Universidade de Brasília
Simões & Linhares, Lda
Monica Martinez
Universidade de Sorocaba - Uniso
ISBN
978-989-26-1323-9
ISBN DIGITAL
978-989-26-1324-6
DOI
https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6
Depósito legal
425158/17
Obra publicada com o apoio de:
© ABRIL 2017, Imprensa da Universidade de Coimbra.
�NARRATIVA
E MEDIA
GÉNEROS, FIGURAS E CONTEXTOS
ANA TERESA PEIXINHO
BRUNO ARAÚJO
EDITORES E ORGANIZADORES
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
COIMBRA UNIVERSITY PRESS
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .............................................................................................7
FENOMENOLOGIA DA NARRATIVA ......................................................... 21
Carlos Reis, Woody Allen ou a ficção como jogo: o caso Zelig .........23
Luís G. Motta,Análise pragmática da narrativa:
teoria da narrativa como teoria da ação comunicativa ..................43
Maria Augusta Babo, Considerações sobre a máquina narrativa ......71
IMPRENSA E NARRATIVA ....................................................................... 103
Fernando Resende, Imprensa e conflito:
narrativas de uma geografia violentada .......................................105
Bruno Araújo, Estudos narrativos e teoria do jornalismo: a narrativa
de Veja e IstoÉ sobre uma manifestação de estudantes da USP .....137
Hélder Prior, Jornalismo, Narrativas e Escândalos .......................... 157
Jacinto Godinho, A minha vida não dava um filme: ensaio de
desconstrução da reportagem entre a literatura e o jornalismo .. 183
A PERSONAGEM MEDIÁTICA ................................................................. 203
Ana Paula Arnaut, A palavra em movimento: a adaptação para
cinema de “Embargo” e de A Jangada de Pedra de José Saramago...205
Ana Teresa Peixinho e Bruno Araújo, A narrativa da desconfiança
na política: a figuração do político ..............................................233
Aletheia Patrice Rodrigues Vieira e Liziane Soares Guazina,
De herói a anti-herói: a caracterização da personagem
José Dirceu na revista Veja ..........................................................269
5
�Célia Maria Ladeira Mota e Leylianne Alves Vieira,
Caminhos narrativos: um personagem: o brasileiro ....................289
A NARRATIVA NOS MEDIA DIGITAIS .................................................... 315
João Canavilhas et. al., Era pós-PC: a nova tessitura
da narrativa jornalística na web................................................... 317
Daniela Maduro, Entre textões e escritões: a narrativa projetada .....345
Fernanda Castilho Santana, Narrativas em mudança:
do folhetim aos textos transmedia ...............................................377
NOTAS BIOBIBLIOGRÁFICAS DOS/AS AUTORES/AS ............................ 409
RESUMOS/ABSTRACTS E PALAVRAS-CHAVE/KEYWORDS ................... 417
6
�INTRODUÇÃO
Uma das áreas de estudo que, na última década, tem suscitado
maior interesse por parte de investigadores dos media é precisamente
a dos Estudos Narrativos. Sobretudo nos últimos anos, nos Estados
Unidos, Bélgica, Inglaterra e Brasil, foram publicados diversos títulos sobre a narrativa mediática, em parte devido à emancipação do
estudo da narrativa em relação às fronteiras dos estudos literários,
mas sobretudo devido à perceção de que, na última década, os media
assistiram a uma mudança muito profunda no seu funcionamento
devido ao desenvolvimento da WEB 2.0 (Canavilhas, 2014; Lits, 2015).
Desde sempre, o campo dos media foi dominado, em termos
textuais e discursivos pela narrativa, facto a que não é alheia a
matriz representacional dos media de informação. Bastará recordar
que o jornalismo, quando passa da condição de ofício para a de
nova profissão, na transição do século XIX para o século XX, optou
precisamente por se autodefinir como ramo de representação objetivada da realidade, criando, inclusive, para o efeito, superestruturas
narrativas muito próprias e codificadas, acompanhadas de regras
retóricas relativamente restritas e estabilizadas.
Por outro lado, se olharmos para os media que sucederam
ao jornal impresso, como a rádio, o cinema, a televisão e para a
influência que a Web, mais recentemente, exerceu sobre eles, percebe-se que, mesmo fora dos formatos noticiosos, o investimento
em conteúdos de cariz narrativo foi sempre dominante: desde os
folhetins radiofónicos, às radionovelas, passando pelos filmes,
7
�primeiro mudos e depois sonoros, até às abordagens mais sofisticadas dos formatos televisivos ou à construção da publicidade.
Também no âmbito da comunicação política, da comunicação publicitária ou da comunicação organizacional, a narrativa adquiriu,
nas últimas décadas, um espaço considerável enquanto estratégia
discursiva, quer como procedimento de institucionalização do
sentido (Figueira, 2014), quer como instrumento de persuasão ou
manipulação.
Esta evolução, aqui forçosamente sumariada, permite perceber que
cada novo medium inventado foi sendo utilizado para a representação
de histórias, não numa lógica de substituição, mas de assimilação
e transformação. Numa obra de 2011, espécie de manual para a
construção de histórias criativas usufruindo das tecnologias da era
digital, Bryan Alexander constata precisamente que:
(...) it is vital to realize that people tell stories with nearly
every new piece of communication technology we invent. (...)
The motion picture camera elicited cinema. Radio spawned the
“theater of the mind.” The Lascaux caves either represented
scenes of daily life or taught viewers hunting and other tasks.
Indeed, no sooner do we invent a medium than do we try to
tell stories with it (Alexander, 2011: 5).
Esta constatação remete para a compreensão do narrativo como
um impulso universal, inscrito em todas as sociedades de todos os
tempos, o que fora já devidamente demonstrado pelos autores da
narratologia clássica. Nesse mesmo sentido, estudos no âmbito da
psicologia cultural apontam para uma predisposição primitiva e inata
do ser humano para organizar a vida em termos de narratividade,
para reconstruir vivências individuais e coletivas em cenas narrativas,
situando esse movimento antes mesmo da aquisição da linguagem
(Bruner, 1998).
8
�Com efeito, a experiência narrativa mantém também ligação direta
a estruturas psíquicas – tema que tem interessado a estudiosos das
várias ciências da mente – para além de estar umbilicalmente ligada
à cultura, por meio da linguagem e de valores partilhados – os quais,
não raro, transcendem o tempo presente, conectados que estão a
outros momentos históricos da aventura humana. Nessa linha, Motta
(2007: 143) menciona que “a nossa biografia, por exemplo, não é apenas uma autoperceção do nosso eu. Ser um eu com passado e futuro
não é ser um agente independente, mas estar imerso em relações, em
sequências globais dirigidas a metas”. O ser humano recorre, portanto,
à narrativa como forma de se situar historicamente e numa lógica de
apropriação do mundo (Lits, 2015). Muita dessa problemática, aliás,
afigura-se como fio nodal da reflexão de Roland Barthes acerca da
transculturalidade e da transhistoricidade da narrativa:
Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro
lugar uma variedade prodigiosa de géneros, distribuídos entre
substâncias diferentes, como se toda matéria fosse boa para
que o homem lhe confiasse as suas narrativas: a narrativa pode
ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela
imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada
de todas estas substâncias; está presente no mito, na lenda, na
fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia,
no drama, na comédia, na pantomima, na pintura (recorde-se a
Santa Úrsula de Carpaccio), no vitral, no cinema, nas histórias em
quadradinhos, no fait divers, na conversação. (Barthes, 1966: 2)1.
Na senda de Barthes, para quem o estudo da narrativa deveria
constituir um dos mais importantes inquéritos às sociedades humanas, entende-se que a compreensão da evolução das narrativas
1
Tradução nossa.
9
�e da sua adaptação constante a novos formatos possibilitados pela
evolução tecnológica é essencial para o estudo das relações entre
sociedade e indivíduo. Do mesmo modo, Paul Ricoeur refletira já
sobre o impulso narrativo universal, de que falamos, quando afirmava
que “existe entre a atividade de contar uma história e o caráter temporal da experiência humana uma correlação que não é puramente
acidental, mas apresenta uma forma de necessidade transcultural.”
(Ricoeur, 1987: 85).
Assim, perspetivar os media sob o prisma narratológico também
é importante porque nos permite perceber de que forma o conhecimento, os sentidos, os valores são reproduzidos e circulam na
sociedade. Porém, as narrativas mediáticas não representam apenas
o mundo real: elas providenciam igualmente esquemas mentais e
formas de moldar os nossos modos de percecionar, conhecer e acreditar, tendo substituído, na pós-modernidade, as grandes narrativas
de legitimação antes veiculadas pela literatura.
Se, na Antiguidade, eram os mitos as grandes narrativas estruturantes da civilização, atualmente os grandes produtores de narrativas
são os media. Responsáveis pelo modo como organizamos o mundo,
como geramos imagens do real, como articulamos e lemos a sua complexidade, as narrativas mediáticas – ficcionais ou factuais – produzem
crenças sociais, ditam normas de conduta, disseminam estereótipos
e fornecem-nos imagens dos outros. Pode mesmo afirmar-se, em
consonância com alguns autores, que o mundo a que temos acesso se
constrói necessariamente de acordo com certos princípios narrativos,
pois que o pensamento, as estruturas mentais e o conhecimento se
processam por meio da narrativa. Desde os folhetins televisivos, aos
reality-shows, passando pelas rubricas desportivas da imprensa ou
pelos videojogos, aquilo que os media hoje disseminam é um conjunto de narrativas, em que a ficção e a factualidade se hibridizam,
matizando as suas fronteiras (Barthes, 1957/2007; Lyotard, 1989; Lits,
2008 e 2015; Salmon, 2012).
10
�Esse esbatimento de fronteiras entre os planos factual e ficcional
é, sem dúvida, ainda mais preocupante quando o próprio jornalismo,
influenciado por lógicas diversas, fere o protocolo comunicacional
mantido com o público. A esse propósito, não será descabido relembrar o pensamento de Maria Augusta Babo que, em artigo sobre
ficcionalidade e processos comunicacionais, defende a inexistência
de quaisquer elementos linguísticos a partir dos quais se possa
identificar o substrato factual ou ficcional de uma narrativa, mesmo
a jornalística; para a autora, essa identificação é feita a um segundo
nível, ao nível translinguístico (Babo, 1996). No caso do jornalismo,
a fronteira reside naquilo a que Miguel Rodrigo Alsina (2009: 49)
chama “contrato tácito fiduciário” entre jornalistas e público, que,
apesar de jamais ter sido formalmente assinado, preside à nossa
relação com os produtos noticiosos. Este contrato é, na verdade, a
única fronteira entre os dois tipos de narrativa, assentando naquilo
que Umberto Eco chamou de “protocolos”. Na obra Seis Passeios
nos Bosques da Ficção, Eco dá diversos exemplos de procedimentos
metalépticos que, anunciando já a alteração profunda das narrativas do espaço público contemporâneo, também ilustram a fluidez
de limites entre as “narrativas naturais” e as “narrativas ficcionais”
(Eco, 1997: 123-147).
Está ainda por fazer o estudo circunstanciado e sistemático da
evolução e transformação das narrativas jornalísticas, embora nos
pareça ser esta uma questão central para perceber a própria evolução
das formas de fazer e pensar o jornalismo e os media. Se é certo que a
narrativa, pelas qualidades de objetivação, temporalidade e exteriorização que comporta – sublinhadas nas definições que diversos autores
apresentam de narratividade (Prince, 1987; Reis, 2011) – sempre foi a
superestrutura textual que melhor se adaptou ao jornalismo, também
não é menos verdade que a lógica narrativa e da narrativa (Herman,
2004) se foi alterando ao longo dos tempos, tendo sofrido, de há uma
década a esta parte, modificações assinaláveis. Na linha do trabalho
11
�desenvolvido pelo Observatoire sur les Médias et le Journalisme, Marc
Lits sugere mesmo uma reinvenção da “narratologia” como resposta
epistemológica às mudanças profundas que, sobretudo nas duas
últimas décadas, afetaram as narrativas mediáticas:
O que a narrativa mediática contemporânea impõe é uma
redefinição das próprias condições de existência da narrativa atual, com recurso a uma narratologia refundada, a uma
hipernarratologia. É esta abordagem, considerando simultaneamente os avanços tecnológicos, os novos suportes, as
evoluções dos usos e dos públicos, que permitirá apreender
o homem socializado enquanto animal narrativizado, atravessado por narrativas construídas de acordo com formas
radicalmente novas e abertas (Lits, 2015: 27).
Estranhamente e em contraciclo com o que sucede noutros países,
os estudos narrativos parecem ser, sem dúvida, uma das áreas mais
carenciadas em Portugal ao nível dos estudos sobre media e jornalismo, embora seja indiscutivelmente uma das áreas mais relevantes,
sem a qual não se conseguem perceber os fenómenos de produção
e de receção dos produtos mediáticos. Convém, contudo, enumerar
algumas honrosas exceções, nomeadamente os estudos sobre teleficção desenvolvidos por Isabel Ferin (2003; 2006; 2011) e, mais
recentemente, por Catarina Burnay (2005; 2014) e Fernanda Castilho
(2014); a recente organização de eventos científicos sobre este campo
de estudos: o primeiro – Narrativa, Media e Cognição – teve lugar em
2014, na Universidade do Minho e foi organizado pelo CECS e coordenado por Nelson Zagalo, dele resultando o livro digital Abordagens
Narrativas nos Media, publicado em 2015; o segundo colóquio foi organizado pelo grupo de investigação CITAR da Universidade Católica
Portuguesa sobre Narrativa, Media e Cognição, e teve lugar em julho
de 2015; finalmente, refira-se o projeto de investigação Figuras da
12
�Ficção 2 , coordenado por Carlos Reis no CLP (Centro de Literatura
Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra),
como exemplo de uma investigação sistemática e aprofundada sobre personagem – mas não se restringindo a ela – que congrega, de
modo integrado, saberes provenientes quer dos Estudos Literários,
quer dos Estudos sobre Media.
Pretendem os editores deste livro reunir um conjunto de contributos de especialistas lusófonos, quer dos Estudos Narrativos, quer
dos Estudos de Comunicação, contribuindo para a construção de
uma visão crítica das narrativas mediáticas no campo da lusofonia.
Têm como objetivos gerais, fundamentalmente: i) Reunir o que de
mais recente se tem estudado no âmbito dos Estudos Narrativos
Mediáticos no mundo lusófono, nomeadamente em Portugal e no
Brasil; ii) Constituir um estado da arte de algumas problemáticas
desta área de estudos; iii) Funcionar como ponto de partida para
eventuais projetos e investigações futuras que reúnam investigadores
das Ciências da Comunicação e dos Estudos Narrativos de ambos os
países; iv) Contribuir para a análise, problematização e explicação
de alguns fenómenos mediáticos contemporâneos.
Os catorze artigos aqui reunidos aparecem organizados por forma
a dar resposta a um conjunto de objetivos específicos, que presidiram à construção da obra. Por um lado, houve a preocupação de
integrar o estudo dos media numa mais ampla reflexão teórica sobre narrativa, com contributos de especialistas quer das Ciências da
Comunicação, quer dos Estudos Narrativos e dos Estudos Literários.
Entendemos que a compreensão do funcionamento das narrativas
mediáticas, objeto complexo e multímodo, exige um olhar interdisciplinar, capaz de congregar metodologias, conceitos e perspetivas de
áreas disciplinares diversificadas. Por outro lado, por uma questão
2
https://figurasdaficcao.wordpress.com/
13
�meramente metodológica, decidiu-se definir quatro eixos de intervenção correspondentes a quatro grandes áreas de estudo.
Assim, organizada em quatro partes, esta obra reúne contributos
de investigadores e académicos de formações e áreas diversas, quer
brasileiros, quer portugueses, que refletem e problematizam questões
sobre a construção, a circulação e o funcionamento das narrativas no
espaço mediático hodierno. A primeira parte – “Fenomenologia da
Narrativa” – pretende constituir-se como referencial teórico para as
grandes questões do narrativo: da reflexão sobre as clivagens entre
o ficcional e o factual, suscitadas pelo texto de Carlos Reis, até à
perceção da narrativa como essência do humano, como “máquina
de antropomorfização”, metáfora que sustenta a reflexão de Maria
Augusta Babo, passando pela reflexão proposta por Luiz Gonzaga
Motta acerca da teoria da narrativa como teoria da ação comunicativa.
Partindo de uma leitura particular da filmografia de Woody Allen,
Carlos Reis, coautor do primeiro e único até ao momento Dicionário
de Narratologia português, explora os procedimentos metalépticos
das narrativas mediáticas, focando especial atenção na categoria personagem, “lugar indeciso em que ficcionalidade e não-ficcionalidade
são objeto de insistente subversão paródica”. Cruzando conceitos
teóricos como figuração, ficcionalidade, narratividade, com exemplos
concretos quer do cinema, quer da literatura, o autor abre pistas de
reflexão e de estudo, muito fecundas para quem se debruça sobre as
narrativas multimédia da atualidade, realçando sobretudo o poder
representacional da imagem na construção de universos oscilantes
entre ficção e factualidade. Um dos pioneiros no estudo da narrativa
mediática no Brasil – autor de Análise Crítica da Narrativa, na qual
esboça um modelo de análise próprio, com base em ferramentas provenientes dos estudos narrativos – Luiz Gonzaga Motta convida o leitor
“a encarar a narração como um ato de fala comunicativo, e utilizar o
modelo dos círculos dêiticos concêntricos para tornar mais sistemático o processo de identificação dos traços e vestígios do contexto
14
�no texto”. Já Maria Augusta Babo, depois de uma circunstanciada
síntese crítica sobre as diferentes abordagens a conceitos teóricos
fundamentais deste campo de estudos – temporalidade, narrativa,
narração, discurso, ação – aprofunda as relações entre a narrativa
da história e a ficção, para refletir sobre o poder da narrativa como
“máquina” de construção do humano, mesmo num tempo de crise do
sujeito, de fragmentação hipertextual e de pulverização de sentidos.
Nas segunda e terceira partes da obra, “Imprensa e Narrativa”
e “Personagem Mediática”, respetivamente, reúnem-se contributos
pontuais sobre questões mais específicas das narrativas mediáticas:
na segunda parte, quatro autores problematizam as relações entre
narrativa e jornalismo, quer em termos de narrativa de imprensa, quer
em termos de narrativa e imprensa; na terceira parte, as abordagens
focam-se numa das categorias mais importantes da narrativa – a personagem – recentemente recuperada pelos Estudos Narrativos, depois
de décadas de apagamento a que fora votada pelo estruturalismo.
Adotando os conflitos no território palestino – uma “geografia violentada”, nas palavras do autor – como desafio para pensar o papel
da imprensa, Fernando Resende, renomado investigador brasileiro
no estudo das narrativas mediáticas, desenvolve uma cuidadosa discussão sobre o conceito de narrativa, focando especial atenção nas
limitações das narrativas da imprensa, que, “quase sempre fragmentadas, desprendidas umas das outras, narram os fatos como se eles
fossem desprovidos de contextos, deixando que nelas prevaleçam as
dicotomias e os binarismos”. Igualmente concentrado nas narrativas
produzidas pela imprensa, Bruno Araújo expõe alguns dos contributos
dos Estudos Narrativos para as teorias do jornalismo, salientando que
este último possui um dever de máxima referencialidade com o real,
que deve ser mantido sob pena de subversão do protocolo comunicacional estabelecido com leitor. Cruzando ferramentas dos estudos
críticos do discurso com categorias oriundas dos estudos literários,
o autor analisa as narrativas de duas revistas brasileiras sobre uma
15
�manifestação de estudantes da Universidade de São Paulo, com o
objetivo de identificar as estratégias discursivas que contribuíram
para a construção narrativa do acontecimento.
Também a imprensa serve de terreno de exploração empírica
para a reflexão de Hélder Prior, investigador português, que busca
compreender os graus de narratividade nos relatos mediáticos sobre o escândalo político. Depois de uma incursão pelas diferentes
aceções da palavra “escândalo” ao longo dos séculos, o autor recorre a exemplos concretos da imprensa portuguesa, para colocar em
evidência “as características eminentemente dramáticas e estéticas
dos escândalos mediáticos”, demonstrando que esses fenómenos “se
desenvolvem na esfera pública como narrativas complexas que têm
conflitos, episódios, personagens e efeitos de sentido inerentes ao
trabalho jornalístico de recomposição da realidade”. Finalmente, a
fechar esta segunda parte da obra, Jacinto Godinho, jornalista e
académico português, dedica o seu artigo à reportagem, género
narrativo nobre do jornalismo, que, na sua relação de contiguidade
com a literatura, coloca estimulantes questões, quer do ponto de
vista técnico-compositivo, quer do ponto de vista ético-deontológico: a relação entre o verídico e o verosímil, o dilema objetividade
versus subjetividade. Trata-se, no fundo, de tentar perceber qual o
contributo específico da reportagem para a inteligibilidade do real.
Na parte seguinte, reúnem-se quatro declinações sobre o tema
personagem mediática, com vista a problematizar a sua figuração,
tanto em narrativas factuais, quanto em formatos ficcionais, como
filmes ou romances. A reflexão é iniciada com um artigo de Ana
Paula Arnaut, especialista em literatura portuguesa da pós-modernidade, que analisa as implicações de migrações transmediáticas,
com base nas adaptações cinematográficas de duas obras de José
Saramago. De seguida, Aletheia Vieira e Liziane Guazina demonstram a vitalidade da teoria da narrativa na análise da construção de
personagens jornalísticas, por meio do estudo da caracterização de
16
�José Dirceu, ex-ministro de Lula da Silva, na revista brasileira Veja.
Em diálogo com o pensamento de Campbell acerca da construção do
herói, as autoras mostram como “a revista se apropria, mesmo que
de forma involuntária, das fases atribuídas por Campbell aos heróis
das narrativas ficcionais”, criando, contudo, um ciclo narrativo que
desloca o político da condição de herói para a condição de anti-herói
da sociedade brasileira.
Por seu turno, Célia Ladeira Mota e Leylianne Alves Vieira debruçam-se sobre narrativas ficcionais e jornalísticas, para perceber
como a figura do brasileiro é representado na obra Macunaíma, de
Mário de Andrade, e na reportagem “O canavial esmaga o homem”,
de Realidade – revista que circulou, no Brasil, em meados do século XX, destacando-se pelo investimento em reportagens de grande
fôlego. Em sua análise, as autoras escrutinam as “subjetividades dos
relatos e os contrastes entre a fantasia e a realidade”, procurando
compreender os significados construídos nos níveis mais profundos
de ambas as diegeses. A fechar esta secção, Ana Teresa Peixinho e
Bruno Araújo trabalham o conceito de personagem no âmbito de
uma narrativa fílmica, procurando perceber de que modo a narrativa da desconfiança que emerge dos media brasileiros é construída
sobretudo através do investimento em procedimentos de figuração.
A quarta e última parte do livro, intitulada “A Narrativa nos media
digitais”, propõe três abordagens ao funcionamento das narrativas
no mundo digital, que dão conta das mudanças estruturais e comunicacionais que afetam as narrativas que circulam na WEB: a de João
Canavilhas et al. que parte dos conceitos de “tessitura da narrativa”
e de “ecossistema mediático” para analisar as novas narrativas desenvolvidas para dispositivos móveis; a de Daniela Maduro que se
debruça sobre a questão da interatividade na literatura digital; e a
de Fernanda Castilho que procura demonstrar como a lógica produtiva dos conteúdos ficcionais, que iniciou um percurso integrado
de construção de novos mundos possíveis, é hoje marcado pelo
17
�aparecimento de narrativas transmedia, que assentam na produção
de experiências ficcionais mais alargadas, extrapolando os limites
da televisão.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALEXANDER, B. (2011). The New Digital Storytelling. Creating Narratives with New
Media. Oxford: Praeger.
ALSINA, M. R. (2009). A construção da Notícia. Petrópolis: Vozes.
BABO, M. A. (1996). “Ficcionalidade e processos comunicacionais”. In: www.bocc.ubi.pt
BARTHES, R. (1966). “Introduction à l’Analyse Structurale des récits”. Communications,
N.º8, pp. 1-27.
BARTHES, R. (1957/2007). Mitologias. Lisboa: Edições 70.
BRUNER, J. (1998). Actos de significado. Madrid: Alianza.
CANAVILHAS, J. (Org.) (2014). Webjornalismo. 7 caraterísticas que marcam a diferença. Covilhã: LabCom.
ECO, U. (1997). “Protocolos Ficcionais”. In: Seis Passeios nos Bosques da Ficção.
Lisboa: Difel, pp. 123-147.
FIGUEIRA, J. (2014). O acontecimento que quer ser notícia : a construção de sentido das
organizações através dos media : o caso «A Vida é Bela». Tese de Doutoramento
em Ciências da Comunicação. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
HERMAN, D. (2004). “Toward a transmedial narratology”. In: Ryan, Marie-Laure (Ed.).
Narrative Across Media, pp. 47-72.
LITS, M. (2008). Du récit au récit médiatique. Bruxelles: De Boeck.
LITS, M. (2015). “As investigações sobre a narrativa mediática e o futuro da imprensa”.
In: Mediapolis, N.º1, Coimbra: IUC, pp. 15-29.
LYOTARD, J.-Fr. (1989). La condition Postmoderne. Paris: Editions Minuit.
MOTTA, L. G. (2007). “Análise pragmática da narrativa”. In: LAGO, C.; BENETTI, M.
Metodologia de pesquisa em jornalismo. Petrópolis: Vozes, pp. 143-167.
PRINCE, G. (1987). Narratology. The Form and Functioning of Narrative. Berlin /
New York: Mouton Publishers.
18
�REIS, C.; LOPES, A. C. (2011). Dicionário de Narratologia. 7.ª ed. Coimbra: Livraria
Almedina.
RICOEUR, P. (1987). Temps et Récit. Paris: Seuil.
RYAN, M-L. (2009). “Narrative in various media”. In: Hung, Peter et al. (Eds.) –
Handbook of Narratology. Berlin/New York: Walter de Gruyter, pp. 263-281.
RYAN, M-L. (2013). “Transmedial Storytelling and Transfictionality.” Poetics Today
34.3, pp. 362-388.
SALMON, C. (2010). Kate Moss Machine. Paris: La Découverte.
WALSH, R. (2011). “Emergent Narrative in Interactive Media”. In: Narrative, Vol. 19,
N.º1 ( January), Ohio: Ohio State University, pp. 72-85.
VAN DIJK, J. (2005). The Network Society. Social Aspects of New Media. London: Sage
Publication.
Ana Teresa Peixinho
Bruno Araújo
19
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�FENOMENOLOGIA DA NARRATIVA
��WOODY ALLEN OU A FICÇÃO COMO JOGO:
O CASO ZELIG
Carlos Reis
Centro de Literatura Portuguesa/UC
1. Alguns tópicos de reflexão, ainda em jeito de abertura. Assim:
se falamos da narrativa e do conhecimento que ela permite, falamos
também de um modo discursivo cujo projeto fundamental é eliminar
aquilo que de transitório e fugaz existe nas ações humanas; pela
narrativa conferimos estabilidade discursiva a essas ações (que são
ações de mudança e em mudança) e procuramos dar sentido a acontecimentos que, aquém da elaboração narrativa, parecem dispersos
e desarticulados.
Por outro lado, uma realidade vivida por entidades humanas pode
ganhar autonomia, quando a configuramos e a lemos como ficção:
a ficção é, então, condição para a transcendência (como quem diz,
para uma certa forma de permanência transnarrativa) daquilo que
eventualmente decorre de experiências de vida concretas. Daí podermos afirmar que atingimos um certo nível de conhecimento através
da narrativa: conhecimento de atos dos homens, de experiências de
vida, de situações sociais e mentais, etc. Esse conhecimento não é
posto em causa pela condição ficcional das narrativas, sendo certo,
contudo, que essa condição solicita atitudes cognitivas, culturais
e emotivas específicas, em grande parte relacionadas com aquilo
23
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_1
�a que generalizadamente chamamos, desde a famosa postulação de
Coleridge, suspensão voluntária da descrença.
O cinema de Woody Allen e o filme Zelig encenam, de forma
extremamente sugestiva, os termos em que a ficção se exibe como
jogo, sem que assim se ponha em causa o potencial de conhecimento
que ficou referido. Conhecimento narrativo de um fenómeno efémero
e, adianto desde já, busca de sentido e de prolongamento no tempo
daquele fenómeno, como exemplaridade a reter. É assim que em Zelig
leremos uma tentativa (brilhante, a meu ver) de, pela narrativa, se
proceder a uma exegese do mundo; no caso em apreço, esse mundo
é o de um sujeito apresentado como figura real, que dá pelo nome
de Leonard Zelig.
2. Antes de chegar a Zelig, farei um desvio por várias questões
que nele estão implicadas, dizendo respeito, em geral, às respostas
que é possível encontrar para a pergunta: como reconhecemos uma
narrativa, quando a lemos (ou quando a ouvimos; ou quando a vemos)? Se tal fosse possível, neste local e neste momento, aquelas respostas seriam apoiadas por uma reflexão acerca de diversos aspetos
da existência e do funcionamento das narrativas, no plano material
e no plano semiodiscursivo. De modo que faço aqui um inevitável
bypass que deixa em aberto, talvez para outra altura, indagações em
torno do canal de comunicação narrativa (visual, auditivo, tátil), dos
suportes e da sua especificidade (incluindo a distinção analógico/
digital), das linguagens de enunciação (verbal, verbo-icónica) e também dos efeitos cognitivos deduzidos destas escolhas. Não deixo,
contudo, de assinalar que os trabalhos de Marie-Laure Ryan são,
neste e noutros domínios, de muito boa ajuda (cf. Ryan (ed.), 2004;
Ryan, 2006; Ryan e Thon (eds.), 2014).
Reconhecer uma narrativa é, antes de mais, aderir a uma sua
propriedade nuclear, a narratividade, em dois planos que podem ser
conjugados. No plano da funcionalidade discursiva, a narratividade
24
�é entendida como um “conjunto de propriedades que caracterizam
a narrativa e que a distinguem da não-narrativa”, correspondendo
aquelas propriedades às “características formais e contextuais que
fazem de um texto (narrativo) mais ou menos narrativo” (Prince,
2003: 65). Para além deste plano funcional (que é basilar, mas deve
ser alargado), a narratividade concretiza-se como experiência humana
com um certo índice de naturalização, numa abordagem que é já de
feição cognitivista.
A chamada narratologia natural contempla este campo de análise
e argumenta que a “narratividade é uma função dos textos narrativos
e centra-se numa experiencialidade de natureza antropomórfica”
(Fludernik, 1996: 26). Nesta aceção, faz sentido falar em narrativização
como princípio de interpretação e como estratégia de leitura; uma tal
estratégia de leitura narrativística compensa as inconsistências e as
incompletudes de uma narrativa (porque ela nunca conta tudo) pelo
recurso a esquemas narrativos previamente naturalizados, com base
na nossa experiência empírica e nas práticas narrativas que a cada
momento ela propicia. Daqui chegamos a um conceito ao mesmo
tempo elementar e muito aberto de narrativização, como processo
que convoca a narratividade: a narrativização é “a leitura dos textos
como narrativos, como constitutivos de narratividade no processo de
leitura” (Fludernik, 1996: 20). A abertura pan-narrativista que daqui
se infere é evidente: para além do que lemos na prosa narrativa, a
narratividade está disseminada na poesia e nos textos dramáticos
e pode ser nuclear em discursos verbais, icónicos e verbo-icónicos
que encontramos no cinema, na televisão, na imprensa, etc. (veja-se
Prince, 2005; Abbott, s.d.).
3. Antes de chegarmos a Zelig, recordemos alguns antecedentes e
desenvolvimentos possíveis. Os antecedentes do que fica dito estão no
pensamento e nas propostas de Roland Barthes, explanado num número hoje histórico (porque fundacional) da revista Communications.
25
�No seu texto de abertura (e no seu incipit, lugar de destaque, tal
como acontece em certas narrativas), Barthes escreveu:
Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro
lugar uma variedade prodigiosa de géneros, distribuídos entre
substâncias diferentes, como se toda matéria fosse boa para
que o homem lhe confiasse as suas narrativas: a narrativa pode
ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela
imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada
de todas estas substâncias; está presente no mito, na lenda,
na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na
tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura
(…), no vitral, no cinema, nas histórias em quadradinhos, no
fait divers, na conversação (Barthes, 1966: 1).
O que veio depois e pudemos ler nos trabalhos inspirados pela análise estrutural da narrativa (logo naquele número de Communications,
mas não só nele) e pela narratologia de inspiração genettiana dos
anos 70 e 80 é sabido e não precisa de ser lembrado, a não ser para
sublinhar o seguinte: no tocante aos estudos narrativos, ao seu potencial operatório e às bases epistemológicas em que eles se sustentam,
não estaríamos onde estamos sem o contributo daqueles trabalhos.
Depois deles e episodicamente em diálogo com eles, a filosofia
da narrativa plasmada nos magistrais estudos consagrados por Paul
Ricoeur ao tempo narrativo abriu caminhos de reflexão hermenêutica que encontramos sintetizados na “hipótese de base” que rege o
trabalho do grande pensador francês. Diz Ricoeur, num dos volumes
de Temps et récit: “Existe entre a atividade de contar uma história e
o caráter temporal da experiência humana uma correlação que não
é puramente acidental, mas apresenta uma forma de necessidade
transcultural.” E acrescenta: “o tempo torna-se tempo humano na
medida em que é articulado em modo narrativo, e (…) a narrativa
26
�atinge a sua significação plena quando se torna uma condição da
existência temporal” (Ricoeur, 1983: 85).
Sintomaticamente, é também a experiência humana que aparece
invocada no ensaio em que Jerome Bruner conjuga psicologia cognitiva e teoria da aprendizagem. Entendendo as narrativas como uma
versão da realidade suportada por aquilo a que chama “necessidade
narrativa”, Bruner nota: “Organizamos a nossa experiência e a nossa memória dos acontecimentos humanos principalmente em forma
narrativa – histórias, desculpas, mitos, razões para fazer e para não
fazer e assim por diante” (Bruner, 1991: 4)3. O que nos traz de volta
à naturalização da narrativa de que anteriormente falei. Toda a narrativa constitui, em suma, um procedimento alargado, consistente e
consequente de construção de sentido, com uma dimensão humana e com um “formato” temporal que são reversíveis e interativos.
Derivadamente, a narrativa traduz um impulso de prolongamento
daquilo que parece transitório e contingente; a isto junta-se a sua
capacidade de modelização secundária4 de ações humanas, de acordo
com a condição ficcional (que é também uma condição narrativa) da
personagem e com o processo de figuração que ela implica.
É pela narrativa ficcional (e em particular pela narrativa ficcional
literária) que tentamos resolver a tensão entre autonomia e heteronomia que é própria das práticas artísticas. Lemos as ficções narrativas
literárias como representações autónomas de experiências humanas
que, de facto, nos são alheias, no plano empírico; mas ao mesmo
tempo, persistimos em ler essas ficções porque reconhecemos nelas
Acrescenta Bruner: “As narrativas são, então, uma versão da realidade cuja aceitabilidade é regida por convenção e por ‘necessidade narrativa’, mais do que por verificação empírica e exigência lógica, embora ironicamente não tenhamos escrúpulo
em chamar às histórias verdadeiras ou falsas” (Bruner, 1991: 4-5).
3
A modelização secundária que a narrativa literária concretiza “opera com as fundamentais categorias da narrativa, do tempo ao modo, passando pela personagem,
pela representação do espaço e pela estruturação da ação” (Reis e Lopes, 2011: 236).
4
27
�uma evidente dinâmica de pervivência daquilo que nelas é dito e
vivido por “pessoas de livro”5.
Sendo em princípio localizados e contingentes, esses atos e essas
palavras reacendem, no nosso tempo e nas nossas vidas, sentidos
que, por fim, transcendem as ficções narrativas em que se encontram
disponíveis, para com elas interagirmos. Não cavalgamos Rocinante,
em investida contra moinhos de vento, nem tentamos impedir Dom
Quixote de o fazer (deixamos isso por conta de Sancho Pança); mas
aquele gesto supostamente tresloucado continua a convocar as nossas
emoções, quando a ele reagimos, com solidária cumplicidade ou com
risonha compreensão. A vida da obra (Ingarden dixit) e a decorrente
sobrevida das personagens são, afinal, da mesma natureza daquela
perenidade artística que Eça ilustrou com uma história de amor
(com uma narrativa) chamada Romeu e Julieta: “Shakespeare está
realmente tão vivo como quando, no estreito tablado do Globe, ele
dependurava a lanterna que devia ser a lua, triste e amorosamente
invocada, alumiando o jardim dos Capuletos” (Queirós, 2009: 201).
4. O cinema de Woody Allen envolve, com frequência, temas e
motivos literários que são bem notórios. Recordo os títulos da sua
extensa filmografia que, neste aspeto, são mais significativos. Aqueles
temas emergem, em registo de alusão, de paródia ou de reescrita
cinematográfica, em Manhattan (1979), em Uma Comédia Sexual
numa Noite de Verão (1982) ou em Balas sobre a Broadway (1994).
Não apenas metaliterária, mas também de índole metanarrativa é a
conceção e a realização de outros filmes, sobretudo das décadas de
80 e 90, a saber: Zelig (1983), A Rosa Púrpura do Cairo (1985), Os
Dias da Rádio (1987), Poderosa Afrodite (1995), As faces de Harry
(1997) e ainda o mais tardio Melinda e Melinda (2004) 6.
A expressão “pessoas de livro” encontra-se num passo da História do Cerco de Lisboa, de José Saramago (“pessoas de livro são personagens, contrapôs Maria Sara”).
5
6
Refiro os títulos dos filmes pela designação que receberam em Portugal.
28
�São sobretudo estes filmes que convidam a uma integração de questões e problemas do âmbito dos estudos narrativos com questões e
problemas do âmbito dos estudos mediáticos e, mais especificamente,
do campo das relações entre narrativa literária e narrativa cinematográfica. O que requer uma ressalva metodológica importante: sem
privilegiar uma leitura de especialidade da narrativa cinematográfica,
a análise que me proponho realizar orienta-se para a problematização
de aspetos compositivos e de categorias (por exemplo, a personagem), cuja dilucidação poderá ser muito fecunda para o estudo da
narrativa, em termos alargados. É nesse sentido que a filmografia de
Woody Allen, com toda a evidência, é exemplarmente rica.7
Menciono de seguida, e apenas em termos introdutórios, algumas
daquelas questões a que chamo paraliterárias e paranarratológicas.
Assim:
i. As fronteiras da ficção e o seu estatuto ontológico, bem como a
relevância da metalepse e a diluição dos limites dos universos
ficcionais, como se vê em A Rosa Púrpura do Cairo (“é tudo
uma questão de semântica”, diz uma das personagens).
ii. A relação entre ator e personagem ou os condicionamentos do
casting, em relação direta com a sobrevida das figuras ficcionais; incluem-se aqui as determinações extra-artísticas e as
perversões do dito casting (veja-se Balas sobre a Broadway e,
de novo, A Rosa Púrpura do Cairo).
iii. Os processos de figuração da personagem, em relação direta
com géneros literários, com as suas injunções representacionais
e com os seus efeitos cognitivos (por exemplo, em Melinda e
Melinda).
No plano pedagógico, a integração a que me referi (estudos narrativos e estudos
mediáticos) aconteceu no seminário Estudos Narrativos Mediáticos, que lecionei no
doutoramento em Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras de Coimbra.
7
29
�iv. As condições de existência semiodiscursiva dos relatos noticiosos e ficcionais no espaço mediático, bem como os efeitos
cognitivos e sociais que decorrem delas e das suas personagens
(em Os Dias da Rádio).
v.
A relação da personagem e da sua construção com as decisões
(ou com as suas limitações) do escritor (As faces de Harry), bem
como o peso de mitos ancestrais e de uma tradição cultural
em revisão paródica (Poderosa Afrodite).
Quem se lembra de Zelig ou pôde visioná-lo recentemente terá
bem presente o que neste admirável filme 8 se conta. Trata-se da
história de uma figura bizarra, alegadamente atingida por uma perturbação psicopatológica que explica o epíteto de homem-camaleão
que lhe é atribuído: manifestava-se em Leonard Zelig a tendência
para se desdobrar e mimeticamente replicar aquele ou aqueles com
quem interagia, naquilo que parecia ser um culto irreprimível da
alteridade, atentamente seguido por uma psiquiatra (Dra. Eudora
Fletcher); é ela quem tenta a cura desse paciente por quem depois
se apaixona. O físico, a linguagem, a indumentária e a gestualidade
de Zelig traduziam, de forma algo burlesca, aquela tendência, vivida
num contexto histórico particular: o final dos anos 20 e os anos
30, tempo marcado pela depressão da economia norte-americana,
na sequência do crash bolsista de 1929, pela ascensão do nazismo e
pelo pontificado de Pio XI (1922-1939).
A construção narrativa do filme está dominada por várias estratégias enunciativas. Primeiro: o recurso a uma voz over anónima, numa
instância de narração exterior à história, atribuível a um narrador
omnisciente e potencialmente fiável. Segundo: uma configuração
genológica intermediática e internarrativa, que articula os registos
Na receção que Zelig conheceu, à época em que foi produzido e exibido, contam-se
nomeações para prémios de grande destaque (Oscar da Academia, Globo de Ouro e
BAFTA), mas nenhuma atribuição efetiva.
8
30
�do documentário, da reportagem jornalística, da biografia cinematográfica (o chamado “biopic film” 9) e da narrativa historiográfica.
Terceiro: a centralidade de Zelig como figura em torno da qual gira
todo o relato, centralidade expressa logo no título do filme. Quarto: a
oscilação entre procedimentos de veridicção10, acentuando a alegada
veracidade da figura, e procedimentos de desmontagem desse estatuto, sempre que se põe em causa a mais elementar verosimilhança
(por exemplo: de regresso aos Estados Unidos, Zelig pilota um avião
que atravessa o Atlântico de cabeça para baixo).
Aquela oscilação gera uma ambivalência que domina todo o filme, afirmando-se como sua decisiva marca identitária. Vale a pena
insistir no significado dos estratagemas que servem para construir
discursivamente a pseudo-veracidade de Zelig. Antes de mais e
logo a abrir o filme: a incorporação narrativa de depoimentos com
propósito legitimador. Personalidades destacadas da vida intelectual
norte-americana, como Susan Sontag, Irving Howe, Saul Bellow
ou Bruno Bettelheim aparecem a dar testemunhos autorizados a
propósito do fenómeno Zelig. Para além disso, as várias trucagens
sofridas por supostos documentos cinematográficos “de época” reforçam a dimensão histórica e não ficcional de Zelig. A mais evidente
dessas trucagens é a que confere aspeto desgastado às películas,
com aparência de documentários ou noticiários cinematográficos
muito antigos, que ilustram episódios da vida de Zelig, bem como
acontecimentos históricos por ele vividos; não menos expressivo
(mas porventura excessivo e, por isso, já com feição desconstrutiva
e mesmo paródica) é o aparecimento de Zelig ao lado do escritor
Scott Fitzgerald e sobretudo o modo como irrompe num comício
A expressão “biopic film” é uma redução de “biographical pictures” e refere-se a
filmes que relatam a biografia de figuras com relevo histórico ou cultural, eventualmente com interpretações e extensões de índole ficcional.
9
Retomo aqui o conceito semiótico de veridicção como manifestação do dizer-verdade
apoiada em ilusões referenciais, processo discursivo dependente de uma conceção
imanente da linguagem.
10
31
�de Hitler, perturbando o discurso do Fürher. E ainda: a alternância
da cor com o preto e branco (que Allen voltou a usar em A Rosa
Púrpura do Cairo) reforça a diferença entre o passado (preto e
branco) e o presente (cor); sendo assim, a Eudora Fletcher do presente não está apenas muito mais velha (e por isso não pode ser
interpretada pela mesma Mia Farrow do passado a preto e branco),
como também é filmada a cores.
O confronto com esta construção veridictiva e também o seu reforço são estabelecidos pelo recurso a um outro documento de época,
este citado como uma ficção. Trata-se do filme The Changing Man,
apresentado como uma produção da Warner Brothers, de 1935, que
pretende ser a reconstrução ficcional do “caso” Zelig. Por comparação
com a elaboração documental e mesmo historiográfica que domina
a biografia de Leonard Zelig, o filme da Warner revela-nos uma figura idealizada, o que se acentua ainda pela retórica interpretativa
do ator a quem cabe o papel de Zelig. O comício de Munique, em
que Eudora reencontra Leonard, permite observar o contraste entre
as duas versões; para mais, a segunda é desautorizada por Eudora,
que claramente afirma que aquilo que de facto se passou não foi
nada parecido com o que vê no filme. E assim, pelo “excesso” da
ficção, reforça-se a “autenticidade” daquilo que nos é proposto como
evocação de um caso verídico.
5. Trato agora de alargar o que anteriormente foi analisado, no
sentido de, em movimento de transnarrativização, tentar identificar
três princípios constitutivos do conhecimento narrativo sugeridos
por Zelig. Um conhecimento que julgo ser indissociável do reconhecimento da narrativa como tal, dos seus protocolos enunciativos
e das suas formulações figuracionais; incidem estas últimas sobre
a personagem como categoria central do relato, em direta relação
com o sentido humano que nele se elabora. Refiro-me, assim, a três
princípios que estruturam a composição de Zelig.
32
�5.1. Primeiro princípio, o da credibilidade narrativa. Num largo
trajeto que vai das poéticas da Antiguidade até às primícias da modernidade, a verosimilhança impõe-se como critério de aceitabilidade
e de integração cognitiva da narrativa e em particular da narrativa
literária. A credibilidade que pela verosimilhança se estabelece requer,
naturalmente, aquela suspensão voluntária da descrença a que já aludi
e que pode ser entendida, por outro lado, como uma afirmação de
crença no poder evocativo e representacional da palavra literária11.
Foi esse poder que deu lugar aos realismos e ao seu propósito de
narrativizar, normalmente com intuito crítico, situações, conflitos
e figuras que nos dão a conhecer tempos e estados das sociedades
a que aqueles realismos se reportam.12
As poéticas do modernismo e do pós-modernismo não desvalorizaram, bem pelo contrário, o princípio da credibilidade narrativa,
mas reajustaram-no em função de uma nova episteme do sujeito,
que é proposta pelo pensamento literário e filosófico de Mallarmé
e de Nietzsche, de Freud, de T. S. Eliot e de Fernando Pessoa, entre
outros. Essa nova episteme, correspondendo também a uma crise do
sujeito, cultiva uma retórica da veridicção que assenta na força performativa de atos discursivos literários e metaliterários e na aquisição
do desdobramento como evidência daquela crise (o Ultimatum de
Recorde-se que, no passo da Biographia Literaria (1817) em que exarou aquele
famoso conceito, Coleridge falou também em fé poética. Assim: “That willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith.” (em http://www.
english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/biographia.html; acesso a 2.1.2016).
11
São conhecidos os termos em que Engels, numa carta de abril de 1888 (e apesar
de diferenças ideológicas que assinala), fez o elogio de Balzac como romancista que
retratou a sociedade francesa posterior a 1815. “He describes how the last remnants
of this, to him, model society gradually succumbed before the intrusion of the vulgar
monied upstart, or were corrupted by him”; e mais adiante: “And around this central
picture he groups a complete history of French Society from which, even in economic details (for instance the rearrangement of real and personal property after the
Revolution) I have learned more than from all the professed historians, economists,
and statisticians of the period together.” (carta a Margaret Harkness, em https://www.
marxists.org/archive/marx/ works/1888/letters/88_04_15.htm ; acesso a 2.1.2016).
12
33
�Álvaro de Campos é, neste contexto, um testemunho admirável de
força expressiva e nietzschiana).
A construção da heteronímia pessoana é consabidamente um marco relevante a assinalar aquele percurso de mutações ontológicas e
epistemológicas. É bem sintomático, aliás, que a sua conceção como
drama em gente envolva a noção de personagem (é assim que Pessoa
designa os heterónimos), num processo cuja feição paranarrativa parece evidente, muito antes de isso ser confirmado na famosa carta
de 1935 a Adolfo Casais Monteiro sobre a génese dos heterónimos13.
Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que a síndrome Zelig e
as atribulações do homem-camaleão manifestam-se naqueles anos
30 em que Pessoa ia refinando e aprofundando a sua encenação
heteronímica.14 Nesse tempo propício a tais aventuras, insinua-se
em ambos a credibilidade narrativa como fator de consolidação de
trajetos existenciais autónomos; o sentido que nesses trajetos lemos
é potenciado justamente por uma naturalização narrativa que lhes
dá consistência própria.
É claro que, em Zelig, a credibilidade narrativa desliza (e de certa
forma desvanece-se) para uma certa derrisão que nos desdobramentos
modernistas escassa ou nulamente transparece. Se o homem-camaleão viveu nos anos 20 e 30 em que a aventura pessoana e outras
Num dos seus mais conhecidos textos de reflexão metaliterária, escreveu Pessoa
que, “se analisarmos bem aquilo de que se [os géneros] se compõem, verificaremos
que da poesia lírica à dramática há uma gradação contínua. Com efeito, e indo às
mesmas origens da poesia dramática – Ésquilo por exemplo – será mais certo dizer
que encontramos poesia lírica posta na boca de diversos personagens.” E noutro
passo: “Por qualquer motivo temperamental que me não proponho analisar, nem
importa que analise, construí dentro de mim várias personagens distintas entre si e
de mim, personagens essas a que atribuí poemas vários que não são como eu, nos
meus sentimentos e ideias, os escreveria.” (Pessoa, s.d.)
13
Para além disso, a construção da teoria poética pessoana coincide, em boa parte,
com o tempo de desenvolvimento da teoria do romance e da filosofia da linguagem
bakhtinianas (Problemas da poética de Dostoievski é de 1929 e O discurso no romance
é de 1934-35). Não surpreende, por isso, que os conceitos de pluridiscursividade,
de polifonia e de alteridade possam ser relacionados, como já aconteceu, com o
universo pessoano e, já agora, com a síndrome Zelig. Cf. Reis, 1989 e, na sequência
deste, Vila Maior, 1994.
14
34
�similares se desenvolveram, a sua conceção, a produção e a realização
cinematográfica que lhe deram vida revelam uma marca pós-modernista que é já de outro tempo: com Zelig, estamos agora naqueles
anos 80 em que o cinema de Woody Allen se deixou seduzir pelos
jogos metaficcionais que encontramos também n’A Rosa Púrpura do
Cairo e n’Os Dias da Rádio. Nestes, como em Zelig, a metalepse e a
desconstrução paródica são desafios que não dispensam, por vezes,
a citação de outras ficções, retomadas no contexto de derrisão que
agora está em causa. Não é destituído de significado o facto de Zelig
aparecer fotografado como Canio, o ator-palhaço; o desdobramento
convoca, neste caso, uma personagem que, na ópera Pagliacci de
Leoncavallo, vive dramaticamente a tensão de quem oscila entre a
condição de ator e a personagem (Pagliaccio) que ao mesmo tempo
vive e rejeita15.
5.2. Falo agora do princípio da transhistoricidade, de novo deduzido do que observamos em Zelig; e relaciono-o, antes de mais,
com a reconhecida e ancestral vocação da narrativa para dialogar
com a História e mesmo para nela interferir. Nesse sentido, a narrativa pode tematizar explicitamente a História (p. ex.: o romance
histórico), interagir com ela, propor uma sua interpretação ou até
questionar subversivamente heróis e episódios que a historiografia
convencional configurou.
É em função do princípio da transhistoricidade que lemos a História
no relato ficcional: ele transcende, refaz e prolonga no tempo o passado visado pela História e quem nele habitou, fazendo-o chegar até
nós sob forma narrativa. Mais: sem descurar, antes reforçando, a sua
dimensão ideológica (e mesmo, por vezes, pedagógica), a narrativa
Aquilo a que chamo tensão entre ator e personagem foi glosado, no quadro da
encenação dramática propriamente dita e do tratamento do casting, em Balas sobre
a Broadway, um filme que, mais do que Zelig, merece um confronto com a ópera
mencionada e também, já agora, com Sei personaggi in cerca d’autore, de Pirandello.
15
35
�ficcional chega a reescrever a História, entendendo-a como imagem
precária e suscetível de ser discursivamente superada16.
Numa sequência de Zelig, construída com a ajuda de um (pseudo) documentário noticioso onde se nota a patine que o tempo
depositou na película cinematográfica, vemos o protagonista numa
cena passada em Roma, num Domingo de Páscoa. Nela, Leonard
Zelig aparece inopinadamente ao lado de Pio XI e perturba a cerimónia da bênção papal urbi et orbi; perante milhares de fiéis,
instala-se então a confusão na varanda principal da Praça de São
Pedro, ao ponto de o papa agredir o intruso. Por seu lado, o já
citado comício de Munique suscita, muitos anos depois, o comentário de uma testemunha presencial: Oswald Pohl, de quem, em
legenda, se diz ser um antigo membro das SS nazis, reconhece
que Zelig interferiu no discurso de Hitler, impedindo-o de dizer
uma piada sobre a Polónia.
Que o excesso e o absurdo sejam dominantes em ambos os episódios é algo que pouco importa agora. O que interessa é a sugestão
que fica: a narrativa, neste caso cultivando uma ambivalência que a
faz oscilar entre a lógica do ficcional e a retórica do documental, impõe-se como dispositivo capaz de, conforme escreveu José Saramago,
introduzir na História aqueles “pequenos cartuchos que façam explodir o que até então parecia indiscutível”. Preside a esse ato aquilo
que se apresenta ao grande romancista (e, como se sabe, admirável
cultor de ficções metahistoriográficas com intuito ideológico) como “a
consciência da nossa incapacidade final para reconstituir o passado”
(Saramago, 1990: 19)17. Por isso, Saramago concebeu “pequenos cartuchos” chamados Blimunda e Baltasar Sete-Sóis, parentes e cúmplices
16
Aproximo-me aqui das teses de Hayden White (White, 1978: 81-99).
Não se trata, para Saramago, de corrigir ou de reescrever infinitamente a História.
Mas é o romancista quem pode empreender uma “espécie de reivindicação ou o
ato de chamar à presença”, de “reclamar a presença” da História na narrativa que a
questiona. (Reis, 2015a: 89).
17
36
�de Leonard Zelig que, à sua maneira burlesca, nos fez conhecer em
Pio XI e em Adolf Hitler comportamentos inusitados. E assim, num
outro medium e em tom paródico, o homem-camaleão reafirma o
direito (e o poder) que a narrativa reclama para incessantemente
reescrever o que por outra narrativa, a da História, fora dito.
5.3. Como se viu, a personagem é um elemento capital da manifestação das virtualidades de tratamento transhistórico que a narrativa
encerra. Por isso mesmo, o princípio da figuratividade constitui um
fator relevante (e último, por agora) de concretização do conhecimento
viabilizado pela narrativa.
Designo aqui por figuratividade a propriedade ou conjunto de
propriedades que decorrem dos dispositivos de modelização da personagem como figura ficcional; e chamo genericamente figuração a
esses dispositivos e ao seu trabalho narrativo. Retomando o que escrevi noutro local, a figuração pode ser entendida como “um processo
ou um conjunto de processos constitutivos de entidades ficcionais
de feição antropomórfica, conduzindo à individualização de personagens em universos específicos, com os quais essas personagens
interagem” (Reis, 2015b: 121-122 )18.
O caso Zelig e a forma como é narrativamente representado
revela-se-nos um contributo significativo para apurarmos alguns
aspetos do mencionado princípio da figuratividade, enquanto componente que colabora na estruturação do relato. Com Zelig e, mais
alargadamente, com a figuração da personagem é pelo nome que
Acrescento ao que fica dito: “Tal individualização verifica-se sobretudo em contextos
narrativos e em contextos dramáticos, mas acontece, igualmente de modo residual, em
contextos de enunciação poética; passa-se isto, em especial, quando estão em causa
composições dotadas de um certo índice de narratividade. Ou seja: a personagem
pode ser figurada na poesia lírica. Por outro lado, a figuração deve ser encarada em
aceção translata, quando observamos a sua ocorrência em discursos que não são
formal ou institucionalmente literários. Refiro-me, por exemplo, à historiografia, à
epistolografia e aos discursos de imprensa (p. ex., os retratos de figuras públicas,
os obituários, etc.).” (Reis, 2015b: 122)
18
37
�tudo começa. Ou melhor, pela sua procura, como se a personagem
fosse (e de facto é) uma entidade dinâmica, parecendo o próprio
nome, nas primeiras abordagens, um componente em movimento:
Leon Selwin ou Zelman são as denominações anotadas pelo romancista Scott Fitzgerald, primeira testemunha convocada para, logo
no início do relato, dar a conhecer a figura que vai ser biografada.
Sintomaticamente, é pelo registo de um ficcionista que essa figura
começa a tomar forma e condição humana. Mais: a voz over do
narrador lembra que, como romancista, foi Fitzgerald quem registou
os anos 20 da vida norte-americana para as gerações futuras. Fica
assim exarado um atestado de autoridade que, ao mesmo tempo
que confere credibilidade ao caso em desenvolvimento, traz à cena
da narrativa o trabalho de um ficcionista, em cuja esfera de ação
ambiguamente Zelig é colocado.
As variações sobre o nome (quando aparece num treino dos
Yankees, o jogador desconhecido chama-se agora Lou Zelig) não
são inconsequentes. Elas anunciam outras variações, mais complexas
e mais problemáticas, assim se insinuando aquele que é um modo
de caracterização por vezes presente na figuração da personagem:
a relação de coerência entre o nome (neste caso, a sua indefinição
inicial) e a personalidade.
As mencionadas variações são o fulcro da identidade mutável
de Zelig. Mimetizando constantemente o outro com quem interage,
Zelig é uma figura em incessante busca e reconstrução, assim se sugerindo que o conhecimento da personagem é, de forma correlata,
um processo sempre em aberto. O que bem pode ser confirmado,
num outro plano de análise, por quem nos diz que “o conceito de
personagem já não é um conceito estático” (Felski, 2011: V), a isto
podendo acrescentar-se o seguinte: “Sem dúvida, uma certa conceção do que constitui uma personagem – uma ideia de personalidade
unificada, imutável, intrínseca ou impermeável – já não é sustentável
em bases teóricas ou históricas” (Felski, 2011: IX).
38
�6. Para terminar: o processo de narrativização a que assistimos
em Zelig depende, em grande parte, de reconhecermos como narrativa aquilo que o é, com base na nossa experiência de produtores
e de consumidores de relatos, desde os do nosso quotidiano até às
ficções mais elaboradas. Os princípios que descrevi (da credibilidade,
da transhistoricidade e da figuratividade) contribuem para refinar
culturalmente a funcionalidade das narrativas, ao mesmo tempo
que requerem uma competência de leitura a que podemos chamar
literacia narrativa.
É a nossa literacia narrativa que recorrentemente é interpelada por
Zelig. Acontece assim sobretudo quando nos damos conta daquela
ambivalência de que anteriormente falei e que é instaurada por uma
certa hibridização de procedimentos: discursos e estratégias veridictivas convivem e alternam com o excesso da paródia que desmistifica
a “autenticidade” histórica da figura e dos episódios que ela vive.
O casting e as suas exigências colaboram naquela hibridização.
Começamos a ver aquilo que, por força de vários estratagemas retóricos, tem a aparência de um documentário, mas logo nos apercebemos
de que a figura central dessa biografia documentada e atestada por
várias formas é interpretada por um ator que conhecemos: Woody
Allen. Logo de seguida, a Dra. Eudora Fletcher (mencionada na abertura do filme como destinatária de agradecimentos, como é usual
em documentários) tem o rosto da atriz Mia Farrow.
Estaria desfeita, logo deste modo, a tal ambivalência (o casting
“diz-nos” que, afinal, o filme conta uma ficção, pela interpretação de
atores conhecidos), se não se desse o caso de, pouco depois, aparecer,
a cores, a Dra. Eudora Fletcher envelhecida mas não identificável com
nenhuma atriz conhecida. Quero dizer, como se se tratasse de uma
pessoa real, no mesmo plano ontológico de Susan Sontag, de Saul
Bellow ou de Bruno Bettelheim. Acentua-se esta tentativa de recuperar a veridicção pelo facto de aquele papel de Eudora-envelhecida
ser desempenhado (afinal, alguém tinha de o fazer…) por Ellen
39
�Garrison, que nunca fora (nem voltou a ser) atriz na sua vida19. Nada
disto se confunde, note-se, com a mais convencional situação do
biopic film: aqui, sem trucagens nem ambiguidades, um ator encarna
uma personalidade real, num registo desde logo reconhecido como
o de um filme biográfico com propósito artístico e, não raro, com
derivações ficcionais (por exemplo: Daniel Day-Lewis fazendo de
Abraham Lincoln ou Philippe Seymour Hoffman de Truman Capote).
No fim de contas, Zelig deixa-nos várias interrogações, perversamente induzidas pelos jogos metaficcionais que nele se desenrolam.
Uma dessas interrogações: não será próprio de toda a narrativa o
culto daquela espécie de vacilação entre o testemunho que afirma o
verídico e a tentação pela ficção? Outra questão: não caberá à narrativa resolver a ordenação do que é disperso e a integração daquilo
que tem proveniência díspar (ou seja: entidades reais e entidades
ficcionais)? Não será essa vocação integradora a via para se atingir
um superior sentido narrativo, como objetivo último que motiva a
enunciação de relatos? Um sentido que, na linha do pensamento de
Paul Ricoeur, se distingue pela sua dimensão humana ou, num quadro de referência antropológica, como algo em que reconhecemos
dimensão transcultural. E uma última interrogação, ainda a partir de
Zelig: em que medida o poder representacional da imagem aprofunda
(e também torna mais complexa) a tendência da narrativa para cultivar a oscilação entre o ficcional e o verídico, para integrar o que é
disperso e para, desse modo, atingir o tal sentido narrativo que é a
ultima ratio de todo o relato?
Serão perguntas retóricas? Se esta reflexão continuar, tratarei de
resolver esta última interrogação – que, para que conste, nada tem
de retórico.
Ellen Garrison, que foi presidente da Women United for the United Nations, tinha
83 anos quando apareceu em Zelig e veio a falecer em 1995. Veja-se o obituário que
sobre ela foi publicado no New York Times, em http://www.nytimes.com/1995/06/06/
obituaries/ellen-garrison-96-acted-in-film-zelig.html (acedido a 4.1.2016).
19
40
�REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABBOTT, H. P. (s.d.). “Narrativity”, in The Living Handbook of Narratology (em http://
www.lhn.uni-hamburg.de/article/narrativity ; acedido a 7.1.2015).
BARTHES, R. (1966). “Introduction à l’analyse structurale du récit”, in Communications,
8, pp. 1-27.
BRUNER, J. (1991). “The narrative construction of reality”, in Critical Inquiry, vol.
18, 1, pp. 1-21.
FELSKI, R. (2011). “Introduction”, in New Literary History, 42: 2, pp. v–ix.
FLUDERNIK, M. (1996). Towards a ‘Natural’ Narratology. London and New York:
Routledge.
PESSOA, F. (s.d.) “Dividiu Aristóteles a poesia em lírica, elegíaca, épica e
dramática”, em http://arquivopessoa.net/textos/4306 (acedido a 7.1.2016).
PRINCE, G. (2003). A Dictionary of Narratology. Revised edition. Lincoln and London:
The Univ. of Nebraska Press.
PRINCE, G. (2005). “Narrativity”, in D. Herman et alii (eds.), Routledge Encyclopedia
of Narrative Theory. London and New York: Routledge, pp. 387-388.
QUEIRÓS, E. de (2009). Cartas Públicas. Edição de Ana Teresa Peixinho. Lisboa:
Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
REIS, C. (1989). “Les hétéronymes de Pessoa et la théorie bakhtinienne du dialogisme”,
in Manfred Pfister (ed.), Die Monernisierung des Ich. Passau: Wissenschaftsvrelag
Richard Rothe, pp. 306-311.
REIS, C. (2015 a). Diálogos com José Saramago. 2.ª ed. Porto: Porto Editora.
REIS, C. (2015 b). Pessoas de livro. Estudos sobre a personagem. Coimbra: Imprensa
da Universidade de Coimbra.
REIS, C. e A. C. M. LOPES (2011). Dicionário de Narratologia. 7ª ed. Coimbra:
Almedina.
RICOEUR, P. (1983). Temps et récit. Paris: Seuil, tomo I.
RYAN, M.-L. (ed.) (2004). Narrative across Media. The Languages of Storytelling.
Lincoln and London: Univ. of Nebraska Press.
RYAN, M.-L. (2006). Avatars of Story. Minneapolis and London: Univ. of Minnesota
Press.
41
�RYAN, M.-L. e J.-N. THON (eds.) (2014). Storyworlds across Media. Toward a MediaConscious Narratology. Lincoln and London: Univ. of Nebraska Press.
SARAMAGO, J. (1990). “História e ficção”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, 6 de
março de 1990, pp. 17-19.
VILA MAIOR, D. (1994). Fernando Pessoa: heteronímia e dialogismo. Coimbra:
Almedina.
WHITE, H. (1978). Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism. Baltimore: The
Johns Hopkins University Press.
42
�ANÁLISE PRAGMÁTICA DA NARRATIVA:
TEORIA DA NARRATIVA COMO TEORIA
DA AÇÃO COMUNICATIVA
Luiz G. Motta
Universidade de Brasília
No cotidiano de nossas vidas entramos e saímos constantemente no espaço das mídias impressas, eletrônicas e digitais, e nelas
nos abastecemos. A mídia nos oferece pontos de referência, pontos
de parada, pontos para olhar, se engajar e desengajar (Silverstone,
1999). A configuração de uma narrativa pública hoje é uma prática
viva, transmidiática e intertextual (Scolari, 2009). Cada um de nós
constrói seus próprios significados a partir de fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático, através dos quais procuramos
compreender nossas vidas. Essa cultura midiática e digital substituiu
a sociabilidade tradicional, transformou-se em uma nova textura
geral da experiência (Berlin, 1997) ou uma mundanidade mediada
(Thompson, 1998). Nesse caleidoscópico fluxo e refluxo de socialização travam-se as batalhas discursivas pela posse dos significados,
representações e senso comum. Na cultura da convergência (Jenkins,
2006), as narrativas públicas se configuram através da intersecção de
uma multiplicidade de fontes e plataformas: cada fragmento acrescentado distende a narrativa para trás, para adiante ou para os lados,
reatualiza a história deixando os relatos em um permanente estado
de suspensão.
43
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_2
�Essa realidade nova sugere procedimentos de análise da narrativa
mais dinâmicos que aqueles fornecidos pela linguística ou a teoria
literária. O presente ensaio propõe que a narrativa seja compreendida
como uma ação, cujo protagonismo, voz e perspetiva dos sujeitos narrador e destinatário na coconstrução do sentido sejam incorporados
à análise. Até recentemente, a análise da narrativa concentrava-se
no enunciado, no relato enquanto um produto acabado possuidor
per se de um sentido autônomo. O foco se centrava na descoberta
de estruturas recorrentes da narrativa que revelassem sua organicidade interna como um sistema fechado sobre si mesmo, com moto
próprio: uma totalidade integral que agregava descrições de ações
em um transcorrer sucessivo rumo a um desfecho. Categorias como
encadeamento, sequência, composição, duração, ritmo, função e outras
desempenhavam um papel fundamental nas análises. O importante
era desvelar as constantes internas que compunham um modelo universal da intriga. Esse modelo de análise imanentista, inspirado no
estruturalismo – episteme hegemônica na segunda metade do século
passado – revelou-se por si mesmo insuficiente para compreender a
dinâmica das narrativas na sociedade moderna. O esgotamento da
narratologia estruturalista suscitou a necessidade de instrumentos
capazes de capturar a comunicação narrativa. Esses instrumentos
já estavam se consolidando bem antes do advento das mídias digitais. A dinâmica das novas modalidades apenas tornou o modelo
imanentista ainda mais obsoleto.
É no bojo das alternativas epistemológicas trazidas pelo linguistic turn que uma narratologia crítica brotou. As inspirações vieram
das teorias dos filósofos da linguagem H. P. Grice (1957; 1969), J.
H. Austin (1962), J. R. Searle (1998; 2002; 2002a), e outros. E se
abasteceram nas sistematizações da pragmática, no final do século
passado (Reyes, 1994; van Dijk, 1987 e 2000; Vidal, 2002). Aqui, não
posso recuperar as variadas proposições do linguistic turn nem as
44
�contribuições da pragmática.20 No presente ensaio, não ofereço uma
sistematização teórico-metodológica acabada de um novo caminho
epistemológico. Essa tarefa exigirá maior maturação intelectual. Há,
aqui, apenas um esboço conceitual e metodológico preliminar que
sugere interpretar as narrativas como atos de fala dinâmicos e circunstanciais, não como produtos fechados sobre si mesmos. Proponhome esboçar formulações preliminares de uma narratologia crítica,
ainda nascente, que parece representar uma ruptura radical com os
modelos anteriores de análise. Não tenho a pretensão de criar uma
nova narratologia, obviamente. Até porque a maioria das ideias aqui
ensaiadas são importadas de teorias desenvolvidas em outras áreas
do conhecimento. Apenas tento produzir a síntese de um projeto de
interpretação de narrativas que parece promissor. Pretendo somente
sugerir um caminho alternativo a fim de que a narratologia alcance
um status mais antropológico, para além dos restritos limites da
linguística e da teoria literária.
No projeto de uma narratologia crítica aqui esboçado, sigo em
parte a teoria pragmática dos atos de fala, segundo a qual os atos
enunciativos “são operações em contexto, como funções de contexto
em contexto” (Levinson, 2007:352, grifo meu), entendidos estes como
um conjunto de proposições que descrevem crenças, conhecimentos,
compromissos e ideologias dos participantes. Quando uma narrativa
é enunciada, acontecem mais coisas que apenas a expressão do seu
significado, pois o conjunto de fundo também é alterado. A contribuição que uma enunciação fornece à mudança do contexto é a força
ilocucionária, ou potência do ato de fala. A tese de Levinson, com a
qual concordo, é que essa força é irredutível à questões de conteúdo,
verdade ou falsidade do enunciado, pois constitui um aspecto do
significado que não pode ser capturado pela semântica veridicional.
Aos interessados, remeto à Parte 1 do meu livro Notícias do fantástico (Motta,
2006). E particularmente à coletânea de ensaios reunidos sob o título La búsqueda
del significado, de L. M. Valdés Villanueva (2000).
20
45
�“O lugar próprio da força ilocucionária é o domínio da ação, e as
técnicas adequadas para a análise devem ser encontradas na teoria
da ação, não na teoria do significado”, uma maneira inteiramente
pragmática de lidar com a força ilocucionária (Levinson, 2007:312,
grifo dele).
Sigo também a hermenêutica crítica de Paul Ricoeur (1983: 46:7),
para quem o discurso é um evento realizado no presente, que remete ao seu locutor mediante um conjunto complexo de indicadores.
O caráter do evento vincula-se, assim, à pessoa que fala. Mais ainda, o evento consiste no fato de alguém falar, tomar a palavra para
expressar-se a respeito de algo: refere-se a um mundo que pretende
descrever ou representar. Neste sentido, o ato de fala é a vinda à
linguagem de um mundo mediante o discurso, e não somente um
mundo, mas também o outro, outra pessoa, um interlocutor ao qual
o locutor se dirige. É da tensão entre estes dois polos que surge a
produção do discurso como obra (o sentido). O que a hermenêutica
deve compreender, diz Ricoeur, “não é o evento, na medida em que
é fugidio, mas sua significação que permanece”.21 A obra traz uma
proposição de mundo “que não se encontra atrás do texto como uma
espécie de intenção oculta, mas diante dele como aquilo que a obra
desvenda, descobre, revela” (1983:58).
Em trabalho anterior, sugeri que a narratologia deveria deslocar-se
da teoria literária para tornar-se um procedimento multidisciplinar
de caráter cultural e cognitivo, envolvendo a interpretação de mitos,
ideologias e os valores canônicos e políticos da sociedade (Motta,
2013). O presente ensaio pretende avançar nesse rumo, até porque
nunca antes a rotina de vida das sociedades foi tão permeada por
uma complexa enxurrada de narrativas como hoje. Cognitivamente,
elas configuram o sentido ordinário da vida. Quotidianamente, somos
Ricoeur (1983:56) ressalta: o que deve ser interpretado no texto é uma proposição
de mundo, “um mundo tal como posso habitá-lo para nele projetar um de meus
possíveis mais próprios”. O mundo do texto, próprio e único deste texto.
21
46
�inundados por biografias, mini-contos, breves romances, reportagens,
filmes, documentários, telenovelas, canções, videoclipes, videogames, histórias em quadrinhos, desenhos animados, comerciais de
TV, anedotas, diários de vida, breves relatos do facebook, whatsapp,
Instagram e outras redes sociais digitais. Através das novas tecnologias, o público tomou para si um protagonismo maior do contar.
Nunca antes nossas estórias foram tão compartidas, tornando mais
densa e complexa a rede coletiva de narrativas públicas. Nunca antes
fomos tão narradores, e simultaneamente destinatários, de nossas
próprias aventuras. A vida contemporânea se desenvolve sob um mar
de relatos híbridos e fragmentados que se emendam uns aos outros,
entretecendo uma teia virtual de narrativas na qual estamos todos
enredados. Provenientes de diferentes plataformas, descontínuos e
dispersos, fáticos ou fictícios, locais ou universais, comerciais ou
públicos, informativos ou puro entretenimento, poucos desses relatos
alcançam constituir-se peças literárias. São erráticos, efêmeros e caleidoscópicos. Mal ou bem, entretanto, os relatos públicos configuram
as narrativas multimidiáticas ou transmidiáticas da modernidade e
constituem o mar de híbridas histórias que confirmam a hegemônica
cultura da convergência.
Teoria da narrativa como uma teoria da ação
A tese de Paul Ricoeur no tomo I de seu reconhecido ensaio Tempo
e Narrativa (1994) é que a operação de configuração da tessitura de
uma intriga extrai sua inteligibilidade de sua faculdade de mediação
entre a prefiguração (processo de produção) e a refiguração (processo
de recepção). Ou seja, a obra eleva-se do fundo opaco do viver e agir
para ser dada por um autor à um leitor que a recebe e, assim, muda
seu agir. A hermenêutica ricoeuriana, dessa forma, preocupa-se em
reconstruir o arco inteiro das operações da experiência: a obra media
47
�entre autores e leitores. O desafio, segundo ele, é a reconstituição do
processo concreto pelo qual a configuração (mimese II) faz a mediação
entre a prefiguração (mimese I) e sua refiguração (mimese III). Assim,
o autor subordina a questão do encadeamento narrativo à determinação da função mediadora da intriga: ela media entre o momento da
experiência prática que a precede e o estágio da experiência receptora
que a sucede.22
Se é verdade que a intriga é uma imitação das ações humanas,
quem a compõe parte de uma pré-compreensão do mundo, suas
estruturas inteligíveis, simbólicas e temporais; e sua competência para articular a representação das ações em uma trama. Mais
importante ainda, diz Ricoeur, é observar que quem compõe age
com certas motivações a fim de produzir certos efeitos. Torna-se
então importante, observa ele, identificar o agente e seus motivos.
Ademais, prossegue, agir é sempre agir ‘com’ outros: “a interação
pode assumir a forma de cooperação, de competição ou luta”
(Ricoeur, 1994:89). A compreensão narrativa deve, pois, ser estabelecida entre a teoria narrativa e a teoria da ação: “Compreender
uma história é compreender ao mesmo tempo a linguagem do ‘fazer’ e a tradição cultural da qual procede a tipologia das intrigas”
(Ricoeur, 1994:91).
Pelo lado da recepção, observa Ricoeur, “a narrativa tem seu sentido pleno quando é restituída ao tempo do agir e do padecer”, no
momento em que é lida. A recepção, segundo ele, “marca a intersecção entre o mundo do texto e o do leitor”. O mesmo ‘pano de fundo’
Ricoeur retoma este assunto no capítulo 3, tomo II, de Tempo e Narrativa (1995)
onde reconhece a necessidade do deslocamento de atenção do enunciado para o ato
de enunciação, passando para primeiro plano os jogos entre a inclusão e exclusão de
conteúdos, a ideologia em última instância. Ao final deste capítulo, o autor explica
que as noções de voz e perspetiva narrativa precisam ser incorporadas à análise da
composição narrativa. Isso se faz, diz ele, vinculando-as às categorias de narrador e
personagem. Ricoeur admite que a questão do ponto de vista diz respeito à composição, mas o problema da voz narrativa é uma questão de comunicação na medida
em que ela se dirige a um leitor (Ricoeur, 1995:163).
22
48
�da cultura, de histórias vividas e (ainda) não contadas, imbricadas
umas às outras, sobre as quais as novas histórias emergem, opera
aqui: “Narrar, seguir, compreender histórias é só a ‘continuidade’
dessas histórias não ditas” (Ricoeur, 1994:116). No ato de ler, diz
ele, o leitor reconfigura e conclui a obra: “É o leitor, quase abandonado pela obra, que carrega sozinho o peso da tessitura da intriga”
(Ricoeur, 1994:118). O ato de leitura, conclui, é “o último vetor da
configuração do mundo da ação sob o signo da intriga” (Ricoeur,
1994:118). Não preciso prosseguir com a rica argumentação de Paul
Ricoeur a respeito da narrativa como uma teoria da ação comunicativa. Ficou evidente que configurar e refigurar uma intriga são
ações protagonizadas por sujeitos vivos e ativos, são performances
linguísticas movidas por motivações e intenções recíprocas. As breves citações acima são suficientes para indicar uma total reviravolta
proposta por ele (e outros autores) na teoria e análise da narrativa,
pois a teoria da narrativa torna-se uma teoria da ação comunicativa.
É nessa direção que procederei rumo a uma análise pragmática, a
ela anexando o adjetivo crítica pelo seu potencial de contextualizar
a interpretação narrativa.
É importante trazer a palavra avaliadora de Paul Ricoeur a respeito da narrativa como ato de fala por causa da respeitabilidade
dele no campo da narratologia. Entretanto, Ricoeur não é uma
referência fundamental na teoria dos atos de fala, que provém
da filosofia da linguagem. Até pouco tempo atrás, os filósofos e
linguistas estavam preocupados com a competência linguística
de cada frase ou texto, e sua correspondência com a verdade.
A virada aconteceu em meados do século passado, quando alguns
filósofos explicaram que falar não é somente emitir frases para
comunicar informações: a fala realiza coisas para além dos conteúdos proposicionais, e o mais importante talvez não seja a sentença
proferida, e sim o que ela obtém como seu efeito independente
de sua condição de verdade. Toda vez que falamos, realizamos
49
�um ato de fala: faço uma pergunta, dou uma ordem, explico ou
predigo algo, etc. 23
Ou seja, para além dos conteúdos, há uma força implícita na fala,
que o filósofo J. Austin (1962) chamou de ilocução. Os potenciais
efeitos desses atos junto aos receptores, ele chamou de atos perlocutivos. Os atos ilocutivos detém quase sempre uma intenção realizativa:
pretendem algo. A mente do sujeito falante impõe intencionalidade
aos sons, imagens ou textos, conferindo a eles um significado relacionado à realidade.24 Para J. Searle (1998, 127), seguidor de Austin,
o significado é uma forma de intencionalidade derivada: a intencionalidade intrínseca do pensamento do falante se transfere às palavras
e frases pronunciadas. Mas, a intenção de comunicar não coincide
sempre com a intenção de significar. Comunicar é obter que o outro
reconheça a minha intenção de produzir certo efeito, obter que o
outro capte o meu significado.
Se transplantamos essas reflexões da filosofia da linguagem para
a narratologia, torna-se relevante redefinir a narração (ou enunciação narrativa) como um ato de fala comunicativo porque os relatos
sempre implicam em efeitos não necessariamente referenciados no
texto: as narrativas são por natureza irônicas, trágicas, cômicas,
Segundo J. Searle (1979), todas as enunciações caem dentro de cinco categorias
básicas: elas podem ser assertivas (descrevem como as coisas são), diretivas (levam
as pessoas a realizar coisas), compromissivas (comprometem as pessoas), expressivas
(expressam sentimentos) ou declarativas (provocam mudanças no mundo) (Searle,
1979). Essas mesmas cinco categorias são resumidas em outras obras do autor. Ver
Searle, 2001:133-135. É discutível se todas proposições cabem dentro de apenas
cinco categorias.
23
Autores de variadas áreas sociais desenvolveram posteriormente a teoria da ação.
No que concerne à comunicação, J. B. Thompson (1998), por exemplo, critica J.
Austin e seus seguidores porque eles não conduziram suas reflexões para uma contextualização social dos atos de fala. Por isso, as considerações deles tenderiam a
ser um tanto formais e abstratas, divorciadas das circunstâncias de poder nas quais
os indivíduos e instituições utilizam a linguagem no dia a dia. Para Thompson, nós
podemos retomar as observações de Austin somente se desenvolvermos uma teoria
social substantiva da ação e dos tipos de poder em que ela se baseia. Concordo em
parte com essas observações, e sigo em uma direção semelhante na proposta apresentada neste ensaio.
24
50
�etc. Cada uma delas quer produzir determinado efeito de sentido,
muitas vezes apenas subentendido. Assim, precisamos partir de
uma definição de comunicação que descreva adequadamente o
processo de narração como um ato de fala com os seus possíveis
efeitos de sentido. Encontro uma definição adequada em Levinson
(2007:19), que diz:
A comunicação consiste no fato de o emissor intentar fazer
com que o receptor pense ou faça alguma coisa, simplesmente
fazendo o receptor reconhecer que o emissor está tentando
causar tal pensamento ou a ação. Portanto, a comunicação
é um tipo complexo de intenção, que é realizada ou
satisfeita simplesmente por ser reconhecida. No processo de
comunicação, a intenção comunicativa do emissor torna-se
conhecimento mútuo para o emissor (F) e o receptor (O),
isto é, F sabe que O sabe que F sabe que O sabe (e assim ad
infinitum) que F tem esta intenção específica.
Os atos de comunicação (incluindo a narração) são regidos por
acordos implícitos entre os interlocutores que tornam possível entender o significado literal, mas também inferir outras significações
a partir da força ilocutiva do enunciado. Esse acordo virtual revela
a intenção de quem fala e sugere uma interpretação cooperativa
de quem lê, vê ou escuta uma história. Ajustamos automaticamente
esses acordos em nossas relações cotidianas com os nossos diversos
interlocutores, readaptando continuamente as nossas expectativas
e as deles, tornando cada fala um ato de comunicação singular e
circunstancial. Assim, o que se diz não é necessariamente o que se
comunica em cada situação: há diversas implicaturas e pressuposições insinuadas, gestos, dêiticos, etc. Os dêiticos (sutis referências
de espaço, tempo, hierarquia social, etc.) são particularmente relevantes porque revelam a importância do contexto comunicativo
51
�para a compreensão dos significados. Conforme observa Levinson
(2007), os dêiticos gramaticalizam traços do contexto na enunciação e revelam como a interpretação das narrações depende da
consideração do ambiente da enunciação (voltarei à questão dos
dêiticos adiante).
Por sua natureza criativa, a enunciação narrativa é rica em
implicaturas e pressuposições que direcionam a fala rumo a inúmeros efeitos de sentido (espera, suspense, susto, sofrimento,
riso, assombro, medo, etc.). Elas estão presentes na própria estruturação dramática do texto, na criação do suspense, no amplo
uso de figuras de linguagem (metáforas, ironias, hipérboles),
na intertextualidade, na ênfase e hierarquia lexicais que põem
a comunicação narrativa em funcionamento. O uso intencional
desses recursos de linguagem constitui a dimensão pragmática
da comunicação narrativa: significados virtuais que decorrem
das intencionalidades do sujeito narrador e das interpretações
do sujeito receptor (os atos ilocutivo e perlocutivo). As intenções
do autor e sua realização (ou não) no ato de recepção são os
dois extremos de uma atividade de comunicação em que o texto
funciona como o nexo entre os interlocutores. Ou seja, a comunicação narrativa visa provocar mudanças no estado de ânimo
das pessoas, podendo eles serem positivos quando favorecem a
auto-afirmação (amor, compreensão, compaixão), ou negativos
quando a desfavorecem (medo, ira, inveja) (Motta, 2006). Embora
brevemente, creio ter enumerado até aqui argumentos suficientes
para justificar que o relato não é mera representação da vida,
mas um ato comunicativo impregnado de força ilocutiva: realiza
sempre uma interlocução criativa. Neste rumo pragmático, a teoria
da narrativa distancia-se da teoria literária para tornar-se uma
teoria da ação comunicativa. Seu uso deixa de atender apenas à
crítica literária ou estética para tornar-se uma metodologia crítica
dos atos narrativos.
52
�A dimensão crítica da pragmática
A disciplina da pragmática é relativamente recente entre as teorias
da linguagem. Sobre a pragmática narrativa, não há literatura específica. A própria teoria dos atos de fala só há pouco saiu do campo
da filosofia e começou a se constituir em um projeto metodológico
mais consistente. Não há sequer uma definição precisa nem delimitação do alcance da pragmática (Levinson, 2007; Dascal, 2006). 25 Ela
surgiu como uma disciplina um tanto marginal, que se ocuparia das
coisas que a semântica e outras disciplinas linguísticas desprezavam
(as pressuposições, subentendidos, ironias, etc.), a chamada “cesta
de lixo” de Gottlob Frege, ou resíduos de outras teorias (Reyes,
1994; Dascal, 2006). O interesse atual pela pragmática decorreu da
percepção geral de que a língua é utilizada para comunicar, e a
comunicação é mais que um conteúdo proposicional. A partir daí,
linguistas, filósofos e outros se deram conta da necessidade de considerar o contexto dinâmico do uso da linguagem, a performance e
motivações (intencionalidades) dos sujeitos interlocutores.26
Há consenso que a pragmática refere-se ao estudo do uso que
os sujeitos interlocutores fazem da linguagem em um determinado
contexto comunicativo (Reyes, 1994). Das condições que determinam o emprego de um enunciado concreto por parte de um falante
concreto em uma situação de comunicação concreta, tanto quanto a
Vidal (2002) define pragmática como uma disciplina que toma em consideração os
fatores extralinguísticos que determinam o uso da linguagem. Reyes (1994) a nomeia
como uma disciplina linguística que estuda como os seres falantes interpretamos enunciados em contexto. Dascal (2006) diz que a pragmática é o estudo do uso dos meios
linguísticos (ou outros) por meio dos quais um falante transmite as suas intenções
comunicativas, e um ouvinte as reconhece. Levinson (2007) define a pragmática como
o estudo das relações entre língua e contexto que são gramaticalizadas ou codificadas
na estrutura da língua: o estudo apenas dos aspectos da relação entre a língua e o
contexto que são relevantes para a elaboração das gramáticas. Van Dijk (2000) contribui
com uma teoria cognitiva da pragmática, cuja razão fundamental é estabelecer relações
entre os enunciados (a linguística) e a interação (as ciências sociais).
25
26
Ver Levinson, 2007:42-56.
53
�interpretação de parte de um destinatário (Vidal, 2002). Isso torna
a pragmática um procedimento empírico que estuda como os sujeitos interlocutores usam e interpretam enunciados em determinado
contexto de comunicação, o que revela o potencial dela para tornar-se uma teoria crítica e nos anima a perseguir um projeto teórico
e metodológico que pode revelar-se promissor para a narratologia.
Transplantar as propostas da pragmática para um projeto de narratologia é certamente uma atitude problemática que suscita inúmeros
desafios não tratados aqui. Porém, nada me impede de ousar, reconhecendo a necessidade de refinamentos posteriores. Me dedicarei
em seguida a dois aspectos particulares da pragmática que requerem uma atenção imediata devido ao seu peso metodológico em
uma narratologia crítica: 1) o protagonismo dos atores; 2) o contexto
comunicativo e os dêiticos. Antes, porém, uma advertência sobre o
uso do adjetivo ‘crítica’ na análise que proponho: a meu ver, a possibilidade de incorporar o contexto nos procedimentos de análise
consolida uma pragmática expandida como uma teoria crítica.27 O
adjetivo crítica tem aqui um valor particular, pois não significa formar
juízos de valor, mas sim assumir uma proficiência metodológica a
fim de incorporar de maneira rigorosa e fundamentada o papel dos
interlocutores e os elementos do contexto comunicativo e cultural
nos próprios procedimentos, o que dá à análise da comunicação
narrativa um alcance social e histórico. 28
Crítica, observa Paul Ricoeur (1983:21) citando o famoso adágio de F. Scheleiermacher, é o “propósito de lutar contra a não-compreensão: há hermenêutica onde
houver não compreensão; romântico, é o intuito de compreender um autor tão bem,
e mesmo melhor do que ele mesmo se compreendeu”.
27
Em sua origem, a análise crítica provém do marxismo. Diversos autores fornecem
elementos estimulantes que podem, com precauções, serem transportados para um
projeto de análise crítica das narrativas. Entre os marxistas, destaco duas obras do
crítico literário inglês Terry Eagleton: Marxism and literary criticism (2002) e Criticism & Ideology (2006), ambos originais publicados em 1976. Entre os não-marxistas,
destaco o crítico literário canadense Northrop Frye em seu The critical path (1971),
e a segunda parte de Interpretação e ideologias, de Paul Ricoeur (1983), onde ele
discute sua hermenêutica crítica.
28
54
�Protagonismo de narradores e destinatários
A primeira contribuição relevante da pragmática para o projeto de
uma narratologia crítica é levar em conta o protagonismo dos sujeitos
interlocutores – narrador e destinatário – nos procedimentos de análise. Mais que uma questão de identidade, é necessário que o analista
conheça os papéis sociais dos sujeitos, suas intenções comunicativas e
as relações de força entre eles (posição social, hierarquia, diferença de
gênero, etc.). A pragmática chama o sujeito enunciador de emissor, mas
na teoria narrativa é mais adequado denominá-lo narrador, termo que
adotarei por conferir a essa figura um ativo protagonismo. Diferente da
teoria literária clássica, na pragmática, o narrador é um sujeito real que
atua no momento em que emite a sua narração, com seus valores, vontades históricas e uma performance comunicativa concreta.29 Da mesma
maneira, o destinatário é também um sujeito (ou sujeitos) ativo que se
engaja no ato comunicativo por vontade própria, com sua memória, seus
valores e ideologias. O destaque, portanto, é a performance dos sujeitos
interlocutores. O que move ambos é a vontade coletiva de fazer sentido.
Na comunicação narrativa, alguém quer utilizar as técnicas de enunciação
dramática para envolver o destinatário, ainda que essa vontade se realize às vezes cooperativamente e outras vezes conflituosamente. Mas o
destinatário também participa do ato comunicativo por vontade própria.
O narrador é quem inicia a atividade de contar conforme sua vontade
e manipula a linguagem a fim de obter a realização de suas intenções
comunicativas. Mas, não é só ele quem toma a iniciativa. Como diz
Bakhtin (2003), o ouvinte tem igualmente desejos, se engaja no processo
comunicativo com interesses próprios, e tem posturas ativas de resposta: pode não estar de acordo, precisa completar lacunas de sentido,
Na teoria literária narrador e destinatário têm uma especificidade ontológica, um
estatuto ficcional, primordialmente textual, diferente do autor, leitor ou audiência
concretos. O narrador é o enunciador do discurso, que pode ou não corresponder a
um sujeito real (Reis e Lopes, 2007:257-8).
29
55
�se prepara para uma outra ação, etc. A simples compreensão de um
discurso, diz o autor, tem sempre algum grau de resposta, ainda que
ela só venha a ocorrer tempos depois. Ambos sujeitos estão imbuídos
do desejo de produzir sentidos e, neste sentido, são protagonistas do
ato comunicativo. A correlação de forças entre eles pode ser simétrica
ou assimétrica, hierárquica ou igualitária, predominando a cooperação ou o conflito. Identificar os lugares que os sujeitos interlocutores
ocupam hierarquicamente, seus papéis sociais, suas motivações, a
correlação de poder entre eles no ato narrativo é o primeiro passo
que um analista precisa dar ao se propor uma interpretação crítica.
Dissemos acima que a comunicação só se completa quando o
destinatário reconhece as intenções do falante. Isso ocorre também
na comunicação narrativa. Quando alguém escolhe contar, pretende
seduzir, envolver, fazer rir ou chorar, impactar o outro de alguma
forma. O significado, como diz Searle (2001:127-130) é uma forma
de intencionalidade derivada:
A intencionalidade original do pensamento de um falante se
transfere às suas palavras e textos, […] que possuem uma
intencionalidade derivada do pensamento do falante. Elas
não possuem apenas o significado linguístico convencional,
mas também o significado que o falante a elas quis dar. […]
Quando nos comunicamos com alguém, logramos que esse
alguém reconheça nossa intenção de produzir compreensão.
A comunicação é peculiar entre as ações humanas no sentido que
conseguimos produzir o efeito pretendido no ouvinte ao lograr
que ele reconheça a intenção de produzir esse mesmo efeito30.
Toda narração é um ato carregado de intenções: o narrador sempre
realiza algo além de proferir uma história literal: ele não só ‘convida’
30
Tradução livre do autor.
56
�alguém a ouvi-lo, mas também busca seduzir esse alguém, modificar
seu espírito, envolvê-lo e, principalmente, fazê-lo compreender como
o mundo funciona.31 As narrativas são um meio de sensibilizar e mobilizar pessoas, obter consenso, criar o senso comum (Bruner, 1998).
Neste sentido, a construção de uma intriga (fática ou fictícia) é o ato
de organizar a realidade de uma maneira coerente e compreensível
a fim de obter a aquiescência e/ou efeitos junto aos interlocutores.
Assim, o analista pragmático precisa identificar no texto pistas e
traços que indutivamente lhe permitam chegar até as intenções de
um narrador diante de um (ou vários) destinatários.
Já dissemos que o envolvimento entre os sujeitos interlocutores
pode ocorrer de maneira cooperativa ou conflituosa. Em si, a relação
de interlocução é sempre solidária na medida que, no ato comunicativo, um sujeito valida a fala do outro, e vice-versa (independente
da concordância sobre o conteúdo). Na comunicação face a face,
há turnos de fala, permutas flexíveis e incessantes adaptações. Na
comunicação mediada, há pouca ou nenhuma interação, embora
a interlocução sempre esteja presente de maneira mais ou menos
tangível. O mundo da vida costuma ser desigual, há sempre assimetrias sociais e culturais (antagonismos de classe, gênero, profissão,
religião, hierarquia política, institucional ou familiar, etc.) que levam
à diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos. Há sempre
forças antagônicas operando e a relação de confronto é mais usual.
O significado resulta de uma disputa (quase sempre velada), mais
que de cooperação (no sentido do conteúdo em questão).
Torna-se então útil compreender as narrativas como instrumentos
de disputas, estratégias de argumentação, convencimento e cooptação.
Searle (2001:81) explica assim o conceito de intencionalidade: “Meus estados subjetivos me relacionam com o resto do mundo e o nome geral dessa relação é intencionalidade. Esses estados subjetivos incluem crenças e desejos, intenções e percepções,
assim como amores e ódios, temores e esperanças. Intencionalidade, repitamos, é
o termo geral para as diversas formas mediante as quais a mente pode ser dirigida
à – ou referir-se à – objetos e estados de coisas no mundo”. (Livre tradução do autor).
31
57
�Nessa perspetiva, as narrativas passam a serem vistas como instrumentos de naturalização do mundo e de legitimação de papéis. Elas
podem ser instrumentos de imposição e dominação, embora talvez seja
mais usual situações onde elas funcionam como objetos de disputa
e barganha pelas representações do mundo. Como ensina Foucault
(2010), o poder flutua, vai e volta, inverte e reverte, está sempre em
disputa e renegociação. Pessoas, grupos e classes estão sempre em
disputa por narrativas hegemônicas. Há convergência, divergência
e permuta constante por interpretações mais legítimas. Conforme
observa Kerbrat-Orecchioni (2006:74), a interlocução é um processo
dinâmico no qual nada é determinado de uma vez por todas, pois o
tabuleiro se modifica constantemente:
As trocas comunicativas são o lugar de batalhas permanentes pela alta posição (batalhas mais ou menos discretas ou
alardeadas, corteses ou brutais), quer se trate de trocas institucionalmente desiguais, nas quais o jogo dos taxemas pode
infletir, e até mesmo inverter (pelo menos provisoriamente)
a relação de lugares inicial; ou de trocas, em princípio iguais,
nas quais sua ação pode constituir uma relação de dominação
a priori inexistente.
A disputa por narrativas mais ‘verdadeiras’ e mais ‘naturais’ é a
força que move os sujeitos narradores e destinatários no mundo da
vida. Que razão motiva alguém a organizar a realidade narrativamente? O que pretende alguém ao contar uma história? Que efeitos
de sentido pretende produzir no destinatário? Nenhuma narrativa é
ingênua, toda narrativa realiza algo, realiza jogos de linguagem e de
poder: atrair, conquistar, excitar, motivar, cooptar, mobilizar, etc. Por
isso, toda narrativa é argumentativa, pois é dotada de intencionalidade, orienta-se para mudar espíritos, realizar determinado efeito de
sentido. Se alguém escolhe organizar narrativamente seu discurso,
58
�é porque sabe, intuitiva ou racionalmente, que o relato é a melhor
estratégia para realizar suas intenções comunicativas. Todo narrador
conhece o potencial de sedução e envolvimento que a narrativa detém. Narrativas são dispositivos argumentativos, representam o uso
consciente ou inconsciente para criar uma cooperação induzida. O
ato de argumentar e orientar o discurso no sentido de determinadas
conclusões constitui o ato linguístico fundamental, pois a todo e
qualquer discurso subjaz uma ideologia (Kock, 2002). A argumentação
constitui a atividade estruturante de qualquer discurso, e particularmente das narrativas. É através da análise pragmática e retórica que
se conhecerá o jogo de poder e as ideologias, dos quais a narrativa
é uma parte tangível. Como nenhum ato narrativo se reproduz duas
vezes, resta ao analista identificar no texto os traços e pistas que
revelem as intenções comunicativas e sua realização (ou não). Isso
torna a teoria narrativa uma teoria da argumentação, e sua interpretação, uma análise da retórica argumentativa que desvelará os ardis
e artimanhas argumentativos. Os jogos de poder, enfim.
Contexto e dêiticos da situação comunicativa
A segunda contribuição relevante da abordagem pragmática para
o projeto de uma narratologia crítica é a incorporação do contexto
aos procedimentos de análise. É a incorporação de determinantes
contextuais que dá à análise um caráter crítico e a difere de outras
metodologias. Os autores acima citados enfatizam a importância que
o contexto e as circunstâncias da situação de comunicação (os fatores
extralinguísticos) têm no processo de construção das representações
sociais. Cada ato de fala narrativo ocorre em um ambiente psicossocial específico, que sempre contingencia tal ato.
Argumentando que a hermenêutica só se torna relevante devido à múltipla significação dos textos, e que o intérprete precisa ter
59
�sensibilidade ao contexto, Ricoeur (1983:19) observa: “A sensibilidade
ao contexto é o complemento necessário, e a contrapartida inelutável
da polissemia”. O manejo do contexto, prossegue ele, põe em jogo o
discernimento da permuta concreta de mensagens entre interlocutores
precisos, atividade propriamente dita da interpretação: “reconhecer qual
a mensagem relativamente unívoca o locutor construiu apoiado na base
polissêmica”. Identificar essa intenção de unicidade na recepção das
mensagens é “o primeiro e mais elementar trabalho da interpretação”.
Gostaria de me deter sobre os fatores de contingenciamento que
atuam de maneira decisiva, em maior ou menor grau, sobre a configuração das histórias. A partir de uma breve revisão da literatura,
farei ao final uma sugestão para a incorporação desses fatores aos
procedimentos de análise através da consideração dos ciclos dêiticos. O contexto é tão importante para a passagem do significado
da sentença ao significado da enunciação que o filósofo Max Black
propôs certa vez que a nascente disciplina se chamasse contextics
a fim de dar conta de todos os aspectos do contexto relevantes
para a linguagem. (Dascal, 2007:561). A questão metodológica da
incorporação do contexto na análise da narrativa não é entretanto
um problema fácil. É preciso primeiro delimitar o quê é o contexto,
seus limites, e qual a sua relevância para cada ato de fala. Isso abre
um amplo leque de possíveis fatores pertinentes. O que é ou não é
relevante para os participantes em cada ato discursivo? Até onde se
expande o entorno que intervém no processo comunicativo? Qual é
a força relativa de cada um dos fatores?
32
Mais complicado ainda é
Não se trata aqui de uma questão de variáveis dependentes ou independentes, como
certa ciência social positivista professa. A medida exata da interferência de cada fator do
contexto sobre a coconstrução compartilhada das representações sociais é uma questão
cognitiva que dificilmente poderá ser delimitada com precisão, pois o reconhecimento
recíproco dos parceiros do ato interlocutivo se processa através de sucessivas hipóteses-testes: em uma situação concreta o que o locutor faz é avançar uma hipótese para seu
interlocutor esperando que ele interprete suas motivações. Não faltam, entretanto, inúmeras situações de mal-entendidos. No entanto, algum tipo de interferência do contexto
precisa ser assumida pelo analista no momento da interpretação. Quanto mais seguro
e maior domínio ele retiver do contexto, mais convincente será a sua interpretação.
32
60
�incorporar as relevâncias contextuais nos próprios procedimentos
de análise, como veremos.
Para tornar a análise definitivamente crítica, sugiro observar os
fatores extralinguísticos como instrumentos de um jogo de poder
que se manifesta nos discursos narrativos de maneira argumentativa,
conforme observei acima. Penso que uma correlação de forças proveniente do ambiente psicossocial está sempre condicionando cada ato
narrativo, mesmo aqueles atos aparentemente despretensiosos, como
a mãe que conta uma singela história de fadas ao seu filho pequeno
ao anoitecer. Ao contar, a mãe não é totalmente despretensiosa: ela
tem a intenção de acalmar e ninar sua cria. Há uma intencionalidade
implícita no ato de contar. A narrativa da mãe realiza um ato performativo ao embalar a criança. O relato dela é um texto, mas é também
uma atividade social que existe em par com outras formas semelhantes, e com elas se interrelaciona, conforme observa (Eagleton, 2006).
Assim, não há ato de fala que não seja argumentativo, nem ato de
fala que não carregue alguma carga ideológica. Uma reciprocidade
de forças, de encantamento, empatia ou mútua compulsão, próprias
de cada ação humana, move e condiciona sempre a configuração de
qualquer narrativa. O relato é o resultado dessa recíproca volição.
Embora a vontade de sentido não signifique sempre afinidade, como
observei acima. Haverá divergência sempre que houver assimetria
psicossocial.
Metodologicamente, como delimitar as forças que movem os atores e condicionam cada ato de fala? A resposta a essa pergunta não
é fácil. Há na literatura variadas sugestões sobre a extensão do
entorno a considerar. A maioria dos autores refere-se à identidade
dos sujeitos interlocutores, ao conhecimento compartido por eles,
à situação da comunicação (lugar e tempo), e suas circunstâncias
sociais. Citando Corseriu (1967), Vidal (2002:30) enumera seis componentes não-linguísticos do contexto que, segundo ela, influem
decisivamente: 1) contexto físico (coisas que estão à vista); 2) contexto
61
�empírico (o estado das coisas objetivas em um momento determinado); 3) contexto natural (totalidade de contextos empíricos possíveis); 4) contexto prático (a conjuntura particular objetiva e subjetiva
onde ocorre a fala); 5) contexto histórico (circunstâncias históricas
conhecidas pelos interlocutores); 6) contexto cultural (a tradição
cultural da comunidade dos interlocutores). Segundo Vidal, só o
primeiro seria um fator externo objetivamente descritível, os demais
seriam componentes relacionais que geram conceitualizações subjetivas. Esses componentes são sugestivos ao circunscreverem limites.
No entanto, parecem vagos, pouco claros, e sobrepostos.
Vidal oferece uma contribuição própria ao discorrer sobre a ‘informação pragmática’ compartida, segundo ela, o conjunto de conhecimentos, crenças e sentimentos dos interlocutores no momento da
interlocução: uma “internalização da realidade objetiva”. Citando van
Dijk (1989), Vidal diz que a informação pragmática tem um caráter
geral (conhecimento de mundo), situacional (percepções recíprocas
durante a interlocução) e contextual (aquilo que deriva das expressões linguísticas dos discursos imediatamente precedentes), que na
sua teoria da relevância Sperber e Wilson (1986) preferem chamar
de “entorno cognitivo compartido” ao se referir às representações
mentais compartilhadas. Vidal sugere que o termo ‘entorno cognitivo’
parece modesto demais para dar conta de toda a informação pragmática que se comparte, porque considera que as relações sociais
influem pelo simples fato de ambos interlocutores fazerem parte de
uma mesma comunidade social.
Dascal (2006), por sua vez, afirma que todos os textos são opacos e necessitam do contexto para serem interpretados. A função
do contexto, diz ele, é fornecer pistas para a geração de hipóteses
interpretativas, cuja validade deve ser interpretada à luz da informação referencial. Em princípio, continua ele, qualquer informação
contextual pode ser relevante, e neste sentido, é impossível restringir
o contexto a determinado conjunto de dados. Ele sugere dois tipos
62
�gerais de contexto, um metalinguístico (gênero, normas, situação
comunicativa, etc.) e outro extralinguístico (universo de referência,
conhecimento de fundo, crenças compartilhadas, hábitos e idiossincrasias do falante, etc). E apresenta um ilustrativo gráfico de pistas
interpretativas (Dascal, 2006:195-199) que vão das estruturas linguísticas ao conhecimento de mundo compartilhado (cultura, ideologia).
O autor sugere que o analista proceda a partir de pistas (clues) e
dicas (cues). A interpretação das dicas seria um processo dedutivo,
enquanto o das pistas seria indutivo.
Deixais ampliada: a atualização do contexto nos significados
Levinson (2007:65) apresenta uma alternativa instigante sobre a
relação entre a língua e o contexto. Para ele, essa relação revela a
importância da dêixis. É através da dêixis que “as línguas gramatilizam traços do contexto da enunciação”, diz ele. O Dicionário de
Linguística de Jean Dubois (1973:168) define a dêixis de maneira
semelhante ao Dicionário de Retórica de A. Marchese e J. Forradellas
(1998:92). Dêixis, segundo ambos dicionários, seriam as coordenadas
espaço-temporais da enunciação: o sujeito refere o seu enunciado
ao momento da enunciação, aos participantes da comunicação e ao
lugar em que o enunciado se produz. As referências a essa situação
formariam a dêixis, um modo particular de atualização que utilizaria o gesto (dêixis gestual) ou termos da língua chamados dêiticos
verbais. Apresentando uma classificação restrita da dêixis, ambos
dicionários citam U. Weinreich, que propõe quatro influentes fatores
da situação, organizados a partir da pessoa que fala: 1) a origem
do discurso (o eu) e o interlocutor (o tu); 2) o tempo do discurso (o
agora); 3) o lugar (aqui, aí); 4) identidades substitutas na situação.
Para Levinson (2007:74), autor do qual tomaremos emprestado
ideias para elaborar a proposta aqui desenvolvida, a dêixis diz respeito
63
�às maneiras pelas quais a linguagem gramaticaliza traços do contexto
no ato de fala. Decorre daí que a interpretação precisa levar em conta
o contexto dêitico da enunciação, pois só as sentenças consideradas
em contextos específicos expressam proposições definidas: “é apenas o contexto de uso que nos diz de que maneira compreender (as
sentenças)”. Em geral, a dêixis é organizada de maneira cêntrica a
partir do falante, ancorada em pontos específicos do acontecimento
comunicativo, criando os centros dêiticos: a pessoa central é quase
sempre o falante, o tempo central é o tempo em que o falante produz a enunciação, o lugar central é a localização do falante, assim
como o centro social é a posição social e hierárquica do falante, à
qual a posição dos destinatários é relativa. Irradiando-se do falante,
completa Levinson, há vários círculos concêntricos que distinguem
diferentes zonas de proximidades espacial e temporal. A partir dele,
linearmente ordenada, parte a linha que estabelece os acontecimentos do passado e do futuro, etc. Apesar do autor realçar a pessoa do
falante como referência de partida, a meu ver os círculos dêiticos
devem ser considerados em termos do relacionamento dele com o
seu interlocutor, conforme aqui farei.
A ideia de círculos dêiticos concêntricos parece-me capaz de representar de maneira sistemática as influências do contexto sobre os
atos de fala. Essas influências estão sintetizadas na Figura 1. Partindo
da localização espaço-temporal do falante e seu interlocutor, de onde
irradiam os dêiticos, e das informações pragmáticas, os círculos
concêntricos se expandiriam desde as condicionantes situacionais
mais empíricas (o aqui e agora do ato) até as mais sutis, de caráter
mais subjetivo (culturais, políticas, ideológicas), situadas nos ciclos
mais externos.
64
�Figura 1. Dêiticos Concêntricos dos Atos de Fala
1) Identidade dos sujeitos participantes, o lugar social que ocupam, seus interesses e
intenções comunicativas; 2) Coações institucionais, normas profissionais, etc.; 3) graus
de hierarquias entre os sujeitos da enunciação e suas condicionantes na interlocução;
5) Espaço físico e sua influência na enunciação; 6) Percepções recíprocas por parte dos
participantes dos fatores anteriores; 7) Circunstâncias históricas de ocorrência do ato;
8) Circunstâncias culturais, crenças, mitologias, ideologias, conhecimento de mundo
compartido; 9) Memória coletiva de curto e longo prazos; 10) Percepções recíprocas
de todo este conjunto de fatores.
65
�Não será possível aqui explorar com minúcias as sugestões e problemas que surgem da proposta apresentada na Figura 1. Ressalto,
porém, que a figura não pretende enquadrar relações de natureza
intersubjetiva. A tentativa de colocá-las em uma figura gráfica é apenas ilustrativa. Penso, no entanto, que a imagem de círculos dêiticos
pode fornecer pistas sugestivas para as hipóteses interpretativas,
tornando a interpretação menos míope. Os fatores indicados nos
círculos da figura não possuem fronteiras precisas nem devem ser
tomados como ‘variáveis antecedentes’ objetivas, como já se disse.
Eles se superpõem, se influenciam mutuamente e funcionam como
uma cadeia de indicadores psicossociais intersubjetivos. Não obstante,
ao visualizar os níveis dêiticos, o analista poderá estabelecer hipóteses consistentes, a partir das quais produzir uma interpretação mais
sistemática e orientada. Os níveis dêiticos são apenas indicadores
a partir dos quais as pistas e traços argumentativos da linguagem
narrativa poderão ser interpretados de maneira mais segura. Mas
atenção, os fatores que estão no centro ou periferia do modelo apresentado não possuem per se maior ou menor força indutora que os
demais. A força determinante de cada nível do contexto dependerá
da situação concreta do ato comunicativo, assim como da pergunta
de pesquisa de cada projeto.
Parafraseando mais uma vez P. Ricoeur, o que deve ser interpretado em um texto narrativo é a sua proposição de mundo. Não
há – observa ele – uma intenção oculta a ser procurada detrás do
texto, mas um mundo a ser manifestado diante dele. Por isso, a
interpretação precisa ser altiva e ideologicamente crítica, pois o
gesto interpretativo é uma ‘oposição’ às distorções da comunicação
humana. Por outro lado, o discurso é um evento que remete aos seu
interlocutores, vincula-se às pessoas que falam e ouvem, e a algo ao
qual ele se refere (um mundo que pretende descrever, exprimir ou
representar). Neste sentido, completa Ricoeur (1983:46), “o evento
é a vinda à linguagem de um mundo mediante o discurso”. O que
66
�importa, pois, é a seletividade dos contextos na determinação do
valor das palavras e frases a respeito de um determinado evento,
pronunciadas por um locutor preciso frente a um ouvinte em uma
situação particular.
Retomo, para concluir, às perguntas que originaram as reflexões
deste ensaio: como incorporar as determinantes ambientais e históricas
na análise da narrativa tornando-a uma análise crítica por natureza?
Respondo de maneira objetiva: observando previamente quais motivações e propósitos movem os sujeitos interlocutores a se envolverem em
um ato de interlocução. Perguntando previamente: que ímpeto move
um narrador a configurar certa proposição de mundo na forma de uma
história, em determinada circunstância? Por outro lado, porque determinado indivíduo ou segmento social se presta ao papel de audiência?
Que interesses têm cada um dos participantes do ato comunicativo
ao se engajar no esforço de coconstruir uma representação narrativa
do mundo? Qual é o protagonismo discursivo de cada um deles neste
ato? Que circunstâncias cercam esse protagonismo? Há antagonismos?
Qual é a correlação de poder entre os protagonistas?
Como observei no início deste ensaio, a textura geral da experiência é hoje transmidiática: entramos e saímos seguidamente no
espaço das mídias, de onde retiramos extratos de significação com
os quais configuramos as nossas representações de mundo. Nesse
complexo contexto, a performance dos agentes interlocutores tornou-se mais proeminente ainda, e a incorporação desse protagonismo
à análise, ainda mais relevante. Neste rumo, trouxemos aqui a sugestão de uma teoria ampliada de círculos dêiticos que, a meu ver,
fornece subsídios relevantes para a análise das narrativas como atos
de fala dinâmicos e circunstancializados. Se a análise imanentista
já se revelara obsoleta pelo desprezo ao protagonismo dos agentes,
ela revela-se hoje ainda mais inapropriada frente ao dinamismo das
narrativas em permanente processo de configuração e refiguração
no interior da cultura da convergência.
67
�Seguindo este raciocínio, propus neste ensaio encarar a narração
como um ato de fala comunicativo, e utilizar o modelo dos círculos
dêiticos concêntricos para tornar mais sistemático o processo de
identificação dos traços e vestígios do contexto no texto, modelo
capaz de revelar o jogo de forças de uma ação interlocutiva concreta.
Nada garante uma interpretação segura, mas creio que a sugestão de
se trabalhar com os ciclos concêntricos dêiticos oferece a alternativa
de o analista partir de um lugar mais confortável e confiável para
fazer as suas induções. As estratégias argumentativas, os subentendidos e os efeitos de sentido tornarão mais evidentes a proposição de
mundo que o texto traz, e proporcionarão uma análise mais forte: a
interpretação narrativa torna-se ipso facto uma crítica da sociedade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUSTIN, J. H. (1962). How to do Things with Words: The William James Lectures
delivered at Harvard University, Oxford: Clarendon Press.
BAKHTIN, M. (2003). Estética da criação verbal. S. Paulo: Martins Fontes.
BERLIN, I. (1997). The proper study of mankind. London: John Murray.
CORSERIU, E. (1967). “Determinación y entorno”. in Teoria del lenguaje y linguística
general. Gredos: Madrid.
DASCAL, M. (2006). Interpretação e compreensão. S. Leopoldo: Ed. Unisinos.
DIJK, T. A. van (2000). Cognição, discurso e interação. S. Paulo: Contexto.
DIJK, T. A. van (1987). In La pragmática de la comunicación literária, J. A. Mayoral,
Arco, Madrid.
DUBOIS, J. et al. (2004). Dicionário de linguística. S. Paulo: Cultrix.
EAGLETON, T. (2002). Marxism and literary criticism. London: Routledge.
EAGLETON, T. (2006). Criticism & Ideology. London: Verso.
FIORIN, J. L. (2005). As astúcias da enunciação. S. Paulo: Ática.
FRYE, N. (1971). The critical path. Indiana University Press, Bloomington: Midland
Books.
68
�GRICE, H. P. (1957). “Meaning”. in The Philosophical Review. Vol. 66, No. 3. ( Jul.,
1957), pp. 377-388.
GRICE, H P. (1969). “Utterer’s meaning and intentions”. in Philosophical Review. Vol.
78, pp. 147-177.
LEVINSON, S. C. (2007). Pragmática. S. Paulo: Martins Fontes.
JENKINS, H. (2012). Cultura da convergência. S. Paulo: Aleph.
KOCK, I. V. (2011). Argumentação e linguagem. S. Paulo: Cortez.
MARCHESE, A. e J. Forradellas (1998). Diccionário de retórica, crítica y terminologia
literária. Barcelona: Ariel.
MOTTA, L. G. (2013). Análise crítica da narrativa. Brasília: Ed. UnB.
MOTTA, L. G. (2006). Notícias do fantástico. S. Leopoldo: Ed. Unisinos.
REYES, G. (1994). La pragmática lingüística. Barcelona: Montesinos.
RICOEUR, P. (2010). Tempo e narrativa 3. S. Paulo: Martins Fontes.
RICOEUR, P. (1995). Tempo e narrativa 2. Campinas: Papirus.
RICOEUR, P. (1994). Tempo e narrativa 1. Campinas: Papirus.
RICOEUR, P. (1983). Interpretação e ideologias, Francisco Alves, Rio de Janeiro.
SCOLARI, C. A. (2009). “Transmedia storytelling: implicit consumers, narrative worlds
and branding contemporary media productions”. in International Journal of
Communication 3, pp. 586-606.
SEARLE, J. R. (2001). Mente, lenguaje y sociedad. Alianza, Madrid.
SEARLE, J. R. (2002). Intencionalidade. S. Paulo: Martins Fontes.
SEARLE, J. R. (2002a). Expressão e significado. S. Paulo: Martins Fontes.
SILVERSTONE, R. (1999). Why study the media? London: Sage.
SPERBER, D. e WILSON, D. (1986). La relevância. Madrid: Visor.
VIDAL, M. V. E. (2002). Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel.
Villanueva, L. M. V. (2000). La búsqueda del significado. Madrid: Tecnos.
69
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�CONSIDERAÇÕES SOBRE A MÁQUINA NARRATIVA
Maria Augusta Babo
FCSH – Universidade Nova de Lisboa
1. Uma introdução
Porque falamos de narrativa? Porque contamos histórias? Porque
designamos a maior parte dos processos de significação como narrativos?
A narrativa é de tal maneira abrangente dos regimes semióticos,
dos fazeres discursivos, das práticas significantes que ela se tornou
um termo de extensão máxima e de compreensão mínima, pelo menos na sua utilização pelo discurso do senso comum. Para além de
se verificar uma distinção entre narrativa entendida no seu sentido
mais restrito e outras formas de discursivização como o diálogo, a
argumentação, a descrição, entre outras, dir-se-ia, num primeiro momento, que a narrativa é uma máquina de textualização do mundo
e da experiência. É desta afirmação que partimos e à qual iremos
chegar tentando demonstrar esse estatuto da narrativa e o seu funcionamento. Mais precisamente, a narrativa tem uma relação estreita
com o tempo. Ela organiza, configura a temporalidade do e no humano. A narrativa é, vista por este prisma, a máquina semiótica por
excelência, não dependendo do regime semiótico em que elabora,
que pode ser imagético, ou outro. Ela opera a um nível macro e não
frásico, por um lado, e é uma estruturação subjacente à manifestação
71
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_3
�discursiva, por outro. Assim, a narrativa romanesca não difere da
narrativa fílmica ou da narrativa em BD já que os mecanismos semióticos que a compõem são os mesmos. Tratar-se-á, em qualquer
dos casos, de organizar a temporalidade inerente à organização das
ações entre elas.
Considerada por alguns especialistas como uma estrutura inata,
a elaboração narrativa está patente no próprio desenvolvimento do
sujeito falante que, quase simultaneamente à aquisição da linguagem,
tende a narrativizar a experiência da forma mais elementar e simples;
um primeiro grau de narrativização que articula o relato através da
preposição – depois, e depois, e depois… – numa sucessão infinita.
Se ainda não se está perante uma organização complexa da temporalidade que a narrativa, nas suas formas mais elaboradas, fornece,
deparamo-nos com um primeiríssimo movimento, espontâneo, de
ordenação temporal, produtor de efeitos de sentido que extravasam
a própria sucessividade, como se verá adiante. Narrar é humano e
será talvez a narração (o relato ou o discurso rapporté), e não tanto a faculdade de linguagem, aquilo que distingue o simbólico, no
ser humano, relativamente a outros códigos existentes em várias
espécies animais. É que, relativamente ao discurso no presente e
em presença, caso do diálogo, quer no relato simples – o discours
rapporté – quer na narrativa, uma organização mais complexa e elaborada, existe um diferimento do dito e, sobretudo, uma suspensão
do regime constativo, performativo, ou, como o designou Deleuze,
do regime de palavra de ordem, existentes no primeiro caso. Quer
isto dizer que passamos dos regimes discursivos da transmissão de
informação, da criação de efeitos imediatos, da ação à sua representação; não à representação direta do mundo, não é disso que se trata
em nenhuma narrativa, mas a um diferimento da ação. Narrar é já
contar um discurso, uma voz, uma ordem, um ato de fala. Narrar um
ato de fala é retirar-lhe a sua atualidade, a sua performatividade, a
sua capacidade de intervir diretamente na situação de comunicação.
72
�Narrar é diferir, distanciar, tornar indireto o que no discurso é direto. Essa passagem, essa operação gramatical, em que consiste a
própria gramatização da experiência, é aquela mesma que executa
todo o sujeito falante, como o entendeu Benveniste, quando passa
do regime atual do discurso direto – evento, fala, ordem, ação em
palavras – para a sua narração, indireta, despessoalizada, desfazada da situação de discurso e, portanto, não atuante nela: diferida.
A narração por oposição ao discurso, para o linguista francês, dá-se
exatamente por uma modificação do campo da deixis, pela passagem
do sujeito da enunciação – eu – ao sujeito do enunciado – ele/ela –
que acarreta o deslocamento do tempo – agora – e do espaço – aqui.
Deslocamento do sujeito que passa do seu estatuto de pessoa-subjetiva a um estatuto de não-pessoa (Benveniste, 1966: 231). Narrar é
distanciar-se do tempo e do espaço, do aqui e do agora, deslocando,
nesse distanciamento, o sujeito para fora de si; alter-ando, objetualizando o sujeito. Narrar é inscrever o sujeito como objeto (da ação).
Daí que uma diferença intransponível se estabeleça entre discurso
e narrativa. A sua incoincidência advém deste deslocamento espacio-temporal, de um diferimento que colocará a narrativa, sempre,
fora do tempo da história e o narrador com ela, num mundo onde já
não pode intervir. A narrativa nega o presente, mesmo quando ela
aí se coloca como estratégia discursiva. Será sempre, de cada vez,
um presente embraiado, quer isto dizer, uma enunciação enunciada,
como lhe chama Greimas.
Ora, este distanciamento que a narrativa como máquina cria relativamente ao real, ao vivido, à experiência, não é outra coisa senão
a própria condição de todo o texto ao operar uma semiotização do
mundo. Na verdade, textualizar o mundo, textualizar a experiência,
a ordem do vivido, é criar um investimento significante por sobre os
fenómenos; é aplicar-lhes uma máquina de semiotização, quer dizer,
é constituir um todo de sentido através da articulação de enunciados
que se tornam, enquanto totalidade, autónomos e, nessa medida,
73
�diferidos. A textualização liberta-se da sua ancoragem ao contexto.
Resiste ao contexto, desliga-se, por essa capacidade de mîse-en-distance, para funcionar como um todo de sentido. Um olhar sobre o
mundo que cria mundo. A narrativa não será senão a máquina mais
perfeita, mais acabada de textualização do real.
Máquina do tempo, a narrativa assenta num complexo mecanismo
de organização da temporalidade. Tempo e narrativa estão, pois,
indissoluvelmente ligados, sendo a própria máquina narrativa o dispositivo por excelência de conferição de uma organização ao tempo
vivido, ao tempo cósmico, ao tempo convencional, até.
A remissão da temporalidade para a ordem da linguagem é levada
a cabo por Agostinho, naquilo que ficou conhecido pela conceção
de um tempo interior. Na verdade, essa interiorização do tempo só é
possível dado que a própria linguagem o organiza para o sujeito do
discurso. Assim, Agostinho ao colocar-se a questão ontológica sobre
a temporalidade (o que é o tempo? Questão aparentemente ingénua
na sua formulação – 2001: 299) dá-se conta que revém à linguagem
a função de o organizar para o sujeito, ou, dito de outro modo, que
o sujeito advém na linguagem porque é esta que o coloca: o sujeito
é na linguagem. E o presente é, por excelência, o tempo que opera
essa coincidência, essa fusão entre a linguagem e o sujeito. Embora,
e nisso reside a própria aporia da temporalidade, o presente seja,
de cada vez, evanescente.
Agostinho formula assim as três dimensões do presente na sua
projeção interior: «o espírito espera [expectat] e está atento [adtendit]
(este verbo lembra a intentio praesens) e ele lembra-se [meminit]»
(2001: 314). O tempo é assim uma afeção, tensiva ou distendida,
conforme se mede a sua extensão ou a sua intenção e estas, no interior da própria linguagem. Há, pois, três operações do espírito e
são elas que medem o tempo: a expetativa, a (a)tenção e a memória.
A narração implica distensão e projeta-se na e pela memória: são as
confissões que se distendem por todo o seu passado que constituem
74
�o próprio exercício de narrativização do vivido, assim legado à humanidade inaugurando uma configuração narrativa que criará mesmo
um género literário.
Ao entender a autobiografia como máquina narrativa pretende-se salientar a existência de um dispositivo narrativo que condensa
mecanismos vários para constituir um todo homogéneo centrado no
próprio. Essa máquina narrativa usa processos ficcionais, isto é, todo
um conjunto de procedimentos figurativos da ordem do imaginário,
mas inseridos no quadro de uma articulação narrativa. Na verdade, a
autobiografia, considerada nesta perspetiva, participa do testemunho
de vida mas também da ficção, no sentido de elaboração imaginária,
da verdade do sujeito emergindo em configurações variadas, imagens
manipuladas, deturpadas até, possivelmente. É, porém, a narrativa
que subsume toda essa heterogeneidade e lhe dá uma configuração
temporal e lhe confere sentido.
2. A organização narrativa
O termo “narrativa” está de tal forma vulgarizado que ele ocorre
como sinónimo de discurso, como foi referido. No entanto, a narrativa é uma máquina bem precisa que integra mecanismos próprios e
desempenha funções determinadas na conferição de sentido. Desde
já se afirma que a máquina narrativa é a mais poderosa máquina de
conferição de sentido ao tempo e, consequentemente, ao acontecimento. Entender como ela funciona será importante para determinar
a sua especificidade e para a desinserir do discurso em geral, de
qualquer ato discursivo, como geralmente é empregada.
A narrativa é, como foi afirmado, um distanciamento no tempo. Pôr
à distância, organizar na distância do tempo, na ausência do sujeito;
fazer o mundo vir à ordem da linguagem, semiotizar ou gramatizar
o mundo, como se poderá formular nas diferentes perspetivas de
75
�análise. É, portanto, e antes de mais, um dispositivo de diferimento,
não coincidente com “a presente instância do discurso”, como designou Benveniste o ato discursivo. Narrativizar será uma operação
semiótica que, ao mesmo tempo que distancia o sujeito do real vivido,
da res, lhe atribui sentido e, portanto, uma legibilidade própria e
comum. É assim que B. Lamizet entende a semiotização do acontecimento, por exemplo (2006).
Então, narrar começa por ser articular ações umas com as outras;
dar-lhes uma sequência, dispô-las por ordem de ocorrência. A este
primeiro nível corresponde a compulsão intuitiva à narração que
todo o sujeito falante, desde a sua aprendizagem e aquisição de
competência, elabora, de uma forma muito simples, a que já aludimos: a organização cronológica das ocorrências. A articulação de
um antes e um depois é uma primeira operação de narrativização
dos acontecimentos, das pequenas situações do quotidiano de que
o sujeito faz a experiência de apropriação. Ela constitui a própria
estruturação dos acontecimentos nas suas posições relativas, através
da ordenação temporal. O tempo que flui ininterruptamente, segmenta-se em ações e é ordenado cronologicamente. Inerente a esta
primeira operação está já a capacidade de segmentação, de tornar
descontínuo o que foi vivido como contínuo e de lhe conferir uma
dimensão significante, ao atribuir sujeitos às ações, ao nomeá-las
como motores da narrativa, ao atribuir-lhes consequências ou objetos
sobre que recaem. Designa-se por sequencialidade esta ordenação do
Khronos. E, ao contrário do que precipitadamente se considera, não
constitui a única operação nem sequer a mais importante da máquina narrativa. Pode definir-se esta operação como uma operação de
relato que, compondo a complexa máquina de narrar não a esgota
por certo. U. Eco deu como exemplo aos seus alunos um pequeno
relato da sua chegada à Universidade de Bolonha para dar aulas.
Perante a sequencialidade das ações de rotina por ele contadas, os
estudantes, atónitos, perguntaram-se qual a razão de ser de tal relato.
76
�É que, na verdade, nada nele justificava a narrativa. O que falta a um
relato para ser narrativa, portanto? Diríamos, com Umberto Eco, que
falta um acontecimento marcante. É o acontecimento marcante que
fará de um relato uma narrativa, isto é, que permite uma mudança
de registo com implicações estruturantes.
A narrativa envolve então a transformação de predicados durante
um processo. A narrativa é mesmo esse processo de transformação
que conduz de um antes a um depois, tal como por exemplo a gramática sémio-narrativa da Escola de Paris a determina. De uma forma
genérica, a narrativa envolve um fazer transformador de um estado
inicial de disjunção entre Sujeito e Objeto para um estado final de
conjunção. O fazer transformador opera esse processo, quer no sentido positivo, da conjunção, quer no sentido negativo ou disfórico, da
disjunção. Mas, em qualquer dos casos, é a transformação a grande
viragem que executa o próprio processo narrativo, invertendo os
conteúdos.
Há uma organização lógico-temporal que suporta a textualidade.
A esta organização chamou a Escola de Paris sémio-narativa. A estruturação textual é transfrásica e de ordem semiótica, não linguística. Os modelos narratológicos mais alargados vieram explicar em
que consiste a coesão e a coerência textuais em termos estruturais.
Só esta estruturação interna permite colocar o sentido como um
todo que extravasa a soma dos enunciados. A narratividade, de um
lado, e a configuração narrativa, do outro, permitem o tratamento
da organização textual, conferindo, no entanto, à dimensão temporal uma função e estatuto distintos segundo a perspetiva adotada.
Por oposição à configuração narrativa que elabora a temporalidade
intrínseca ao mythos, a estrutura narrativa é de natureza lógica e,
por conseguinte, acrónica. Quer dizer que a semiótica está interessada em analisar a constituição do sentido, exercendo uma espécie
de ocultação do cultural, da tradição, pelo estrutural, pelo lógico,
enquanto a hermenêutica através da inteligência narrativa procura
77
�definir a configuração da experiência e da temporalidade a ela inerente pela narrativa.
Sejam quais forem as abordagens metodológicas que a narrativa
convoca, inúmeros modelos narratológicos que a produção estruturalista e pós-estruturalista levou a cabo, há algo que atravessa todas
as perspetivas narratológicas e ainda a hermenêutica narrativa: a
existência de um conflito, de um desequilíbrio, de uma suspensão,
de um confronto, de uma polémica – polemos – quer ela seja, segundo
Greimas e Courtés (1986), cognitiva, pragmática ou tímica (relativa
aos humores). Para Greimas a narrativa é, por excelência, o lugar
da polémica e do conflito: o lugar de uma “concordância discordante”, na expressão de Paul Ricoeur que remete para uma dialética
da narrativa. Sem essa reviravolta no curso das ocorrências não há
verdadeiramente narrativa. É esse inesperado que “modifica o curso
da história” num sentido imprevisível, mas que, para se constituir
como componente da narrativa, tornar-se “um fator de concordância”
(Gilbert, 2001: 60). Acrescente-se, obviamente, e da sua resolução.
Enfim, seja o que for que constitua o nó-da-intriga será da ordem
do acontecimento. Do acontecimento como rutura; do acontecimento
como acontecimento disruptivo, sem o qual não se vê como pode
haver narrativa, em que é que a máquina narrativa assenta para o ser.
É de realçar que a narrativa exige uma unidade temática, unidade
essa que será mais da ordem da unidade das ações, assumidas por
um só sujeito. Há um denominador comum entre drama e narrativa,
a unidade de ação. A Poética de Aristóteles coloca bem a especificidade do que aqui se joga, quer no drama, quer na narrativa.
A narrativa tem a capacidade forte de tecer-se à volta de uma ação
central, de estabelecer um enredo, por exemplo, aquilo que na Poética
é referido como o mythos e que Ricoeur traduz por nó-da-intriga.
Tomando o termo de empréstimo a Platão (Ricoeur, 1983: 62), o
mythos em Aristóteles reúne simultaneamente a composição dramática e a composição diegética. A tragédia é representação de ação, é
78
�uma construção, encontra-se intrinsecamente ligada à fabricação do
mythos, a ação encarada como um todo orgânico. A representação
tem como finalidade, na tragédia, a instauração de uma ordem de
causalidade na ação, um ordenamento do mythos – o nó da intriga
– que permite falar já de uma operação de universalização por sobre o acontecimento singular. A atividade mimética no seu sentido
original, mimesis, é, pois, uma operação de criação de um muthos
universal. O fazer representativo afasta-se tanto mais da cópia, do
representado, quanto a representação implica um redimensionamento da ação e uma re-configuração do particular no geral. É esse o
sentido do trágico aristotélico. Quer isto dizer que a representação
como atividade poiética confere uma coerência orgânica à sucessão
puramente temporal das ações que permite fazer sair estas, enquanto
organizadas, da pura contingência do acontecimento real para as
inscrever numa ordenação geral, numa verdade que é sobretudo um
ordenamento segundo o necessário. A diegese, por seu turno, constitui esse diferimento da narração que, em vez de nos aparecer de
frente, no momento da sua representação, nos é contada, em diferido,
por um narrador, uma instância que elabora e medeia a ação, que
possui um ponto de vista, que se inscreve, no plano mais apagado
de todos, como uma instância ausente. É, propriamente, a história
(Reis e Lopes, 1991). O nó-da-intriga tudo convoca e tudo emaranha;
a narrativa, por seu lado, deslindará este emaranhado de ações que
se oferecem como resistência ao sentido, enigma.
Se, portanto, concebermos como estruturante da narrativa o acontecimento disruptivo, se o considerarmos o punctum da narrativa,
então deparamo-nos com a verdadeira aporia da narrativa tal como
Ricoeur a entende. As narrativas canónicas – e há que distinguir
entre a narrativa como texto concreto, preciso, nomeável (o conto,
a novela, o romance) e a narrativa como máquina ou gramática de
texto – apresentam, todas elas: um princípio ou situação inicial,
uma transformação, núcleo, ou nó da intriga e uma situação final ou
79
�desenlace. Ricoeur define o nó da intriga como essa organização de
acontecimentos que transformam o relato em história e constituem a
narrativa. Este nó da intriga é a própria articulação lógica dos acontecimentos que, ao mesmo tempo, destroem a situação inicial, que
a invertem, a desestabilizam. Ora, o que acontece na estruturação
narrativa, o que a máquina narrativa vem conferir à sequencialidade
temporal de acontecimentos ligados por uma temática, assumidos
pelos actantes, é justamente uma organização poderosa dessas ações
de modo a trazê-las, mesmo se invertidas, a um desenlace. O desenlace é o telos da narrativa e ao mesmo tempo aquilo que enclausura
o nó da intriga resolvendo-o. Ora, o mythos que constitui a narrativa possui uma organização lógica que dá consistência à própria
narrativa, que é, até, a própria finalidade da máquina narrativa.
Essa coerência lógica é subsumida pela causalidade narrativa. Quer
isto dizer que os acontecimentos que se sucedem na manifestação
narrativa estão ligados mais fortemente, do ponto de vista lógico,
por uma articulação causal. Aquilo que na Antiguidade era aforisticamente formulado na célebre máxima: post hoc, ergo propter hoc,
que se traduz, mantendo a concisão latina, por: depois disto, então
por causa disto. A expressão latina dá-nos a dimensão da forte articulação que a máquina narrativa traz ao encadeamento cronológico dos acontecimentos propondo-nos a chave dessa sucessividade.
Se B acontece depois de A então, deveremos concluir que A provocou
B ou que A é a causa de B. Esta transposição da ordem da sequência cronológica para a ordem da lógica causal está de tal maneira
enraizada no senso comum que ela explica logo por si qualquer
acontecimento que surja como irrupção na rotina temporal. Dito de
outro modo ainda, a conferição de uma causa a um acontecimento
(disruptivo) vem trazer-lhe um imediato princípio de explicação e,
portanto, de regularização desse mesmo acontecimento, rebatendo-o
na sua sequencialidade. Essa conferição de causalidade é a própria
ação da máquina narrativa; a máquina narrativa empresta uma lógica
80
�causal à sequência (arbitrária ou contingente) de acontecimentos de
modo a absorver o acontecimento, justamente inexplicável, porque
saindo fora da rotina, da sucessão, de novo à sua explicação. O que a
máquina narrativa opera ao jogar por sobre os acontecimentos, essa
lógica da causalidade, subsumindo-a na sequencialidade temporal, é
precisamente, trazer a exceção à regra, trazer o disruptivo ao causal,
trazer o contingente ao necessário. A tal universalização que elabora
por sobre o acontecimento real para o devolver já como semiotizado.
É nessa semiotização e nesse distanciamento do real que ele ganha
uma “consistência simbólica” (Lamizet, 2006: 280) e é apropriável
então pela comunidade, é universalizável.
Na verdade, esta função primordial da narrativa ultrapassa a
própria lógica causal para vir assumir, na teoria narrativa de Paul
Ricoeur, um estatuto determinante no conceito de configuração narrativa, que constitui a dimensão hermenêutica mais profunda da
própria máquina narrativa como máquina de conferição de sentido
(narrativo) ao acontecimento (disruptivo). A configuração narrativa
é uma avaliação global do fenómeno. Olhada pela perspetiva da
mise-en-intrigue, a configuração narrativa subsume uma oposição,
à primeira vista inconciliável, entre temporalidade, na vertente de
duração, e acontecimento. Uma é organizada, linear e contínua, o
outro disruptivo, fragmentário, descontínuo. Esta aporia dá lugar,
na análise ricoeuriana, à trilogia Temps et Récit (1983, 1984, 1985),
que trabalha a articulação entre acontecimento e temporalidade narrativa nas suas diversas configurações, desde a narrativa de ficção,
passando pela narrativa da história, até à constituição da refiguração
como “um regresso” à experiência, agora do leitor.
É que a configuração narrativa da temporalidade elabora por sobre
a heterogeneidade dos tempos e dos acontecimentos. Para Ricoeur, a
noção de configuração narrativa permite resolver a descontinuidade
inerente ao acontecimento. A força disruptiva do acontecimento vemlhe da sua própria natureza. A mîse-en-intrigue tem, justamente, por
81
�função inverter esse “efeito de contingência” (Ricoeur, 1990: 169) em
“efeito de necessidade ou de probabilidade” que o ato configurador
exerce. É o que afirma Ricoeur desenvolvendo a sua tese: “A inversão do efeito de contingência em efeito de necessário produz-se no
próprio âmago do acontecimento…” (1990: 170).
Note-se, contudo, que a contingência do acontecimento, que faz
dele precisamente acontecimento, e o seu carácter necessário na
narrativa não são da mesma ordem. Esta passagem da contingência
ao necessário dá-se na elaboração après coup, na diegese, isto é, no
próprio ato de contar, de “pôr em intriga”, porque narrar será trazer
um olhar organizado àquilo mesmo que surgiu como disrupção. A
proposta de uma inteligência narrativa ricoeuriana vai no sentido
de conceder à narrativa essa finalidade hermenêutica última que é a
da conferição de sentido ao acontecimento, isto é, uma organização
temporal que, articulando o acontecimento num conjunto de ações,
lhe propõe uma causalidade; lhe devolve um telos, uma finalidade,
um sentido. Apesar das surpresas, das peripécias, das contingências
da história, uma narrativa orienta-se para uma finalidade, tem uma
função teleológica que é assumida pela conclusão e que procede à
clausura textual (narrativa), até porque, na sua estruturação, a narrativa pode ler-se invertida, de trás para frente, mostrando a ligação
intrínseca de cada sequência narrativa ao todo e à sua finalidade.
A narrativa como dispositivo de mediação é, desde logo, conferidora de sentido através da organização de uma temporalidade
que se encontra, a partir de então, ligada, isto é, indissociável. Daí
que o acontecimento, disruptivo em si mesmo, se converta em ação
necessária à prossecução da intriga. O ato configurante, que é, para
todos os efeitos, um ato semiótico, leva a cabo uma compreensão
deste todo articulado pois, à medida que a narrativa se forma e vai
articulando ações, ela também lhes confere um dado ponto de vista,
o do narrador, e até, muitas vezes, uma avaliação. É o que acontece
explicitamente na fábula como género narrativo onde essa avaliação
82
�final nos é dada como “moral da história”. Nessa medida então, a
narrativa extravasa da sua clausura textual para vir conferir uma
compreensão e uma interpretação ao acontecimento agora narrativizado. Na sua expressão mais aberta, a narrativa comporta um juízo
de natureza reflexiva. Ora, justamente, a noção de configuração
aplicada à narrativa vai Ricoeur buscá-la a L. O. Mink:
ao compreendermos em conjunto os acontecimentos em atos
configurativos, a operação narrativa tem o carácter de juízo
e mais precisamente de juízo reflexivo no sentido kantiano
do termo: contar e seguir uma história é já ‘refletir sobre’
os acontecimentos com vista a englobá-los em totalidades
sucessivas (Ricoeur, 1980: 5).
A narrativa será, portanto, antes mesmo ou para além do seu
registo ficcional, um ato judicativo. O narrado incorpora um juízo
que, ao mesmo tempo, se distancia do mundo e o interpreta, avalia
esse mundo que ele próprio fabrica no simbólico. E esta operação
advém de uma especificidade muito própria à narrativa, a de facultar
a passagem do dizer ao contar. Se o ato discursivo se dá no corpo
do sujeito, pela fala, pela presença, a narrativa como escrita opera
já uma cesura. Digamos, com Bernard Lamizet: “Enquanto fazemos
corpo com a fala, enquanto dizemos através da nossa voz ou ouvimos pelas nossas orelhas (…), escrever o acontecimento ou lê-lo é
encontrar-se confrontado com a materialidade de um significante que
nos é exterior, o da escrita” (Lamizet, 2006: 121) A narrativa é esse
exterior objectualizante que opera a mediação entre a “mutabilidade”
da vida e a “continuidade da história”.
A procura ricoeuriana de constituição de um si-mesmo, distinto do
eu-mesmo, assenta na importância dada aos processos de mediação
e à temporalidade. A identidade narrativa é disso o exemplo, por excelência. O si-mesmo constrói-se a partir da mediação narrativa. Esta
83
�“função mediadora que a identidade da personagem exerce entre os
polos da mesmidade e da ipseidade /…/” (1990: 176) pode ser conferida pela própria literatura. Aquilo que está indissoluvelmente ligado
à vida é, portanto, a narrativa. E, nessa medida, para Ricoeur, a noção
de identidade confunde-se com a de identidade narrativa. Por aqui
se entende a função configuradora da narrativa na constituição dessa
entidade que é a identidade ipse – a ipseidade. O eu torna-se um sujeito
do fazer; identidade do ipse, no percurso narrativo. Uma identidade
como que objetivada e investida de sentido. É a narrativa, na sua
inscrição textual, que vem configurar, não o eu do discurso, simples
deítico, mas o eu capaz de subsumir uma temporalidade organizada: a
subjetividade mais ou menos fictícia que atravessa e se organiza numa
vida contada. A literatura dá forma e também espessura à subjetividade, pela capacidade que tem de conferir existência e exterioridade
à interioridade do sujeito; mas, ainda pela capacidade que possui de
o fazer atravessar o tempo. A sua existência na escrita é a condição
mesma da sua própria existência ipse. E isto, quer a narrativa seja ou
não ficcional. Se há uma ficcionalidade operativa inerente à máquina
narrativa, essa ficcionalidade não deixa, no entanto, de se revelar a
própria veritas do sujeito. O texto narrativo é essa instância produtora
de subjetivação; devolve-nos um mundo interpretado e é dele que a
subjetividade emerge, não como origem mas como resultado.
3. A narrativa da história ou a história como narrativa
Na medida em que narrar é uma prática de mediação simbólica
que começa por fundar o discurso comum, a constituição do campo
da narrativa faz-se a partir de uma homologia entre a narrativa ficcional e a narrativa da história. Em ambos os casos dá-se o facto de
a operação configurante ser a mîse-en-intrigue, na medida em que
a inteligência narrativa, enquanto “síntese temporal do heterogéneo”
84
�acontece em tanto para a ficção quanto para o domínio do factual
(Ricoeur, 1984: 230-233). Para Ricoeur, porém, as dissimetrias, assentam na questão da verdade. Assim, as fronteiras entre configuração
– organização do sentido – e refiguração – aproximação à referência,
ao ato – não foram nem podem ser derrubadas. O que distingue
ambas as narrativas está para além da própria organização interna,
situando-se na transcendência do texto. Trata-se, neste entendimento
da questão, da confrontação entre o mundo do texto e o mundo de
vida do leitor. Ora, na dimensão já mais englobante que lhe confere
Ricoeur, pode dizer-se até que também a narrativa ficcional tem
uma pretensão à verdade, pois originária ou não do imaginário, ela
confere uma certa verdade do sujeito, do tempo, da ação.
Na sua dimensão puramente formal, isto é, na própria máquina
de produção da mîse-en-intrigue, a análise semiótica vem mostrar
uma engrenagem homóloga às narrativas ficcionais e não-ficcionais. Não é, portanto, no plano da configuração narrativa que encontramos dissimetrias entre narrativas de ficção e de não-ficção.
A fronteira entre sentido e referência, ou, nos termos de Ricoeur,
entre configuração e refiguração, não será transposta, como o próprio afirma, “desde que o mundo da obra seja uma transcendência
imanente ao texto”, isto é, na medida em que a referência (de base)
deixar de ser a realidade para passar, tanto num como no outro
caso, a ser o mundo que o texto cria, ou o “quase-mundo do texto”. De notar, ainda com Ricoeur (1984: 233), que a ficção elabora
de forma praticamente ilimitada desdobramentos temporais. Ora,
o desafio do sentido e da referência só é atingido no horizonte de
uma teoria da leitura que determine essa refiguração, a integração
do texto no “mundo de vida do leitor”. Como assinala ainda o autor,
a singularidade da sua proposta vem do facto de ela “não separa[r]
a pretensão à verdade da narrativa de ficção daquela inerente à
narrativa histórica, e esforça[r]-se por compreender uma em função
da outra” (Ricoeur, 1984: 234).
85
�Se a distinção entre ficção e história parece inabalável, segundo
a taxinomia dos géneros literários clássicos, na verdade ela é muito
ténue ou, diríamos, demasiado complexa, pois justamente a ancoragem
ao real nunca é direta nem da ordem da simples transparência. E,
se é verdade que podemos afirmar que a narrativa da história obedece, no entanto, à máquina configuradora, capaz de temporalizar,
de organizar, de religar ações, também não é menos verdade que
a narrativa ficcional é um documento insubstituível no estudo, por
exemplo, dos costumes, das práticas sociais, dos códigos de classe,
ou dos perfis psicológicos e antropológicos de uma qualquer época
da história. Nessa medida, o ficcional não é menos verdadeiro que
o factual. O romance, quer ele seja realista ou naturalista mas, por
que não, o romântico, é exemplo da ficcionalidade narrativa em que
o grau de elaboração é tão apurado que serve o discurso da história
com uma fidelidade e complexidade espantosas. O ficcional pode,
nesta perspetiva, ser lido como documental, testemunho. Por outro
lado ainda, desde o momento em que cabe à operação de refiguração,
a tarefa de ancoragem do “mundo do texto” no horizonte da leitura,
toda a narrativa ficcional ou não, despertará, por certo, uma verdade
da leitura, um confronto que toca ou interpela a verdade.
Associar a narrativa da história à ficção será, portanto, uma identificação precipitada e inexata? De facto, a máquina narrativa, sendo constituída por um conjunto de procedimentos em análise, tem
necessariamente uma relação, a definir, com o seu referente. Toda a
narrativa, sendo produção de sentido sobre a experiência ou o campo
do imaginário, releva, necessariamente de uma relação complexa com
o real a que faz apelo, donde parte ou que produz. O equívoco da
teoria da representação que elege o realismo como o seu modo de
ser é pensar a linguagem como transparência (Foucault, 1966: 133),
uma espécie de adesão do simbólico, ou até a sua aderência ao real.
O que a perspetiva semiótica na sua visão englobante vem mostrar
é que essa transparência é ilusória, já que todo o representante gera
86
�semiose que opacifica necessariamente a sua relação ao objeto. Donde,
não há, no simbólico, representação pura, mas constante produção
semiósica, cabendo mesmo aos próprios objetos e à matéria bruta,
quando sobre eles recai o olhar do observador, tornarem-se regimes
semiósicos.
No caso do regime textual, quer o documento, quer a ficção são
sempre já da ordem da mediação e dos seus dispositivos e, portanto,
factos semióticos, passíveis de interpretação. Em que consiste ela?
Outras tantas questões se nos levantam:
Como se articula a narrativa com o mundo? Pode a narrativa referir o mundo? De que forma? Neste ponto, as teorias da narrativa
divergem, ainda.
Representação vai buscar a sua génese ao termo grego mimesis;
mas é da tradução latina que ela ganha um sentido fixo mais restrito,
a imitatio. Entendida na sua perspetiva binária, a representação dirá
então simplesmente a relação com o referente, o objeto da realidade
que é suposto ser representado. Texto e realidade, texto e mundo
foram, desde sempre, remissões indiscutíveis, baseadas num empirismo primário. No que respeita uma teoria da narrativa, coube
à Nova Poética ter questionado esta relação que a tradição tornou
inquestionável, em nome da semiose que se efetua dentro do texto
ou de texto para texto. Admitindo que o texto gera sentido e que
este sentido não está absolutamente desligado do mundo de textos
que o contextualizam, a perspetiva que a Nova Poética ofereceu ao
entendimento alargado da textualidade como um longo e variado
texto em processo, é o da intertextualidade, que veio substituir a
representação mimética e integrar o texto numa relação de reenvios
constantes entre textos.
A tese da autorreferencialidade envolve toda a teoria literária,
desde Jakobson a Barthes. Contra a referencialidade da literatura,
por exemplo, Barthes contrapunha os “códigos de representação”,
que lhe permitiam definir a referencialidade como “ilusão referencial”
87
�ou ainda como “efeito de real”. A verosimilhança assentando não na
adequação ao real mas ao texto comum, uma adequação ao texto
circulante do senso comum. Para a corrente pós-estruturalista, então, a referencialidade narrativa é subsumida pela intertextualidade,
dado que nenhum texto se cria do nada, ele insere-se, antes, num
movimento de interligação, de redite, e a referência torna-se assim
uma questão de ideologia, de evocação ou remissão a uma formação
discursiva prévia, comum a um grupo, a uma comunidade cultural,
etc. Nesta perspetiva, como bem sintetizou Umberto Eco, o referente
é, antes, a biblioteca.
Ricoeur, não admitindo a transparência narrativa baseada numa
lógica simplista da representação nem abolindo a referência, subsumida pela intertextualidade abrangente, traça uma teoria geral do
discurso narrativo, de ficção e histórico. Ambos contribuem, embora
de forma diferente, para a mesma “condição histórica” que caracteriza
a humanidade. Ambos desempenham a mesma tarefa hermenêutica
de compreensão do mundo e do sujeito nele inserido, histórica e
culturalmente.
O estatuto do referente é, portanto, muito particular dado que
esta noção em Ricoeur não releva exclusivamente do âmbito do
fora-de-texto mas é reintroduzida na narrativa, na medida em que
constitui um seu efeito (Saudan, 1991). A referencialidade emerge
como incontornável na narrativa da história. Nela aparece uma categoria não tratada que é o real passado e que se impõe questionar.
Ora, trabalhando as noções de real e de irreal, como categoria do
ficcional, não do lado da sua oposição intransponível que é do domínio dos factos, mas do lado dos seus efeitos, verifica-se que elas se
aproximam. É já uma articulação entre ambas, essa transcendência
na imanência que caracteriza o conceito ricoeuriano de “mundo do
texto”. Projetando a noção de representância nos efeitos de real, mais
do que na análise da sua proveniência, a teoria ricoeuriana remete-os
para o horizonte do leitor, esse “mundo efetivo do leitor” (1985: 149)
88
�que é o seu garante. A forma de contornar e de aproximar ambas as
categorias narrativas é então resolvida e reabsorvida pela referência,
sempre movente e sempre historizada, constituída pelo mundo do
leitor. Há nesta visão um cruzamento necessário entre narrativa de
ficção e narrativa da história. Esta abordagem só ganha plenamente
sentido se admitirmos que a perspetiva narratológica de Ricoeur
transcende o puro texto para desembocar numa filosofia do sujeito
e na determinação da identidade que não é outra senão a identidade
narrativa, referida atrás. Identidade essa, referente a um indivíduo
ou a um coletivo: povo, sociedade, comunidade.
Focando agora mais de perto o texto da história, há a considerar
que este integra o dispositivo narrativo de que a própria ficção se
serve e parece ser-lhe exclusivo. Em primeiro lugar assinale-se a unidade estrutural da narrativa histórica: a história, embora explicativa,
como o são as ciências naturais, é profundamente narrativa, já que
narrar é, do ponto de vista semiótico, um modo de explicação dos
factos, na medida em que nos fornece as suas conexões internas.
Depois, o próprio conceito de intriga integra o discurso da história,
na medida em que há uma trama entre as ações ou elas deixariam de
ter qualquer pertinência no contexto da história. É que um acontecimento histórico deve participar na elaboração da intriga. Intriga é
justamente o conceito que opera a ponte com a ficção. Uma história
sustenta-se pela conclusão e pela expectativa que cria, não dedutível
mas pelo menos previsível ou quando muito aceitável. E, tal como a
ficção, a história também se compõe de acontecimentos episódicos,
não estruturantes ou configuradores de sucessão que vêm enriquecer
e dar espessura à narrativa.
A disciplina da história exige do observador um distanciamento e
uma perspetiva explicativa/compreensiva que desenham uma espécie
de meta-narrativa englobante. David Carr (1991: 205/212) pergunta-se se a narrativa não será, no quadro de uma hermenêutica como a
de Ricoeur, ao mesmo tempo um dispositivo epistemológico e uma
89
�instância ontológica. É que ela exerce essa função de compreensão
hermenêutica que capta o sentido através do exercício de contar.
Tal como a narração, a compreensão de si tem uma dimensão temporal. E daí, segundo Carr, que não seja possível separar a vida, da
narrativa dessa mesma vida, já que esta mantém a ligação entre os
tempos passado, presente e futuro contra a ameaça da fragmentação,
da incoerência e da dissolução. A conclusão que retira é de que uma
comunidade se constitui em sujeito da experiência através de um
conjunto de ações comuns, projetadas num passado, num presente e
num futuro. Encontramos esta mesma conceção em Ricoeur, a possibilidade de uma identidade narrativa aplicada a um sujeito coletivo. Para David Carr, a proposta de Ricoeur, no quadro das ciências
humanas, tal como a de Gadamer, reconhece um fundo ontológico
da atividade hermenêutica que procura descrever e entender (1991:
209). A questão tal como ela se coloca, então, deverá ser, ao mesmo
tempo, epistemológica e ontológica, na medida em que a narrativa
para além de ser um instrumento cognitivo é ainda da ordem da
compreensão hermenêutica.
O entendimento que tem Ricoeur da narrativa faz desta, a um
tempo, uma atividade do conhecimento e uma realidade histórica. Ao
ser, num primeiro momento, configurado pela narrativa, o tempo é,
posteriormente, refigurado, na medida em que ele faz parte integrante
da receção futura sobre acontecimentos passados e constitui propriamente o nosso conhecimento do passado. Se a narrativa possui uma
natureza epistemológica, uma vez que ela é capaz de um enfoque
sobre o real e nos dá o conhecimento do passado, a sua natureza
ôntica traduz-se nessa capacidade de participar na constituição da
história futura. Recebida pelos leitores, essa narrativa contribuirá
para a constituição da realidade histórica. A ontologização consiste propriamente nesse “modo de existência narrativo” (Carr, 1991:
206). Forma conceptual de entender o passado, a narrativa funda a
própria epistemologia da história, não se confinando, portanto, a
90
�uma noção simplesmente literária. Assim, na perspetiva da filosofia
analítica de A. Danto e de L. O. Mink (convocados por David Carr),
ela é um “instrumento cognitivo”, i. é, “um modo de compreensão”,
uma forma conceptual de entender o passado. Do ponto de vista
ontológico, a narrativa só se aplica à história “na medida em que
ajuda a esclarecer a natureza da sociedade”. Uma comunidade só
pode constituir-se em sujeito da experiência, de ações comuns, se
tem a consciência de um passado, de um presente e de um futuro
comuns” (1984: 212).
Ainda uma outra dimensão da narrativa da história salientada
por Ricoeur é o facto de a história como narrativa ser uma escrita.
A “escrita da história” é uma extensão escritural que extravasa ou
gera a própria máquina narrativa, conferindo-lhe um estilo, um enquadramento cultural, no sentido em que toda a narrativa integra
e se integra nos modos canónicos da narrativa e nos seus géneros.
Esses modos são tantas estruturas quantas as formas culturais codificadas e institucionalizadas. E permitem determinar efeitos de
sentido, trágico, epopeico, satírico, e não propriamente determinar
a natureza intrínseca do “material a organizar (Ricoeur, 1983: 238).
Há efetivamente uma questão que emerge da narrativa da história
e que foi determinada e formulada pelo pensamento francês à volta
desse fazer que é propriamente a escrita da história, quer com Michel
de Certeau, quer com Paul Veyne e Foucault. Do ponto de vista da
estrutura narrativa, quer a ficção quer a história pertencem à mesma
categoria, o que aproxima a história da literatura (Ricoeur, 1983:
228). Ora, estas posições, que a escola francesa toma como válidas,
permitem colocar a questão da ligação entre a ficção e a história ou
entre a narrativa ficcional e, empregando uma expressão menos feliz,
a narrativa factual. Tal como a define Paul Veyne, uma das figuras
marcantes da epistemologia contemporânea da história, a história não
seria senão uma “narrativa verídica” (Ricoeur, 1983: 239), composta
de acontecimentos que são colocados em intriga, configurados. Esta
91
�ambição de verdade que age na narrativa da história estaria suspensa
deliberadamente, segundo Ricoeur, na ficção (1983: 315).
Paul Veyne através da análise à abordagem histórica de Foucault,
teoriza precisamente sobre o fazer história (1971). Compara a história
ao romance, porque ela organiza, seleciona e simplifica, em suma, ela
é uma verdadeira mîse-en-intrigue. A história é reconstituição, não
diretamente a partir do acontecimento, não se reporta diretamente
ao referente mas indiretamente, a partir das suas marcas. Ora, essa
reconstituição indireta cria um efeito ou cria como efeito a ilusão da
reconstituição direta. O acontecimento é de uma natureza fugidia, não
é físico nem é uma substância; é antes um processo onde se misturam
“substâncias em interação com homens e coisas” (Veyne, 1971: 51).
Por outro lado, a história constitui-se com base no documento, não
no acontecimento. Nessa medida, também, ela distingue-se da narrativa jornalística ou biográfica. A história lida com documentos que
asseguram uma relação referencial: da ordem do escrito, da imagem, do património, ou do registo em geral; compara documentos,
relaciona-os, discute a sua fundamentação e integra-os numa trama
narrativa que os configura. A história é essa mesma configuração que
traz uma perspetiva, um juízo, um ponto de vista. E, por isso, não há
a História mas histórias. Cada acontecimento histórico é, portanto,
suscetível de ser objeto de múltiplas narrativas que o vão configurar
sobre diferentes ângulos. Não há História mas textos narrativos que
elaboram o passado coletivo de forma organizada, interpretando os
factos pelas ligações que a narrativa estabelece ou não entre eles.
O real, enquanto passado, será assim um manancial inesgotável de
narrativas em devir. E essa potência do real dá-nos também o teor
da sua distância e da sua diferença relativamente a cada uma das
narrativas por vir, já que, nenhuma narrativa, teoricamente, poderá
fechá-lo definitivamente num sentido, numa interpretação.
Concluindo com a posição de Ricoeur neste domínio e apoiando-nos na análise de François Dosse (2012) diríamos que o autor
92
�foca a história através da textualidade narrativa que lhe dá corpo.
É que a vertente narratológica nascida do linguistic turn deu toda
a sua importância à explicação narrativa baseada na causalidade, isto é, no facto de haver na conjunção porque “duas funções
distintas, a consecução e a consequência” (2012: 144). Por outro
lado, existe uma proximidade de procedimentos entre o registo
da historiografia e o da ficção no plano da estrutura narrativa.
O que leva Ricoeur a concordar com estas posições é o facto de
elas mostrarem como narrar é já explicar; mas não partilha a
indistinção total com os narrativistas dado que estes abolem o
fora de texto ou integram a história no texto infinito das suas
remissões intertextuais, como se viu. É, portanto, o regime da
veridicção que constitui o limite para além do qual Ricoeur não
aceita a visão textualista. A noção de representância, introduzida atrás, constitui o ponto de resistência da referencialidade do
texto da história (Dosse, 2012: 146). E, nessa medida, é sintoma
da rejeição do textualismo, não cedendo, contudo, ao simplismo da referência pura. Elaborando a referencialidade no âmbito
da configuração e da refiguração Ricoeur adota uma perspetiva
conciliadora quer no modo de entender a ficção quer no modo
de fazer história.
Que formas toma a narratividade hoje? Ricoeur admite que a
contemporaneidade rompeu com essa configuração narrativa herdada de Aristóteles, tanto no caso da historiografia como no caso do
romance como género englobante da ficção (1985: 387). E, para ele,
este impasse não se coloca unicamente do lado das formas configuradoras mas está patente até numa resistência que se verifica nos atos
refiguradores, nos limites da refiguração, como os denomina (1985:
387). Os limites da narrativa e a eclosão desses limites na crise das
narrativas formarão, tal como o linguistic turn, uma autêntica viragem no pensamento que veio a ser denominado, em consequência,
por pós-moderno.
93
�4. A crise das narrativas
Lyotard define a modernidade como uma atitude de pensamento
e “ideologia científica” em que há sempre uma narrativa (heroica
ou epopeica) a justificar e legitimar a ideia de progresso. As meta-narrativas que suportam tais enunciados são, por exemplo, a hermenêutica do sentido ou a emancipação do sujeito. Pelo contrário,
a pós-modernidade desacredita as meta-narrativas. É a crise da filosofia metafísica. Ela localiza-se sensivelmente no pós-guerra, dado
que a explosão tecnológica deslocou a questão da finalidade para a
questão dos meios da ação.
Em O Inumano – considerações sobre o tempo, (1989: 72) apoiado
numa análise da monadologia leibniziana, Lyotard propõe uma perspetiva temporal das sociedades capitalistas desenvolvidas em que
tudo se joga numa previsão suportada pelas tecnologias digitais de
globalização: os jogos de estratégia. Esses dispositivos permitem ao
futuro antecipar-se no presente: «Garantias, confiança, segurança, são
meios para neutralizar o caso como se fosse ocasional, para prever,
digamos assim, o de-vir” (1989: 73).
Para Lyotard, já nos finais do século XX, as tecnologias eletrónicas
iriam provocar um desafio às sociedades contemporâneas desenhando
um outro tipo de narrativas, diverso daquele em que o acontecimento
é acontecimento passado; tal desafio é o de controlar um processo
ao “subordinar o presente ao que (ainda) chamamos ‘futuro’, já que
nestas condições, o ‘futuro’ será completamente pré-determinado
e o próprio presente deixará de se abrir sobre um ‘após’ incerto e
contingente”. O princípio do capitalismo define-se por esta lógica da
antecipação que iria hipotecar o futuro no presente das nossas vidas.
A lógica da previsão veio a encaixar-se perfeitamente no dispositivo
hipertextual e corporizando o enunciado premonitório de Lyotard:
“nada mais pode acontecer no tempo t’, a não ser a ocorrência programada no tempo t’’ ”. O filósofo desenvolve o conceito dos jogos
94
�de estratégia, suportados pelas tecnologias digitais de globalização,
concluindo: “Aí o futuro antecipa-se ao presente”. Encontramos nesta
operação generalizada de hipoteca do devir, uma fratura narrativa
com o passado, ocorrido e delimitado no passado.
O sistema da economia capitalista sobrecodifica os possíveis em
devir. O mesmo se passa na máquina narrativa do hipertexto: o
utilizador-leitor tem a liberdade de executar todas as ligações possíveis, mas sempre no seio daquelas que foram pré-estabelecidas pelo
sistema de sobrecodificação. O que quer dizer que o potencial de
remissões que constitui a própria navegação do leitor está previamente
programado, faz parte da própria máquina hipertextual. A liberdade
situa-se tão-somente ao nível da atualização dessas conexões, dentro
da virtualidade das possíveis. Lyotard prefigurou deste modo o desafio proposto pelas tecnologias de natureza eletrónica às sociedades
contemporâneas: o de configurarem um outro tipo de narrativas, não
as que encadeiam o acontecimento como acontecimento passado mas
sim o de controlar um processo ao “subordinar o presente ao que
(ainda) chamamos ‘futuro’, já que nestas condições, o ‘futuro’ será
completamente pré-determinado e o próprio presente deixará de se
abrir sobre um ‘após’ incerto e contingente” (1989: 72). Deparamonos, então, com a seguinte aporia: quanto mais condicionada é a
abertura futura dos possíveis pela sua hipoteca presente, mais as
narrativas (hipertextuais, entre outras) deslinearizam o tempo da
sucessão, criando uma ilusão de infinitude dos possíveis narrativos.
Então, do ponto de vista das grandes formações narrativas, aquilo que
distingue as sociedades pré-modernas das sociedades modernas, é,
segundo Lyotard, o facto de ambas produzirem e se alimentarem de
macro-narrativas ou narrativas totalizantes mas em que, no primeiro
caso, são míticas, e em que, no segundo, se fundamentam antes na
razão e no saber científico, como instância legitimadora. A pós-modernidade, assistindo ao fim das macro-narrativas, definir-se-ia, por
seu turno, pela dissolução do sentido por elas sustentado, dando
95
�lugar à disseminação de pequenas narrativas, de micro-narrativas
constituintes de uma generalizada disseminação de sentidos e sua
polemização.
Tendo em atenção a conceção de Lyotard, recorde-se que as narrativas se caracterizam por serem técnicas ou máquinas de ordenação
do tempo, de encadeamento do acontecimento, de modo a, numa
lógica de causalidade, ou, mais precisamente, numa lógica em que
a contiguidade se funde ou coincide com a causalidade, “engendrar
o sentido”. O fim da narrativa passa por uma abolição dos critérios
aristotélicos de unidade e de completude, como o relembra Paul
Ricoeur (1984: 35), e esta crise precede o aparecimento tecnológico
dos dispositivos digitais de hipertexto. A crise da composição narrativa advém da própria conceção de um real fragmentado, onde o
fim não coincidirá jamais com a finalidade, onde a contingência do
acontecimento deixa de poder ser subsumida pela ordem do necessário na narrativa.
Do ponto de vista da experiência literária, não é outro o fenómeno que eclode no romance como experiência-limite e que vem,
ele também, marcar o aparecimento do pós-narrativo. Por isso, se
escolhe como exemplificação, entre muitos outros textos indicadores desta rutura literária, L’Étranger de Albert Camus, publicado em
1942. Não propriamente para analisarmos a máquina narrativa em
desagregação neste romance, mas para observarmos a confirmação
dessa desagregação que leva Sartre a dedicar-lhe um texto crítico,
compilado em Situations.
A propósito de Camus mas também do romancista americano, J.
Dos Passos, Sartre teoriza sobre a temporalidade narrativa. Seguindo
a já estabelecida perspetiva, que encontramos em W. Benjamin, segundo a qual o romance inaugura já o fim da narrativa, defende
aquele que a narrativa, ao contrário do romance, faz-se no passado.
A narrativa tem uma prerrogativa, ela explica porque é causal. Ela
dissimula, através da ordem cronológica, uma ordem causal. Todo
96
�o romance onde a ordem das coisas não se deixa agarrar pela ordem das causas não é narrativo, é caso destes autores, convocados
por Sartre. Se há um défice de narrativa, se a máquina de articular
causas e efeitos está desmanchada, então o que surge são acontecimentos, e “o acontecimento está a meio caminho entre o facto e a
lei” (1947). Os acontecimentos, só por si, não produzem narrativa.
Falta-lhes a mîse-en-intrigue que os configura em trama. Uma sucessão de presentes, como é o caso por exemplo em L’Étranger, não
é uma narrativa. O romance não obedece à narrativa porque nele a
causalidade está ausente. Não explica, descreve, afirma Sartre. Aliás,
o absurdo como dimensão filosófica instala-se devido a essa total
ausência de causalidade e de teleologia que constitui a vida. Em O
Mito de Sisifo, Camus declarara que o ideal do homem absurdo é essa
sucessão de presentes onde a causalidade está totalmente abolida.
Daí que o romance não seja nem possa ser narrativo. Porque até o
romance exige um devir, uma continuidade temporal. Ora, L’Étranger
é um romance onde “só o presente conta, o concreto” (1947: 108).
A própria personagem, Meursault, “está lá, existe, e não podemos
nem compreendê-la, nem julgá-la completamente; ela vive, enfim,
e é a única densidade romanesca que a pode justificar aos nossos
olhos” (1947: 110).
Em Hemingway encontra Sartre uma sucessão de presentes; há
uma descontinuidade do tempo. Em L’Étranger há uma nova técnica (americana) já que se trata de dar uma “sucessão impensável
e desordenada de presentes” (1947: 112). Comparando ambos os
autores, conclui ele: “O que o nosso autor vai buscar a Hemingway
é a descontinuidade das suas frases entrecortadas que se decalca
sobre a descontinuidade do tempo”. Em última análise, “cada frase
é um presente” (1947: 117). Quer isto dizer que elas não estão organizadas mas “puramente justapostas”. E mais: “evita-se quaisquer
ligações causais que introduziriam na narrativa como um embrião de
explicação e que poriam entre os instantes uma ordem diferente da
97
�pura sucessão” (1947: 118). Aquilo de que se trata nesta obra, pelo
contrário, é de “uma tranquilizadora desordem de acasos”. Camus,
como muitos dos seus contemporâneos, “gosta[m] das coisas por
si próprias e não quer[em] dilui-las no fluxo da duração”, entende
Sartre. Isto explicaria “por que o romancista prefere a uma narrativa
organizada este cintilamento de pequenos brilhos sem amanhã em
que cada um é uma volúpia”. Resulta daí a própria noção de absurdo,
isto é: “nesse mundo que nos querem dar como absurdo e do qual se
extirpou cuidadosamente a causalidade, o mais pequeno incidente
tem peso” (1947: 119).
Por tudo isso, Sartre não poderá designá-lo como narrativo: “a
narrativa explica e coordena ao mesmo tempo que retrata, substitui
a ordem causal pelo encadeamento cronológico.” Para Camus é um
romance; no entanto, para Sartre, “o romance exige uma duração
contínua, um devir, a presença manifesta da irreversibilidade do
tempo.” Não é o que acontece aqui: “nesta sucessão de presentes
inertes que deixa entrever por baixo a economia mecânica de uma
peça montada” (1947: 121).
A descontinuidade assumida é o que permite retirar um sentido
metafísico à sequencialidade e fechamento narrativos. Sartre cita
Malraux a este propósito: “o que há de trágico na morte é que ela
transforma a vida em destino”. A morte é o fechamento da vida, do
tempo encadeado, causal.
Ora a conceção de destino, ela própria releva já da máquina
narrativa. O destino é uma figura produzida por esta máquina de
ordenar e dar sentido ao tempo. Se o trágico elabora a intriga nesta
dimensão de destino, antecipando através do coro na tragédia grega
a fatalidade do desenlace, o não poder não ser que é a pura negação da contingencialidade da vida, o destino, na narrativa, pode ser
tomado como esse olhar, après coup, e cujo desenlace é explicado
pela intriga. A figura do destino encontra causas e nexos no que
está para trás, devolvendo-lhe essa transcendência metafísica que
98
�apazigua a disforia insuportável de uma vida, de um acontecimento,
de um fenómeno natural. O destino é a figura narrativa que apela a
um deus ex machina que tudo regula, independentemente da vontade e da ação humana. O destino é assim a figura por excelência
da narrativa em que um destinador subjuga o sujeito, sujeitando-o
a cumprir um desenlace mesmo se contra a sua vontade. A própria
emergência deste sujeito subjugado ao soberano destino nos mostra
como a máquina narrativa propaga a sua ideologia, possui as suas
axiologias e organiza assim o sentido das vidas, em história.
A crise das narrativas é, portanto, mais do que uma transgressão
de um código ou uma questão de caducidade dos géneros literários,
uma forte perceção da sujeição do sujeito à máquina de ordenação
causal.
Quando Mallarmé escreve: “Aucun coup de dés jamais n’abolira le
hasard”, para além da forma poética que inaugura ela própria toda
uma poética, trata-se de uma palavra de ordem, de uma rutura, de
um grito de libertação, da assunção, enfim, da contingência pura.
Não daquela ideologia que vê ainda e sempre no acaso mais uma
verificação da impossibilidade da pura coincidência, misturando e
aplainando a contingência evencial da vida mas, antes, a declaração
tremenda de que a contingência é a lei, de que o tempo são fragmentos
dissociados, sem nexo, para os quais não há um qualquer sentido que
os sustenha. A poética de Mallarmé é então uma filosofia do tempo,
a condição abandonada de um sujeito ao puro acaso sem narrativa,
sem origem nem telos. Na amargura da sua crueza contingencial.
O puro acaso, sem coincidências. O silêncio da sua finitude.
Da epopeia ao romance contemporâneo, onde o carácter fragmentário e aleatório abandona as suas personagens numa desolação sem
deus, eis, em toda a sua extensão, a assunção e queda do dispositivo
narrativo e da sua função de produtor de sentido. O devir-biográfico, como movimento de configuração do sujeito, não desligado
justamente das máquinas de representação, sejam elas narrativas
99
�textuais ou icónicas, é o movimento do sujeito moderno, garante da
identidade do próprio.
Eis como a condição humana releva desse dispositivo que, no
fundo, configura o humano tal como o conhecemos e a ele nos
identificamos. Trata-se, em suma, de uma máquina de antropomorfização constante que põe em jogo a difícil conciliação entre o bios
e o logos. Constatamos, assim, todo o processo histórico de constituição e construção da máquina antropomórfica que não é, senão,
a máquina narrativa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle (1991), Paul Ricoeur – les métamorphoses de la
raison herméneutique. Paris: ed. Du Cerf.
ADAM, J. M. (2001) Les textes – types et prototypes. Paris: Nathan/HER.
AGOSTINHO (Sto) (2001) Confissões, trad. Arnaldo Espírito Santo et alii. Lisboa: INCM.
ARISTÓTELES (2011) La Poétique. Paris: Editions du Seuil.
BABO, M. A. (1993) A escrita do livro. Lisboa: Vega, coleção Passagens.
BENVENISTE, E. (1966; 1974) Problèmes de Linguistique Générale, 1, 2. Paris:
Gallimard.
CARR, D. (1991) “Epistémologie et Ontologie du Récit” in Paul Ricoeur – les métamorphoses de la raison herméneutique, Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle.
Paris: ed. Du Cerf.
DOSSE, F. (2012) Paul Ricoeur – un philosophe dans son siècle. Paris: Armand Colin.
FOUCAULT, M., (1966) Les mots et les choses. Paris: Gallimard.
GILBERT, M. (2001) L’identité narrative – une reprise à partir de la pensée de Paul
Ricoeur. Genève: Labor et Fides.
GREIMAS, A. J., e COURTÉS, J. (1979, 1986) Sémiotique – dictionnaire raisonné de
la théorie du langage, tomos I e II. Paris: Hachette Université.
LAMIZET, B. (2006) Sémiotique de l’evénement. Chippenham: Hermes/Science;
Lavoisier.
100
�LYOTARD, J.-F.(1989) O Inumano – considerações sobre o tempo. Lisboa: ed Estampa.
MINK, L. O. (1970) “History and Fiction as Modes of Comprehension”. in New Literary
History, 1971, pp. 541-558.
REIS, C. e LOPES, A. C. M. (1991) Dicionário de narratologia, 3º edição. Coimbra:
Livraria Almedina.
RICOEUR, P. (1980) La fonction narrative. Paris: ISEO-ICP.
RICOEUR, P. Temps et Récit (1983, 1984, 1985), tomos I, II, III. Paris: Seuil.
RICOEUR, P. (1986) Du texte à l’action – essais d’herméneutique II. Paris: Seuil.
SARTRE, J.-P. (1947) Situations I. Paris: Gallimard.
SAUDAN, A. (1991) “Herméneutique et Sémiotique: intelligence narrative et rationalité
narratologique”. in Paul Ricoeur – les métamorphoses de la raison herméneutique, Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle. Paris: ed. Du Cerf.
TIFFENEAU, D. (1980) La Narrativité. Paris: CNRS.
VEYNE, P., (1971) Comment on écrit l’histoire. Paris: Seuil.
101
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�IMPRENSA E NARRATIVA
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�IMPRENSA E CONFLITO:
NARRATIVAS DE UMA GEOGRAFIA VIOLENTADA
Fernando Resende
Permanece uma questão cuja resposta procuro: que
forma de narrativa nos aproximará do homem?
Michel Serres
A Palestina como desafio
“Julho de 2015. Ataque terrorista em Duma, uma vila situada na
região nordeste de West Bank, na Palestina. Um bebê é assassinado,
queimado vivo, suspeita-se, por líderes da extrema direita em Israel.
Julho de 2014. Uma guerra na já sitiada Gaza, em 50 dias, «matou
2.251 palestinos (1.462 civis) e 72 israelenses (seis civis)”33. Pelo menos desde o início do século passado, a Palestina é um território que
vive um intermitente processo de apagamento e desaparecimento34.
Cuenca, J.P. “Um ano após guerra, Faixa de Gaza se torna prisão dentro de prisão”.
(Folha de São Paulo, 25/07/2015) Em http://app.folha.uol.com.br/#noticia/576889
(acesso julho/2015)
33
O Estado de Israel foi proclamado em maio de 1948, fato que para os palestinos
passou a receber o nome de Nakba, que em árabe significa a grande catástrofe, pois
é o ano que marca o princípio da tragédia que se abateu sobre o povo palestino.
34
105
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_4
�Invadida e ocupada por judeus sionistas, que primeiro contaram
com o apoio do Império Britânico, ela é hoje uma nação destroçada
por uma política de invasão territorial e por forças bélicas incomensuráveis por parte do Estado de Israel. A pergunta sobre o que é a
Palestina, enquanto nação, é uma constante tanto entre os que foram
(e ainda são) obrigados a abandoná-la como entre os que lá vivem,
impedidos de se locomoverem no próprio território. Edward Said
nos apresenta a dúvida que toma uma nação inteira: “Quando nos
tornamos ‘um povo’? Quando deixamos de ser? Ou será que estamos
ainda no processo de nos tornarmos? O que essas grandes questões
têm a ver com nossas íntimas relações, entre nós e com os outros?»35
O conflito vivido pelo (e no) território palestino, que acontece
pelo menos desde o início do século XX, vem sedimentando marcas por vezes difíceis de serem escavadas. Muitas vezes, por tecer a
intriga com vistas a um sem-fim de dados, números e pesquisas, as
narrativas da imprensa comportam conteúdos simplificadores que
nada mais fazem além de informar – quando assim o fazem – acerca
daquele acontecimento. E por este motivo, dentre os vários desafios
com os quais a imprensa internacional diariamente se confronta,
talvez hoje possamos pensar que narrar aquele território em conflito
seja o exemplo maior.
As narrativas da imprensa, de modo geral, quase sempre fragmentadas, desprendidas umas das outras, narram os fatos como se
eles fossem desprovidos de contextos, deixando que nelas prevaleçam as dicotomias e os binarismos. Devedor de uma referência ao
real, o discurso da imprensa prima pela pressuposição de poder
oferecer uma representação do mundo que seja verdadeira, objetiva e imparcial. Um pressuposto respaldado por uma perspetiva
histórica e teórica de cunho tecnicista que, entre outros aspetos,
No original: “When did we become ‘a people’? When did we stop being one?
Or are we in the process of becoming one? What do these big questions have to do
with our intimate relationships with each other and with others?” (Said, 1986:34).
35
106
�foi também legitimado pela hegemonia de um pensamento dito
“científico” e a consolidação de uma racionalidade dita “instrumental» 36 .
Assim, uma das perguntas que acompanha esta reflexão – como
pensar a imprensa tendo o território palestino como desafio? – parece crucial para nos fazer entender a demanda pela sustentação de
outras abordagens teóricas e práticas que coloquem em questão o
próprio jornalismo. Como uma das possíveis instâncias de enunciação midiática, no mundo atual, cabe pensar a imprensa para além
da sua função primeira, que é transmitir informação? A partir desta
indagação, esta reflexão assume a representação e a linguagem como
aspectos centrais para a problematização de um jornalismo pautado
por um paradigma relacional (Marcos, 2007). Um caminho que parece
imprescindível, caso levemos adiante o pressuposto de entender o
jornalismo a partir da narrativa.
Como procedimento conceitual, mais até do que um recurso analítico, a narrativa é assim um dos aspectos centrais desta discussão.
Tomá-la como um problema demanda assumir posturas epistemológicas que, inevitavelmente, colocam em questão os modos de compreender o jornalismo (Resende, 2011). Como uma instância de enunciação
na qual se deflagram lutas e relações de poder, o jornalismo é aqui
entendido como uma prática cultural-discursiva, sujeita a alterações
no tempo/espaço em que acontece. O que nele há de fixo são suas
regras discursivas, estratégias e técnicas que visam à referencialidade do fato que narra. Sob a perspetiva da narrativa, porém, o que
se instala é um paradoxo: a organização do caos cotidiano – tarefa
que é premente ao exercício do jornalismo – não é garantia de uma
representação fidedigna.
Em Resende (2008), resenha do livro organizado por Benetti & Lago (2007), procuro
fazer uma reflexão sobre as condições em que se assentam algumas das epistemologias e metodologias fundantes no campo do jornalismo, processo que nos ajuda a
entender os esforços do campo em se haver com as contradições entre as perspectivas
dominantes e outras relacionadas às problemáticas da linguagem.
36
107
�Quando se entende a narrativa como lugar de ordem e desordem
(Ricoeur, 2010), o que se nota, nas páginas do jornal, são desarranjos
e faltas. Certeau nos leva a melhor compreender essa perspetiva ao
dizer do relato como espaço criador de delimitações e mobilidades.
Diz o autor: “o relato não se cansa de colocar fronteiras” e, ao mesmo
tempo, deixar transparecer proximidades traçadas “pelos pontos de
encontro entre as apropriações progressivas (...) e os deslocamentos sucessivos (...) dos actantes” (2000: 212-213). Assim, pensar a
imprensa a partir da narrativa – esta reflexão sugere – é admitir o
conflito como lhe sendo absolutamente constitutivo; dado que se
deve buscar reconhecer na narrativa, ou seja, no espaço em que o
acontecimento é configurado.
Tendo o território em questão como desafio e a narrativa como
um problema, este artigo pretende muito menos se deter a uma
crítica sobre os reducionismos a que está submetido o discurso da
imprensa do que contribuir para uma reflexão acerca da potência
da narrativa, diante, particularmente, das complexidades que regem
os conflitos de longa duração. Seu objetivo principal é lançar um
olhar que indague acerca dos modos de apresentar e representar o
conflito Israel/Palestina. Se no espaço da mídia encontramos “imagens, impactos emocionais de acontecimentos, tão intensos quanto
breves”, que, de acordo com Matos, só nos fazem “[oscilar] entre a
indignação e a compaixão” (2006, 23), não há de se negar que nele
também notamos o uso de distintos modos narrativos que chamam
atenção para outras possíveis leituras sobre o conflito.
Por esta razão, uma outra pergunta – como tem sido / pode ser
narrado o conflito Israel/Palestina? – também nos parece relevante. Ela pode nos fazer compreender quão complexo são os modos
de inserção dos sujeitos e dos poderes que se configuram neste
território que, antes de tudo, é uma geografia violentada. São infindáveis as tramas que tecem um território no qual a articulação de
poderes políticos e econômicos – o Estado de Israel e seus aliados
108
�– se amalgamam a dinâmicas culturais e religiosas, para dizermos
o mínimo em relação aos imaginários que convergem, por exemplo,
na cidade de Jerusalém. Falamos, portanto, de várias camadas de
narrativas, desejos e poderes que se inscrevem e se instalam, há
séculos, em uma geografia que se encontra exaurida.
Exhausted geography – conceito de Irit Rogoff (2000) – é fundamental para a reflexão que este artigo propõe. Ao discutir geografia,
espaço e formas de engendramento do conhecimento em territórios
que vivem conflitos de longa duração, particularmente os que envolvem a região do Oriente Médio, esta autora reconhece o esgotamento
dos recursos epistemológicos e analíticos que até então têm amparado
as explicações e reflexões sobre os conflitos. Uma geografia exaurida
impõe outros modos de apreensão dos sentidos, outras narrativas, a
respeito da vida e da luta que nela se trava.
Assim, reconhecer os modos que o território palestino e seus
sujeitos se inscrevem no cenário global contemporâneo é, da mesma forma, muito importante; trata-se de um gesto que nos ajuda a
colocar em cena (e em questão) as complexidades inscritas naquele
espaço. Nessa geografia violentada, onde quem é dono da terra não
pode nela viver, encontram-se sujeitos que carregam experiências
identitárias pluri-geográficas e que vivem, ao mesmo tempo, uma
ideia de nação que só existe em forma de apagamento (Said, 2011).
Nesse lugar, cultura e política se amalgam de tal modo que se torna
imprescindível um olhar crítico e uma abordagem teórico-analítica
que reconheçam modos de existir como sendo também modos de
resistir (Tawil-Souri, 2012).
As camadas de estereótipos e os binarismos que hoje dão forma
a este território precisam ser constantemente escavados, debatidos
e confrontados. Nesse sentido, a narrativa, através da imprensa e de
vários outros sistemas de representação, tem um papel crucial, ela
pode ajudar a desvelar os desdobramentos e as contradições que
o conflito produz, fazendo-nos ver os conflitos dentro do conflito,
109
�gerando, em nós, talvez, saberes e experiências mais complexos, algo
maior do que simples indignação ou compaixão. Além disso, produzir narrativa é um gesto estético de produção de cultura, o que no
caso da Palestina é de caráter eminentemente político (Tawil-Souri,
2012). E é neste lugar que o olhar lançado neste artigo assume uma
dimensão política e estética, instâncias absolutamente amalgamadas
no mundo que hoje conhecemos (Rancière, 2005).
A imprensa hoje: representação e linguagem como problemas
Bruno Latour, ao problematizar a producão de conhecimento no
mundo que chamamos “moderno”, faz do jornal uma metáfora instigante. Para este autor, ao se esforçar para dar ordem às nossas experiências
no mundo da vida, o jornal materializa – ou serve como exemplo para
se pensar – uma certa crise no processo de produção de conhecimento.
Entre a proliferação de híbridos – somos todos um misto de natureza
e cultura – e o trabalho de eliminação desses híbridos – o esforço de
assepsia com o qual lida, de modo geral, o processo de produção de
conhecimento –, o autor nos interpela a todos: “Se a leitura do jornal
diário é a reza do homem moderno, quão estranho é o homem que
hoje reza lendo estes assuntos confusos” (2009: 8).
O trabalho de separar para organizar – gesto que, para além do
jornal e do jornalismo, é próprio do pensamento moderno – está
diretamente ligado ao esforço de eliminação dos híbridos; uma atitude que operacionaliza conhecimentos distanciados do mundo que
experimentamos. É nesse sentido que os saberes, tal qual os assuntos, se apresentam confusos, pois para Latour, no próprio espaço do
jornal, como também o é no mundo da vida, “toda a cultura e toda
a natureza são diariamente reviradas [...]” (2009: 8).
É assim que, para este autor, fatos, poder e discurso – que diretamente nos remetem ao real, ao social e ao narrado – só se apresentam
110
�como separáveis à luz de disciplinas e procedimentos metodológicos
que visam à explicação e à organização dos hibridismos. Fazendo
referência aos assuntos geralmente abordados no jornal, Latour nos
lembra:
O buraco de ozônio é por demais social e por demais narrado
para ser realmente natural; as estratégias das firmas e dos
chefes de Estado, demasiado cheias de reações químicas
para serem reduzidas ao poder e ao interesse; o discurso da
ecosfera, por demais real e social para ser reduzido a efeitos
de sentido (2009: 12).
Tal problematização dá lugar a uma longa e densa reflexão sobre
nossos modos de pensar, estar e narrar (n)o mundo. E é por este
viés que o território palestino se apresenta como um desafio para
a imprensa. Como separar os interesses econômicos e políticos
dos imaginários coletivos e desejos que habitam um território em
disputa? Como reportar a invasão e a ocupação da Palestina frente
à certeza – ou ao uso do discurso religioso – de ser este gesto nada
mais do que uma “volta à Terra Prometida”? Como dar a ver o conflito na complexidade que ele se apresenta diante das demandas
de objetividade e tempo que regem o discurso jornalístico? Trata-se
de perguntas que, em relação à imprensa, nos levam diretamente
ao problema da representação.
Em “Falar para as massas, falar com o outro: valores e desafios
do jornalismo” (in: França e Corrêa, 2012: 153-165), busco problematizar a imprensa, pensando-a na atualidade como mais um lugar
possível de enunciação acerca do acontecimento. A partir de questões levantadas pela cobertura do conflito Israel/Palestina feita pelo
repórter-quadrinista Joe Sacco37, e diante de tantos outros relatos
37
Ver particularmente Sacco, 2000, 2005,2010.
111
�a que temos acesso a partir do próprio avanço tecnológico, é colocada em questão a condição de o jornalismo ser uma instância de
enunciação midiática cujos valores legitimados, busco argumentar,
sempre seguiram uma lógica externa às problemáticas da linguagem.
Por este viés, ao balizar dois conjuntos de experiências distintos
– quadros histórico-culturais –, busco apresentar desafios que nos
permitem considerar os modos de encenação da notícia (o lugar
próprio da representação) como lugares possíveis de onde emerge
uma diversidade de sentidos que viabiliza um processo de ressignificação de valores do/para o jornalismo. O primeiro deles, tomado
por uma concepção do que seria falar para uma suposta massa é
pautado pelo que podemos chamar de “paradigma informacional”.
No que se refere ao seu projeto enunciativo, este quadro coloca para
o jornalismo um problema exclusivo: transmitir o que ele define como
informação. O falar para é o propósito de referência deste quadro
histórico-cultural que experimentamos, muito particularmente, até
os anos finais do século XX.
Uma das características deste quadro, por exemplo, está na imprensa que particularmente se voltou para os princípios da objetividade, dando a esta proposição técnica um caráter ideológico no
âmbito da profissão. Nas palavras de Schudson, “com a ideologia
da objetividade, os jornalistas substituíram uma fé simples nos fatos por uma fidelidade às regras e procedimentos criados para um
mundo no qual até os fatos eram postos em dúvida” (2001: 122).
Esta imprensa, ao sustentar estratégias, epistemologias e técnicas,
produziu um modo de falar que contribuiu para que ela própria se
legitimasse como detentora de saber sobre os modos de produção
do acontecimento.
Pensando a partir da narrativa e do problema da enunciação, os
recursos estratégicos e técnicos (a objetividade e o uso de aspas,
por exemplo) ou epistemológicos (o saber produzido a partir de
um suposto distanciamento por parte de quem narra), exatamente
112
�porque produzem um modo de falar no jornalismo, foram (e têm
sido) cruciais para sustentá-lo no seu lugar de legítimo enunciador de uma verdade. Foi assim que a estratégia da objetividade
(Tuchman, 1999), transformada em componente ideológico, tornou-se crucial para fazer da linguagem um problema aparentemente
resolvido.
Já o segundo conjunto de experiências a que me refiro recoloca
em outros termos, para o campo e a prática do jornalismo, a problemática da linguagem. Caso pudéssemos definir cronologicamente
o seu momento de instalação, diríamos que ele «nasce» primordialmente com / e a partir (d)o avanço tecnológico que torna possível a
complexificação e o aumento das produções narrativas. Exatamente
o mesmo que faz com que a questão da representação, enquanto
problema do jornalismo, seja compreendida como um tiro saído
pela culatra: o próprio avanço tecnológico e as demandas pela representatividade produzem múltiplos fazeres e narrares, tornando
minimamente desejável a ideia de que a comunicação e, certamente,
o jornalismo sejam espaços nos quais possam coexistir sujeitos em
relação (França, 2006).
Se no quadro anterior, compreendia-se representação como resultado de uma cópia da realidade, ou uma mímese, no sentido aristotélico
– um aspecto teórico bastante preciso para o jornalismo em questão,
pois o resguarda em sua função primordial de referencialidade e de
relação direta com a verdade do fato – no quadro histórico-cultural
que hoje experimentamos, entra em questão uma percepção mais
voltada para o reconhecimento de uma multiplicidade possível de
representações acerca do acontecimento. Na concepção de Rancière,
trata-se hoje de um outro regime no qual o estético é tomado como
referência, uma outra visão de mundo, menos submissa à “regulagem
representativa do visível e da palavra (…), à identificação do processo
de significação à construção da história” (2012: 133). Para este autor,
o regime atual, que ele chama de “estético», “abole a circunscrição
113
�mimética que separava a razão das ficções da razão dos fatos, a esfera da representação de outras esferas da experiência” (2012: 133)38.
Por este viés, os dias atuais, para a imprensa, deflagram a premência de considerarmos a linguagem como um problema, e seu
reconhecimento implicaria pensar que não se trata mais de um falar
para, mas muito mais fortemente, da demanda por um falar com.
Em relação às diferenças que a Comunicação produz, e com as quais
ela precisa conviver, Marcos (2007) tece considerações importantes,
levando em conta o “relacional» como um desafio hoje “incontornável”. Para esta autora,
A dimensão relacional, tensional, simbólica e mediada da
experiência confere à Comunicação um lugar de princípio. No
âmbito epistemológico das Ciências da Comunicação, o modo
de ser do sujeito face ao mundo, aos outros e a si próprio
desenha um quadro de reflexão incontornável. Incontornável
porque instável, sem contornos pré-definidos. Incontornável
porque indispensável, sem alternativa. (2010: 244)
É por este viés que nossa argumentação central gira em torno
do fato de que para o jornalismo, hoje, a problemática da representação assume um valor preponderante tanto em termos teóricos
quanto práticos; é neste conjunto de experiências e problemas que
o “como falar com” se torna uma pergunta essencial.
Rancière (2012) toma a arte, no sentido amplo, como parâmetro para pensar o
que ele chama de diferença entre o “regime representativo” e o “regime estético”.
É preciso levar em conta este fato ao fazermos a passagem da reflexão deste filósofo
para os problemas da imprensa e do jornalismo. Este aspecto, entretanto, não deve
inviabilizar a transposição dos problemas de um dito sistema para outro. O que Rancière faz notar em relação à representação e aos sistemas que produzem linguagem
no mundo atual é amplo o bastante para nos apoiar na crítica que busco fazer em
relação à imprensa. Para Rancière, antes de tudo, representação é um problema de
linguagem, o que no âmbito desta reflexão nos é crucial.
38
114
�Sob essa perspetiva, as problemáticas referentes a um falar com o
outro, no âmbito da imprensa, fazem parte de um quadro abrangente
no qual, em diversos campos e saberes, práticas e conhecimentos
são reavaliados. São outros valores e desafios que entram em cena,
dada a própria condição de ser o jornalismo uma prática sócio-cultural que, inevitavelmente, sofre alterações ao longo do tempo. Nesse
sentido, coloca-se a problemática da representação no âmbito dos
discursos e das narrativas jornalísticas como parte de um jogo de
reconfiguração do saber, o que implica, necessariamente, a busca por
práticas e instrumentais teóricos e metodológicos que minimamente
deem conta das demandas atuais.
A crítica que, de modo geral, se faz à imprensa em relação às
coberturas simplistas e reducionistas precisa ser colocada nesses
termos. No quadro histórico-cultural que ora experimentamos, as
teorias e saberes que se fizeram hegemônicos, diante das mudanças
em curso, parecem ter se convertido em frágeis pilares. E é neste
conjunto de problemas que o olhar lançado ao jornalismo pelo viés
da narrativa adquire um papel proeminente. Trata-se antes de tudo
de pensá-lo pelo viés da linguagem – «o que acontece na narrativa é
a linguagem”, disse Barthes (1988: 115) – e, mais ainda, de considerá-lo parte de uma dimensão discursiva ampliada, já que a narrativa,
inevitavelmente, acolhe princípios que extrapolam as ordens dos
discursos (Ricoeur, 2005; Resende, 2011a).
Por este viés, assume-se a linguagem como base epistêmica para
pensar o jornalismo, colocando em cena a problemática da enunciação39. É a fala como gesto, se quisermos assim pensar, que é evocada
como um dos problemas centrais do que hoje conhecemos como
Para Michel de Certeau (2000), a “virada da modernidade” consiste em nos fazer
entender que, com a morte de Deus, cabe ao homem produzir a fala. Para este autor, este é o momento em que a problemática da enunciação se torna o problema
da comunicação.
39
115
�jornalismo. Nesse sentido, parece-nos importante as considerações
de Mayra Gomes:
antes de registrar, informar, antes de ser colocado pelas
condições que o caracterizam, por exemplo, periodicidade,
universalidade, atualidade, difusão [...] o jornalismo é
ele próprio um fato de língua. Seu papel e sua função na
instituição social implica o de organizar discursivamente, o
que, aliás, é a prática jornalística por excelência (2008: 19).
Como prática social-discursiva, este jornalismo do qual falo, é
um «conjunto de problemas, orientações, intenções e dizeres que, de
forma inseparável, dá a ver o possível do mundo” (Resende, 2011:
128). Ele enuncia, representa e media outras práticas – culturais,
sociais, políticas, econômicas – inscritas no cotidiano. E somente
assim, ressignificado, se pode compreendê-lo a partir de suas narrativas, plenas de aprisionamentos e potencialidades. Pois são elas,
as narrativas, que nos interpelam a um olhar pela linguagem, o que
necessariamente excede o esforço da produção de uma técnica.
A Palestina no cenário global contemporâneo
Na introdução de Nação e Narração, Homi Bhabha reclama de
uma “perda” por não ter sido incluído no livro por ele organizado
um ensaio sobre aqueles “que ainda não encontraram a sua nação” (1990: 8). Os palestinos, para Bhabha, são esses cujas vozes
haveriam de estar “entre as imagens exorbitantes do espaço-nação
em sua dimensão transnacional” (1990: 08). Bhabha conclui sua
reflexão com as mesmas perguntas de Said (que lemos no início
deste artigo), fazendo-nos entender que ele não está somente lamentando a perda do que seria mais um capítulo do livro, mas,
116
�fundamentalmente, constatando a dúvida sobre que tipo de nação
a Palestina é ou deixa de ser.
Além de a Palestina ser hoje uma fonte constante de notícias para
a imprensa e a TV, as narrativas sobre a Palestina e os palestinos
(produzidas por eles ou não) têm aumentado em número, e, por
conseguinte, se diversificado em termos de formas, vozes e suportes
comunicacionais. Entretanto, certamente desde quando Bhabha e
Said já discutiam os problemas daquele território, os conflitos vividos
pelos palestinos só têm se exacerbado.
Partindo de uma perspetiva histórica do conflito Israel/Palestina,
Rashid Khalid argumenta que “a dura tarefa dos palestinos para
cruzar fronteiras, limites e barreiras dentro e fora da sua própria
terra (…) não diminuiu” nos últimos 20 anos 40. Seja em relação à
progressiva perda do território, ao aumento no número de palestinos
sendo presos e assassinados ou ainda ao crescimento no número de
campos de refugiados na região, os séculos XX e XXI testemunham
um conflito dramático e sem fim no qual, não há dúvida, a Palestina
e os palestinos são o lado perdedor.
Na medida em que as políticas de ocupação do território recrudescem e são implementadas, os palestinos não têm outra opção senão
viver confinados ou abandonar sua terra. Intervenções políticas e
econômicas por parte de Israel, amparadas pelos Estados Unidos,
vários países europeus e alguns dos países árabes limitam o ir e vir
dos que ainda vivem na região. Além disso, o aumento dos problemas em relação às políticas de relações internacionais devido aos
conflitos internos – dos quais disputas entre o Fatah e o Hamas são
exemplos – são alguns dos problemas que tornam hoje ainda mais
complexa a questão da Palestina.
Tradução livre do original: “(…) the travails of Palestinians in crossing boundaries,
borders, and barriers within and without their homeland (…) have not diminished.”
In: Rashid, 2010: xxiv.
40
117
�De uma perspetiva cultural, entretanto, nota-se também que desde
o final do século XX, o mundo tem experimentado uma mudança
significativa e um avanço tecnológico bastante singular no que se
refere à diversificação de aparelhos eletrônicos através dos quais as
histórias são contadas e disseminadas. Há ainda filmes, documentários e programas de TV, por exemplo, que também contam histórias
do conflito, muitas vezes, de forma diferenciada da que estamos
habituados a ler nas chamadas “mídias hegemônicas e tradicionais”.
Hoje, talvez mais que nunca, temos acesso a várias narrativas sobre
este conflito de formas distintas através dos mais diversos meios.
Longe de pensar que seja este o fim dos oligopólios das mídias
e ainda que todos os cidadãos têm o mesmo acesso à produção e à
leitura dessas narrativas, uma certa pulverização dessas histórias,
e portanto dos saberes sobre o conflito, não pode ser desconsiderada. Seja através de telefones móveis ou redes sociais, por
exemplo, com narrativas em primeira pessoa e informação vinda
direta do local do conf lito, partindo inclusive daqueles que o
experimentam no cotidiano, tais narrativas, para o bem e para o
mal, alteram a nossa compreensão do conflito propriamente dito
(Resende e Paes, 2011b).
Para entender a Palestina na sua contemporaneidade e nos seus
gestos de resistência, Tawil-Souri associa e contrapõe a ideia de
uma expansão midiática com a redução espacial do território palestino. Segundo a autora, este aspecto forma um relevante “campo
de contradições”, pois junto com “repressão, obstrução, controle,
vigília e silenciamentos”, é somente agora, desde os anos 90, que
“os palestinos que vivem nos Territórios Ocupados têm a ‘liberdade’
para produzir mídia”.41 A ênfase que a autora dá à palavra “liberdade» certamente chama atenção para o fato de que a produção de
Tradução livre do original: “repression, obstruction, control, surveillance and
silencing, it is since the 1990s that Palestinians in the Territories have (…) had the
‘freedom’ to create media”. Tawil-Souri, (2012: 145).
41
118
�narrativa, principalmente nos Territórios Ocupados, ainda é uma
questão problemática. Porém, após a Nakba (1948), o que Tawil-Souri
reconhece é que este é um momento importante para os palestinos,
que, de muitas maneiras, vêm sendo capazes de contar as histórias
da sua luta e das suas vidas cotidianas.
Nesse sentido, nota-se o aumento da produção narrativa não somente no número elevado de festivais de cinema da Palestina, com
produções locais bastante expressivas, como também no enorme
volume de weblogs dedicados a discutir a questão palestina, além da
grande variedade de livros (literários e acadêmicos) e periódicos com
material publicado sobre e pelos palestinos. Ecoando Tawil-Souri,
contextualizar a Palestina no cenário global contemporâneo, contrastando este aumento dos produtos culturais com o acirramento e
a maior gravidade das questões políticas e econômicas efetivamente
enfatiza os signos de resistência que marcam as vidas dos palestinos.
Narrar – sugiro – é criar cultura, e este gesto, no caso da Palestina,
ainda de acordo com Tawil-Souri, é uma “forma de resistência política” (2012: 139).
Deste ponto de vista, abordar o problema da Palestina pelo viés
da narrativa não se configura tão-somente como um instrumento
metodológico, mas também, e principalmente, como um operador
conceitual que evidencia uma forma estética e política de criar resistências. Nos seus estudos sobre o tempo e a narrativa, Ricoeur
aponta nesta mesma direção ao nos fazer entender que a narrativa
é o espaço no qual a desordem se faz visível. Nas suas palavras, “a
tessitura da intriga nunca é o triunfo da ordem” (2010: 13). Ao contrário, a narrativa histórica ou ficcional é também o lugar em que o
humano experimenta as disjunções temporais, é onde e quando a
linearidade imaginada encontra os seus contrapontos. Para Ricoeur,
narrar é estar no mundo, um ato intrinsicamente humano, feito de
continuidades e rupturas. O que a narrativa faz, ele diz, é “tentar
colocar consonâncias onde só pode haver dissonâncias” (2010: 112).
119
�Alguns palestinos estão hoje confinados em uma terra que é deles,
mas sobre a qual não têm direitos. Uns vivem em vilas constantemente
sitiadas e vigiadas, como em West Bank, Gaza e Jerusalém, alguns
em outras cidades em franco processo de apagamento, como Jaffa e
Haifa, e há ainda os que vivem exilados em outros países e/ou em
campos de refugiados. É assim que se constrói hoje a experiência de
ser palestino, ela é multi-geográfica. Não se trata somente de uma
questão de dispersão, mas, de uma maneira muito mais complexa, de
uma experiência de multi-localidades que se vive simultaneamente
com o sentimento de não caber em espaço algum.42
Diante de tamanha complexidade, a problematização da questão
da Palestina pelo viés da narrativa pode nos ser muito útil no processo de desvelamento das camadas de padrões hegemônicos que
geralmente encobrem as experiências e as vidas dos que habitam
aquele território. Narrar a Palestina é uma forma de representar o
seu problema, tornando-o vivo perante o outro; um gesto político
de intervenção nas dinâmicas sócio-culturais. Said corrobora dizendo que “o poder de narrar ou de impedir que outras narrativas se
formem e apareçam é muito importante para a articulação cultura/
imperialismo, constituindo uma das mais importantes conexões
entre eles”.43
Um elo político/estético, portanto, é o que se nota claramente
na produção de narrativas em torno de conflitos de natureza territorial, como é o caso do conflito Israel/Palestina. Matar & Harb, ao
discutirem conflito e narração no Oriente Médio, chamam atenção
para o fato de que “em nenhum outro lugar a disputa pela imaginação, construção e narração de conflito, assim como seus sentidos e
Considerações feitas por Tawil-Souri na Conferência “Palestinian Screens of Struggle”, que aconteceu durante o Palestine Film Festival (School of Oriental and African
Studies (SOAS), University of London, Maio/2013).
42
Tradução livre do original: “the power to narrate, or to block other narratives from
forming and emerging, is very important to culture and imperialism, and constitutes
one of the main connections between them”. In: Said, 1994: xiii.
43
120
�centralidade no cotidiano das pessoas, é mais contundente (...) do
que na Palestina e no Líbano”, já que são, além de tudo, disputas
que colocam em questão noções de “espaço, identidade, discurso,
imagem, narrativa”44.
Deste modo, interpretar e abrir outras leituras possíveis em relação ao conflito vivido na Palestina significa escavar a vida cotidiana
do palestino, este que, sitiado e coagido, vive também em constante
processo de deslocamento, lutando para sustentar e, ao mesmo tempo, (re)construir tanto a nação que hoje lhe é possível como aquela
pela qual ele anseia. Como dar a ver, no âmbito da representação, os
interesses e desejos que ali se instalam? Um desafio enorme para um
tipo de imprensa que tradicionalmente se esmera em pautar-se por
grandes narrativas, não só alijando-nos do processo de sedimentação
de camadas de estereótipos como também deixando de lado aquilo
que parece menor diante de um conflito de natureza tão absurda.
Produção de estereotipias e modos de resistir pela linguagem
Jean Genet passou dois anos morando em um campo de refugiados
palestino, na Jordânia dos anos 1970, e mostrava-se já preocupado
com o processo de produção de imagens cujo intuito era transmitir a
realidade. Referindo-se ao uso dos significantes terrorismo, holocausto
e genocídio, em relação ao conflito, Genet dizia: “‘É bastante inteligente da parte de Israel levar a guerra ao coração da linguagem”.45
Tradução livre do original: “nowhere is the competition over the imagination,
construction and narration of conflict, as well as its meanings and its centrality to
people’s everyday lives more compelling, since in the Middle East, these competitions,
above all, put into play concepts of “space, identity, discourse, image and narrative”.
In: Matar e Harb, 2013: 4.
44
No original: “it is very smart of Israel to carry the war right into the heart of vocabulary” (Genet, 2003: 374).
45
121
�O cenário midiático global, hoje, levanta – ou pelo menos joga
luz sobre – a questão dos sentidos que os significantes adquirem
nas narrativas sobre o conf lito. Em uma tal guerra de narrativas,
na qual os sentidos são disputados “no coração da linguagem”,
atores hegemônicos – como é o caso de Israel – sempre começam vencendo; eles detêm o discurso dominante e os aparatos
que sustentam sua causa 46 . Por esta razão, o terreno torna-se
vulnerável e bastante propício à sedimentação de estereotipias
e binarismos.
“Portrait of Palestine”47 pode nos ajudar a entender o processo
de formação de camadas de narrativas dominantes acerca do conflito e da região. No escopo deste artigo, ele nos serve como um
exemplo fundante, pois nele se inscreve as grandes narrativas que
seguem, ainda nos dias de hoje, pautando muito do que se entende pelo conflito. A narrativa se inicia traçando um perfil religioso
dos palestinos, segundo o narrador, uma mistura de muçulmanos,
samaritanos, judeus e cristãos. O documentário dá ênfase, desde o
começo, a uma narrativa bíblica na qual a cidade de Bethlehem é
apresentada como um local em que há uma “igreja católica romana
chamada ‘Igreja de Todas as Nações’”.
Com uma narrativa dividida basicamente em duas partes, assistimos primeiro à “Palestina do passado – um lugar comum onde o
homem jamais tocou, habitado por humildes artesãos e mulheres
que vestem roupas da Europa medieval”. São pessoas que moram
em “cidades muito calmas” – como se descreve Jerusalém –, e «que
nada querem além de paz”. Já na segunda parte, entretanto, chamada
Esta reflexão se deve aos trabalhos de Bakhtin e Foucault, basicamente a partir
do pensamento do primeiro deles sobre o discurso como “campo de batalha social”
(ver Mikhail, 1981), e a preocupação de Foucault em relação à preponderância que o
conhecimento e o discurso disciplinar tem sobre a representação. (ver Foucault, 2002).
46
Produzido em 1947, um ano antes da Nakba, pela Anglo-Scottish Pictures, o documentário de 16 minutos pode ser visto em http://www.colonialfilm.org.uk/node/2477
(acesso em outubro/2013). Todas as falas deste documentário foram literalmente
transcritas e são, portanto, livres traduções.
47
122
�“o caminho para o futuro”, nota-se uma mudança substancial: uma
música mais agitada e uma narração mais densa anunciam a chegada
da modernidade.
A narrativa prossegue enaltecendo a presença árabe na região,
dizendo, por exemplo, se tratar de uma cultura mundialmente
conhecida desde a Idade Média, mas com uma proposta clara
de sustentar a diferença entre o passado que a Palestina estaria
deixando para trás e suas prospeções para o futuro. “Jovens
árabes”, diz o narrador, agora buscam “reviver suas tradições”
enquanto se tornam “cidadãos do mundo moderno”. Um tipo de
modernidade, entendemos pela própria narrativa, que viria com
a implementação do Mandato Britânico e com os colonizadores
sionistas que já trabalhavam na terra fazendo uso de uma “moderna maquinaria”. “Seja qual for o futuro político da Palestina”,
diz o narrador, “o Governo Britânico está determinado a fazer
com que a terra comum aos árabes e aos judeus se beneficie dos
privilégios da ciência Ocidental”. Desse modo, e logo após nos
mostrar a moderna arquitetura de Jaffa e Jerusalém, a Universidade
Hebraica e o novo Hospital Judaico, a única dúvida com a qual
o narrador nos deixa é o quanto árabes e judeus “poderão viver
juntos e em paz”.
“Portrait of Palestine», com um título já bastante simbólico, produz
uma narrativa que unifica significantes tais como nações / Ocidental
/ modernidade / Sionismo / benefícios. Através desta narrativa fílmica, entendemos que a novidade – o progresso e o desenvolvimento
– viria daqueles que lutam para fazer a Palestina crescer e ser o que
«sua terra sempre prometeu”. Além disso, aprendemos que o futuro
não somente virá das mãos dos judeus e dos Sionistas, como também
pelo conhecimento de (e compromisso com) um tipo de modernidade
inscrita em um Ocidente imaginado. De várias formas, esta narrativa
carrega já estratégias discursivas hegemônicas fundantes usadas a
favor da ocupação hoje em curso.
123
�Como “retrato” de um lugar, esta narrativa inventa um futuro,
contestando a Palestina do passado e reiterando-a como incapaz
de acompanhar as demandas do progresso. Na sua estrutura, todas as grandes narrativas – religião, modernidade e progresso, por
exemplo – se tornam parte da Palestina ali representada. Além de
reforçar uma compreensão binária do conflito que já ali se instalava –
o arcaico ou o moderno, o religioso ou o secular –, nesta narrativa
o discurso sionista é acobertado sob as perspectivas das promessas
do Ocidente. Um relato exemplar, queremos sugerir, pois ajuda a
fundar sentidos que também hoje vemos disseminados em meios de
comunicação hegemônicos e em outros sistemas de representação.
Esses que produzem graves estereotipias e contra os quais a Palestina
e os palestinos também têm procurado lutar.
Todorov nos lembra que “a narrativa está necessariamente inserida num diálogo do qual os homens não são apenas o objeto, mas
também os protagonistas.” (2009: 86). Nesse sentido, um contraste
com o retrato construído em “Portrait of Palestine” seria a fala de
Azzouni, em entrevista concedida ao Electronic Intifada 48: «Eu não
reconheço mais a cidade de Jerusalém, aquela na qual eu um dia
morei”. Azzouni é palestina, não mora mais em Jerusalém, e é através
do seu relato que também sabemos dos tempos disjuntivos inscritos
na sua experiência, em relação, particularmente, ao que a cidade de
Jerusalém é hoje e o que ela foi no passado.
Sua fala nos diz ainda das inúmeras restrições a ela impostas pelo
Estado de Israel em relação ao seu direito de ir e vir. Em outras palavras, através deste relato sabemos que não só Jerusalém vive uma
disjunção temporal como também entendemos que este é o aspecto
que molda a experiência de Azzouni. Sua família despedaçada assim o é porque ela não pode mais morar na cidade que marca e dá
Entrevista completa em: http://electronicintifada.net/content/israels-residency-regime-causes-silent-transfer-jerusalem/12814 (acesso outubro/2013)
48
124
�sentido à experiência que ela um dia viveu. É a partir desse desacerto
que Azzouni se constitui, ela mesma, como deslocada no tempo e
no espaço, pois ela própria é parte de uma família absolutamente
fragmentada:
dois são agora cidadãos franceses, eu sou jordaniana – e,
como uma palestina, não autorizada a requerer cidadania
jordaniana para o restante da minha família – e outros dois
são cidadãos que não pertencem a Estado algum. É muito
chocante, mas esta é a nossa Terra.
Se entendemos o conflito “entre os palestinos e o Sionismo como
uma luta entre uma presença e uma interpretação, sendo que os
primeiros constantemente aparecem subjugados e erradicados pelo
segundo”49, ler a Palestina e as experiências dos sujeitos envolvidos
no conflito, e que portanto sofrem suas consequências, é fundamental para nos revelar a complexidade que ali se inscreve. Quando o
fluxo dominante insiste em se organizar a partir de binarismos e de
narrativas totalitárias, por exemplo, as religiosas, os aspectos relativos aos desdobramentos e às contradições que o conflito produz
tornam-se armas muito significativas. Eles são modos de resistir pela
linguagem, pois nos ajudam a reinterpretar o conflito, jogando luz
sobre sujeitos, modos de vida e temas geralmente obliterados pelos
discursos do poder.
No microscópico e no ordinário – no elementar do cotidiano –
estão camadas, muitas vezes acobertadas pelas grandes narrativas,
que precisam ser constantemente escavadas e desveladas. É fundamental produzir imagens – representações – que se contraponham
às totalidades e aos absolutos. Os tempos disjuntivos que habitam a
Tradução livre do original: “if we understand the conflict between Palestinians
and Zionism as a struggle between a presence and an interpretation, [by] the former
constantly appearing to be overpowered and eradicated by the latter”. Said, 1992: 8.
49
125
�Jerusalém de Azzouni, por exemplo, tornam-se elementos relevantes,
pois nos ajudam a ressignificar a cidade supostamente dividida entre
o velho e o novo, entre o moderno e o tradicional.
Em material publicado no Brasil – uma reportagem para a Revista
Piauí50 – Flávia Castro faz uma espécie de diário, colocando em cena
duas das narrativas centrais que vigoram no conflito Israel/Palestina.
De um lado, israelenses certos de que o território é deles por direito, do outro, palestinos, seguros da violação do seu direito de viver
na própria terra. O caminho que a autora da reportagem escolhe
para mostrar essas “duas narrativas”, como ela mesma chama, não
consiste – e isto é muito importante – em simplesmente apontar, ou
mostrar, que elas existem.
A própria escolha de fazer um diário, forma tão particular para a
produção de relatos do cotidiano, é já relevante, pois ressalta uma
experiência com o presente imediato, sem a demanda por uma explicação ou por uma conclusão acerca do lugar para o qual nos levaria
o conflito. Afinal de contas, todo diário precisa do dia seguinte para
que o(s) acontecimento(s) se desdobre(m)51.
Além disso, ao narrar em primeira pessoa, Flávia Castro se desloca da perspetiva de autoridade que tal procedimento de antemão
lhe garantiria, pois deixa claro a sua própria dúvida quanto ao que
vai encontrar.
11 DE DEZEMBRO, QUINTA-FEIRA. Estou no Aeroporto Ben
Gurion, em Tel-Aviv, na fila da polícia. Ensaio mentalmente
todas as respostas que me ocorrem às perguntas que os agentes
Em http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-103/diario-flavia-castro/entre-duas-narrativas (acesso em agosto/2015)
50
Na invasão que o Iraque sofreu em 2003, Sérgio D’Avila, no jornal Folha de
São Paulo, faz uso desta mesma forma. O jornalista publica durante um mês
a coluna “Diário de Bagdá”, que hoje é um livro: Diário de Bagdá – A guerra
do Iraque segundo os bombardeados, de Sérgio Dávila e Juca Varella, DBA, São
Paulo, 2003.
51
126
�de segurança certamente farão. Amigos me preveniram: “Não
se assuste, é assim com todos. Podem até te levar para uma
salinha...” Verifico pela décima vez meus documentos. A fila
avança.
O ensaio mental para que se tenha as respostas na ponta da língua
e o ato insistente de verificar os documentos, gestos tão comumente
conhecidos como próprios de quem está em estado de tensão ao entrar
em qualquer país, denotam, de partida, o fato de que é do inesperado
que esta narrativa vai tratar. A autora deste modo abre para nós o desconhecido no qual ela mesma entra, a partir de uma experiência que
nos é comum a todos. São sensações a que temos acesso através de
um relato cujo tempo é a própria medida do acaso e da experiência:
“Menos de quinze minutos depois de eu ter tocado o solo, desmoronava
minha primeira ideia pronta sobre Israel. Afinal, não foi difícil entrar”.
A autora prossegue descrevendo o caminho até o apartamento
em que ficará hospedada. A cidade de Jerusalém, para onde Castro
se dirige logo que sai do aeroporto de Tel Aviv, longe de ser apresentada pelos seus já conhecidos locais de peregrinação, chega até
nós através das barreiras que ela enfrenta:
Minha imaginação paranoica não resiste à ideia de que no
momento em que eu estiver cruzando a cancela uma ressonância magnética revelará todos os segredos do meu corpo,
e até de meus pensamentos.
Desse modo, distante da narrativa religiosa que por princípio nos
tomaria pelo minimamente conhecido, através do corpo da narradora, acessamos já os entraves que circundam uma cidade sitiada.
Chegamos ao aeroporto em Israel, pegamos a estrada, vemos “tanques
verde-claros estacionados no acostamento” e nos deparamos logo
com as disputas e os limites que o território vive.
127
�Para Bhabha, o narrar é que torna possível o gesto de colocar
em cena camadas de “restos, retalhos, pedaços da vida cotidiana”,
partes que, para este autor, “são insistentemente transformadas [por
narrativas totalitárias] em signos coerentes de uma suposta cultura
nacional”52 . A tensão que experimentamos, as cancelas e os tanques
que cruzamos com Flávia Castro, ou os tempos disjuntivos que também
conhecemos no relato de Azzouni, no escopo das grandes narrativas
que formam e permeiam o conflito Israel/Palestina, são para nós os
retalhos, ou os pedaços de um cotidiano, elementos fundamentais
para uma leitura menos determinada – e menos determinista – acerca
daquele território.
Sob essa ótica, a reportagem de Flávia Castro se desloca das narrativas totalitárias exatamente porque ela atravessa o conflito, muito
mais do que o define ou explica. A visita ao Museu do Prisioneiro
Palestino, seguida por uma outra, ao Museu do Holocausto, abre contrapontos importantes, pois delineiam, desde já, as duas narrativas
a que a autora se refere:
17 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA – Da Palestina fomos
direto para um dos mais importantes memoriais do Holocausto,
o Yad Vashem, localizado numa colina nas proximidades de
Jerusalém. Somos recebidos por Avraham Milgram, simpático
historiador brasileiro que trabalha lá há muitos anos. Ele nos
diz: ‘Cada museu do Holocausto tem o seu ponto de vista.
Aqui, toda a narrativa é construída a partir do ponto de
vista da vítima.’ Como que em continuação do museu, vejo
Jerusalém. Israel, ‘a Terra da Salvação’ para uns, ‘a Terra
Prometida’ para outros. O fim da narrativa é claro. Estamos
nela. Penso novamente no Museu do Prisioneiro Palestino.
Tradução livre do original, “(…) the scraps, patches and rags of daily life are repeatedly turned into the signs of a coherent national culture”. (Bhabha, 2006: 209).
52
128
�A simplicidade de um, a sofisticação do outro. Os dois têm
uma coisa em comum: o lugar da vítima, no centro das
respectivas narrativas, como ponto de partida para pensar o
seu lugar no mundo.
Todos são vítimas, esta é a regra que define os modos de ser
nessa geografia violentada; uma afirmativa absolutamente contestável diante da ocupação e da não equiparidade53 que rege as forças
que atuam no conflito. Pensamos: se o que há em comum entre o
palestino e o israelense é pensar o mundo a partir do seu lugar de
vítima, encontramo-nos no cerne do imbróglio: qual das vítimas tem
mais ou menos direito a este lugar?
Flávia Castro, neste instante, toca no que talvez seja o mais acentuado dos problemas: a questão territorial. E quase um mês depois,
ela volta ao tema: “13 DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA – Para eles, o
único ponto de partida e de chegada possível para pensar o mundo
é a própria tragédia”. E ainda nesse mesmo dia, ela conta:
Numa livraria, vejo um mapa da Palestina de 1948, igual
ao que o guia do museu palestino e o colono [no Museu do
Holocausto] usaram para suas narrativas. Entro e compro,
talvez numa esperança vã de que o traçado das fronteiras
me ajude a dar alguma concretude às mil questões que me
assolam.
Esforço vão o da narradora, pois não há mapa ou linha fronteiriça que consiga explicar a divisão entre o território palestino e o
ocupado. O trauma ou a crença cega, em cada um, é o que traça o
seu mapa; é o que desenha a sua fronteira.
Ilan Pappé (2010) faz uma crítica contundente à mídia, de modo geral, dizendo que
para narrar o conflito na região, ela parte de um injusto “paradigma de equiparidade”,
o que pressupõe uma igualdade entre o Estado de Israel e a Palestina.
53
129
�Em um território cujo povo experimenta o dilema de ter sido
o que hoje não é ou de ter vivido onde hoje não se pode viver, as
histórias adquirem um papel crucial: elas representam o esforço de
recuperação/sustentação de uma memória e/ou a própria construção
do sentido da terra. É assim que nas narrativas acerca deste conflito,
de forma muito marcante, a disputa pela fala verdadeira se traveste,
ela mesma, na disputa pela própria narrativa.
Através do diário de Flávia Castro, colocamo-nos diante do que,
neste conflito, não se consegue medir; é esta a disputa a que temos
acesso. O humano que ali habita, de algum modo, insiste em se fazer
presente, em estado de conflito. Para a autora, foram 38 dias dos quais
ela ainda não falou “dos tomates-cereja, do vinho e das romãs. (…) do
mercado, da beleza do deserto”. Mas quem a acompanhou no relato,
ficou com as experiências e os lugares de que o conflito se constitui.
Conclusão
Sabemos que a linguagem, e particularmente o modo como a
narrativa a pressupõe, assume um caráter eminentemente semiótico,
ela é lugar de produção de sentidos, ela não se exaure no dizer, ela
é o infindável jogo do significante. Nas palavras de Heidegger, ela
é “mais poderosa e por isso [tem] mais peso do que nós mesmos”
(2003: 98). E é por este caminho que se deve também entender que
olhar a imprensa a partir da narrativa pressupõe colocar em questão
uma “tarefa hermenêutica”, pois é o jogo mimético entre o mundo
do autor, o da obra e o do leitor que evidencia o processo de produção de sentidos (Ricoeur, 2010). Um processo que, inevitavelmente,
produz faltas e diferenças.
Em entrevista concedida ao Jornal O Globo (14/01/2012), Bhabha
se refere ao poder da narrativa enquanto espaço no qual sentidos e
diferenças podem ser notados. Segundo o autor,
130
�a verdadeira natureza da narrativa sempre levanta a questão:
se as coisas fossem diferentes, qual poderia ser o resultado?
Se eu não fosse eu mesmo, como veria o mundo? (...) Questões
sobre alteridade, alternância e contrafatualidade estão no
centro do projeto (...) cultural, e é por isso que penso que [o
olhar sobre a narrativa] nos ajuda a sobreviver.
Assim, em suas formas factuais e ficcionais, binárias e não, a
narrativa é invariavelmente constitutiva de um processo político e
estético de produção e ressignificação de sentidos sobre o mundo.
E é por este viés que o esforço de compreender o jornalismo através
de suas narrativas ajuda-nos a problematizar e criticar seus princípios.
A menos que aceitemos que transmitir informação seja sua única
função, não há como pensá-lo, através da narrativa como problema
(Resende, 2011), sem colocarmos em pauta as insuficiências que a
linguagem produz. É do caráter da linguagem não dar conta do todo;
é próprio de qualquer sistema de representação significar a falta.
Portanto, pelo olhar da narrativa, o jornalismo, a despeito do seu
esforço de clareza e precisão, não passaria impune pelos desígnios
da linguagem.
A perspetiva sobre o conflito Israel/Palestina a que temos acesso através do relato de Azzouni ou do diário de Castro – esta que
torna visível os conflitos dentro do conflito – não comporta o todo
e portanto não invalida um outro modo de narrar, mais objetivista,
que também guarda o potencial de encenar aspectos importantes
que constituem aquele acontecimento. Aqui não está em questão a
maneira correta ou não de representar, o que está em jogo é o modo
de falar da coisa sobre a qual se fala. Estamos, na verdade, perguntando: em que medida e de que maneira é possível outras formas de
narrar o conflito? Edward Said, ao argumentar sobre as formas de
representação do colonizado, reitera que “as narrativas são de uma
forma ou de outro política e ideologicamente permissíveis” (1989:
131
�222), tudo dependeria dos modos como os tópicos e os sujeitos nelas
são inscritos.
Na chamada «grande imprensa”, na maioria das vezes, as narrativas
a que temos acesso sobre esta geografia violentada são tão controladas pelas instâncias políticas e econômicas que a dominam, que só
vemos imperar um discurso binário e dicotômico, pouco afeito às
nuances do conflito. Sob essa ótica, os restos que aparecem no relato
de Azzouni ou no diário de Castro funcionam como um contraponto
essencial. Ali estão narrativas que carregam e guardam a potência de
refazer-se em outras, de desdobrar-se. Nas palavras de Michel Serres,
A formação de uma narrativa dá provas (…) de uma tensão incessante entre a necessidade de utilizar formas preestabelecidas, um formato, para poder comunicar de maneira
confiável e uma equivalente obrigação de quebrar, de refazer
essas formas porque as circunstâncias contingentes vêm restringi-las e a repetição pura e simples não comporta nenhuma
mensagem. (2015: 191)
No atual quadro histórico-cultural em que nos encontramos, reconhecer esta ambiguidade que conforma a narrativa significa referendar o amálgama estética/política (Rancière, 2012). E desse modo,
é à luz de um paradigma relacional que se precisa trabalhar contra
a sedimentação das estereotipias, escavando os processos em que
conflitos de longa duração se inscrevem e produzindo narrativas
que falem também do que constitui os poderes que os engendram.
No caso da Palestina, para Edward Said,
É preciso seguir contando histórias de forma contundente
e tão insistentemente, e de tantos modos quantos forem
possíveis, para chamarmos atenção, pois sempre há o medo
de que a Palestina possa desaparecer (2003: 187).
132
�O esforço de apagamento do território palestino tem causado danos
irrecuperáveis em termos humanos e físicos. Porém, ele não tem efetivamente produzido o seu desaparecimento. Ainda que na forma de uma
geografia violentada, a Palestina, como nação, segue se reinventando
da maneira que pode, e hoje, mais que nunca, além da resistência
dos próprios palestinos, são as narrativas que a mantém viva. É sob
esta perspetiva que também tratamos do território palestino – e do
conflito ali instalado – como um desafio para a imprensa. Uma geografia exaurida esgarça os domínios do pensamento e da linguagem,
tornando irrepresentável o próprio fato de que a geografia é vítima.
E neste caso específico, é o próprio que se torna indecifrável.
Sabemos que para a imprensa esta pode não ser das tarefas a mais
simples. Porém, mais que transmitir, esta reflexão sugere que hoje representar, nos termos aqui discutidos, é uma de suas funções essenciais. Por
este viés, é preciso, mais que nunca, o esforço de narrar essa geografia
violentada a partir dos efeitos político-culturais que afetam as experiências de quem vive o conflito. Talvez através desses espaços liminares,
retomando a angústia de Michel Serres na epígrafe deste artigo, possamos
nos fazer atentos a uma narrativa que seja mais próxima do homem.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAKHTIN, M. (1981). The dialogic imagination. Austin: University of Texas Press.
BARTHES, R. (1988). O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense.
BENETTI, M. e LAGO, C. (orgs.) (2007). Metodologia de Pesquisa em Jornalismo.
Petrópolis: Vozes.
BHABHA, H. (2006). The location of culture. London: Routledge Classics.
BHABHA, H. (1990). Nation and Narration. London: Routledge.
BIRD, E. & DARDENNE, R. (1999). “Mito, registro e estórias: explorando as qualidades narrativas das notícias”. In TRAQUINA, N. (Org.). Jornalismo: questões,
teorias e ‘estórias’. Lisboa: Vega.
133
�CERTEAU, M. (2000). A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes.
FOUCALT, M. (2002). The Archeology of Knowledge. London: Routledge.
FRANÇA, V.; CORRÊA, L. (Orgs.). Mídia, instituições e valores. Belo Horizonte: Autêntica.
FRANÇA, V. (2006). «Sujeito da comunicação, sujeitos em comunicação». In FRANÇA,
V.; GUIMARÃES, C. (Orgs.). Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Belo
Horizonte: Autêntica.
FRANÇA, V. (2004) “Representações, mediações e práticas comunicativas”. In FOLLAIN
& GOMES & PEREIRA (Orgs.). Comunicação, representação e práticas sociais.
Rio de Janeiro: PUC-Rio.
GENET, J. (2003). The Prisoner of Love. New York: Review Books.
GOMES, M. (2008). Comunicação e Identificação: ressonâncias no jornalismo. Cotia:
Ateliê Editorial.
HEIDEGGER, M. (2003). A caminho da linguagem. Petrópolis: Vozes.
KHALIDI, R. (2010). Palestinian Identity – the construction of modern national
consciousness. New York: Columbia University Press.
LATOUR, B. (2009). Jamais fomos modernos – ensaio de antropologia simétrica. São
Paulo: Nova Fronteira.
MARCOS, M. (2010). “Comunicação, experiência e a questão do reconhecimento: a
alteridade radical no pensamento de Levinas” (entrevista)” in Intercom – Revista
Brasileira de Ciências da Comunicação, São Paulo, v. 33, n. 2, pp. 240-251.
MARCOS, M. (2007). Princípio da relação e paradigma comunicacional. Lisboa: Colibri.
MATAR, D. & HARB, Z. (Eds.) (2013). Narrating conflict in the Middle East: discourse, image and communications practices in Lebanon and Palestine. London:
I B Tauris.
MATTOS, O. (2006). Discretas esperanças – reflexões filosóficas sobre o mundo contemporâneo. São Paulo: Nova Alexandria.
PAPPÉ, I. & HILAL, J. (2010). Across the wall – narratives of Israeli-Palestinian
History. London: I.B.Tauris.
RANCIÈRE, J. (2012). O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto.
RANCIÈRE, J. (2005). A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Ed. 34.
RASHID, K. (2010). Palestinian Identity – The construction of Modern National
Consciousness. New York: Columbia University Press.
134
�RESENDE, F. (2012). “Falar para as massas, falar com o Outro: valores e desafios
do jornalismo”, in FRANÇA, V. & VAZ, P. (Orgs.). Comunicação midiática:
instituições, valores, cultura. Belo Horizonte: Autêntica.
RESENDE, F. e PAES, A. (2011b). The Arab conflicts and the media discourse – a
Brazilian perspective», in Global Media and Communication Journal. London:
Sage, vol.7, n.3, pp. 215-219.
RESENDE, F. (2011a) “Às desordens e aos sentidos: a narrativa como problema de pesquisa”,
in SILVA, G., KÜNSCH, D., BERGER, C. e ALBUQUERQUE, A. (Orgs.). Jornalismo
contemporâneo – figurações, impasses e perspectivas. Salvador: Edufba, pp. 119-138.
RESENDE, F. (2008). “(Des)caminhos: o jornalismo e seus desafios metodológicos”,
in Revista Galáxia. São Paulo: PUC-SP, n.15/julho.
RICOEUR, P. (2010). Tempo e narrativa. (Tomos 1, 2 e 3). São Paulo: Martins Fontes.
RICOEUR, P. (2005). “Discours et communicacion”, in Cahier de L’Herne Ricouer.
Paris: Editions de L’Herne, n.81.
ROGOFF, I. (2000). Terra Infirma: geography’s visual culture. London: Routledge
SACCO, J. (2010). Notas Sobre Gaza. São Paulo: Companhia das Letras.
SACCO, J. (2005). Palestina – Na Faixa de Gaza. São Paulo, Conrad.
SACCO, J. (2000). Palestina: Uma Nação Ocupada. São Paulo: Conrad.
SAID, E. (2003). Culture and Resistance: conversations with Ed. Said. Cambridge:
South End Press.
SAID, E. (1994). Culture and Imperialism. London: Vintage.
SAID, E. (1992). The Question of Palestine. London: Vintage Books.
SAID, E. (1989). “Representing the Colonized: Anthropology’s Interlocutors”, in
Critical Inquiry, Vol. 15, No. 2.
SAID, E. (1986). After the last sky. New York: Pantheon Books.
SCHUDSON, M. (2001). “The objectivity norm in American newspapers”, in Journalism:
theory, practice and criticism. Vol.2, N.2, pp. 149-170.
SERRES, M. (2015). Narrativas do Humanismo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
TAWIL-SOURI, H. (2012). “The necessary politics of Palestinian Cultural Studies”, in
SABRY, T. (Ed.). Arab Cultural Studies – mapping the field. London: I.B.Tauris.
TODOROV, T. (2009). A literatura em perigo. São Paulo: Difel.
135
�TUCHMAN, G. (1999). “Contando estórias”, in TRAQUINA, N. (Org.). Jornalismo:
questões, teorias e ‘estórias’. Lisboa: Vega.
�ESTUDOS NARRATIVOS E TEORIA DO JORNALISMO:
A NARRATIVA DE VEJA E ISTO É SOBRE
UMA MANIFESTAÇÃO DE ESTUDANTES DA USP54
Bruno Araújo
Universidade de Brasília/ CEIS 20
Introdução
A arena mediática se constituiu, ao longo dos tempos, como espaço privilegiado de discussão da atualidade, ao qual recorremos
continuamente, para obter informações acerca do que se passa a
nossa volta. O campo jornalístico, em particular, erigiu-se em torno
de um conjunto de ideias míticas, relacionadas ao poder social do
jornalismo, que se autodenomina de contrapoder, cão de guarda, ou,
pomposamente, de guardião dos sistemas democráticos, sem admitir,
contudo, que integra o sistema político de qualquer democracia e
que atua politicamente em muitas ocasiões. Tendo por base essas
concepções – que formam aquilo a que Traquina (2007) chama de
tribo jornalística – o jornalismo e a sua produção foram vistos, por
muito tempo, como verdadeiros espelhos ou representantes fiéis dos
acontecimentos.
Uma primeira versão deste texto foi publicada na Biblioteca Online de Ciências
da Comunicação (BOCC).
54
137
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_5
�Com a chegada das teorias do newsmaking, na segunda metade
do século passado, teóricos passaram a entender a práxis jornalística de modo contrário: tratar-se-ia de uma ação comunicativa que
constrói e modela a realidade no exato momento em que a reporta.
Essa concepção construtivista levou diversos autores ao estudo do
substrato narrativo subjacente ao texto e à enunciação jornalísticos,
perspectivando notícias, reportagens e outros produtos informativos
como narrativas ou estórias. A teoria do jornalismo começava, pois, a
relacionar-se com um conjunto de contribuições teóricas provenientes
dos estudos literários, numa tendência demonstrativa da profunda
abertura epistemológica por que passou a narratologia.
Circunscrita inicialmente ao universo da literatura, a narratologia
moderna deve o seu alargamento a outras disciplinas do conhecimento, no final dos anos 1960, aos esforços de homens como Roland
Barthes, Claude Bremond, Gérard Genette, A. J. Greimas e muitos outros. No conhecido número oito da revista francesa Communications,
esses autores iniciaram uma mudança radical nos pressupostos conceptuais da narrativa, contribuindo para a transformação da narratologia numa área interdisciplinar, transdisciplinar e, por vezes,
contradisciplinar. A narrativa deixou de estar associada apenas à
linguagem verbal e escrita, passando a ser encarada como fenômeno
universal, integrante do processo histórico, suscetível de apresentar-se sob diferentes suportes, em tempos diversos. Com efeito, o
conceito foi de tal maneira alargado que se tornou objeto de estudo
de inúmeras áreas do saber, todas com inquietações epistemológicas
específicas, para cujas respostas as narrativas se transformaram em
terreno empírico privilegiado.
Neste artigo, reunindo contribuições dos estudos narrativos e da
teoria jornalística, procuraremos refletir, em primeiro lugar, acerca da
existência de formas distintas de narrar a realidade no jornalismo, que
mudam de acordo com o modo como o enunciador interpreta e estrutura discursivamente os acontecimentos, em consonância com fatores
138
�intrínsecos e extrínsecos ao trabalho jornalístico. Convocaremos,
em primeiro lugar, alguns conceitos dos estudos narrativos – entre
eles, o próprio conceito de narrativa – com o objetivo de pensar as
narrativas jornalísticas, que possuem um dever de colagem à realidade factual, mas guardam profundas semelhanças narratológicas
com outros tipos de narrativa. Tendo isso em vista, trataremos, em
segundo lugar, de verificar, na análise de duas reportagens acerca
de uma manifestação de estudantes da Universidade de São Paulo,
como ocorre esse processo de moldagem da realidade, observando
em que medida o dever referencial que caracteriza o jornalismo se
mantém ou não intacto.
Influências do modo narrativo sobre o do discurso jornalístico
Como forma de demonstrar a transversalidade e a complexidade
da narrativa, diz-nos Barthes, num dos textos seminais da nova fase
dos estudos narrativos:
(…) le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux,
dans toutes les sociétés; le récit commence avec l’histoire
même de l’humanité; il n’y a pas, il n’y a jamais eu nulle part
aucun peuple sans récit; toutes les classes, tous les groupes
humains ont leurs récits (…) le récit se moque de la bonne
et de la mauvaise littérature: international, transhistorique,
transculturel, le récit est là, comme la vie (Barthes, 1977: 8-9)
Partindo do estímulo barthesiano, para que possamos entender a
notícia, a reportagem e outras produções jornalísticas como construções narrativas, precisamos recorrer ao próprio conceito de narrativa,
problematizado por um rol de autores. Segundo Gérard Genette “a
narrativa é a representação de um acontecimento ou de uma série
139
�de acontecimentos, reais ou fictícios, por meio da linguagem e, mais
particularmente, da linguagem escrita” (Genette apud Silva, 2007: 50).
Todorov, por sua vez, acredita que “a narrativa é um texto referencial
com temporalidade representada” (Todorov apud Silva, 2007: 50).
Ambos os autores elucidam aspectos cruciais para a concepção de
qualquer narrativa, incluindo as jornalísticas.
Se os aplicarmos ao gênero reportagem, por exemplo, encontraremos inúmeras semelhanças. A própria etimologia da palavra – reportare, quer dizer: transportar – indica movimento de transporte de
uma determinada realidade para o público, o que faz da reportagem
um gênero flagrantemente referencial. Da mesma forma, esse tipo
textual organiza ações em sucessão e as insere numa linha temporal
específica. Naturalmente, nem as ações, nem o fator tempo de uma
narrativa jornalística assumem a mesma complexidade que teriam
numa narrativa romanesca ou em outra com sofisticação similar.
Seymour Chartman também oferece um conceito de narrativa que,
da mesma forma, pode ser aplicado ao texto jornalístico. Para o autor,
una narración es un conjunto porque está constituido de
elementos – sucesos y existentes – que son individuales y
distintos, pero la narración es un compuesto secuencial.
Además, los sucesos, en la narración (al contrario de la
compilación fortuita), tienden a estar relacionados o ser causa
unos de otros (Chartman, 1990: 21).
Com efeito, o discurso jornalístico lança mão de um conjunto
de procedimentos que deixam antever um acentuado grau de narratividade. Um exemplo é o modo de organização das ações, numa
lógica sequencial, ainda que não cronológica haja vista as convenções textuais ditadas pelo lead das notícias, escritas segundo um
modelo de pirâmide invertida. A sucessividade das ações nos textos
jornalísticos, não sendo resultado de uma compilação fortuita, como
140
�diz Chartman, faz parte de um universo muito maior de enunciação
e produção de sentidos no interior do qual o jornalista exerce papel
enunciativo proeminente.
Estudando, pois, o grau de narratividade das narrativas jornalísticas, Fernando Resende chama a atenção para algumas de suas particularidades, quando as confrontamos com outros tipos de narrativa:
Nas narrativas jornalísticas, o ato de narrar é uma problemática
a ser enfrentada. Nelas, a forma autoritária de narrar as histórias mantém-se, e, de certa forma, com muitos agravantes por
apresentar-se velada. Envolto no real e na verdade como referentes, além de trazer a imparcialidade e a objetividade como
operadores, o discurso jornalístico tradicional – aquele que é
epistemologicamente reconhecido – dispõe de escassos recursos
com os quais narrar os fatos do quotidiano (Resende, 2006: 8).
A essa dimensão acrescentamos, com Michael Schudson, que,
como todas as outras, as narrativas jornalísticas são produtos culturais contemporâneos, pois retêm ecos da realidade onde são construídas. Relativamente às notícias, o autor destaca que “as notícias
como uma forma de cultura porque incorporam suposições acerca
do que importa, do que faz sentido, em que tempo e em que lugar
vivemos, qual a extensão de considerações que devemos considerar”
(Schudson apud Traquina, 1999).
Teorias do newsmaking: outro olhar sobre a produção da notícia
As ideias defendidas pelo newsmaking visam combater pressupostos da teoria do espelho, uma das primeiras teorias do jornalismo,
segundo a qual os jornalistas seriam agentes descomprometidos,
cuja intenção principal seria transmitir objetivamente a realidade,
141
�sem interferências no curso normal dos acontecimentos. O combate
a essa visão causou grandes discussões entre os profissionais, que
preferem apresentar-se como narradores objetivos da realidade, na
medida em que isso reafirma a credibilidade com que justificam a
sua atuação na esfera pública (Guazina, 2011). Traquina é elucidativo
a esse propósito:
O ethos dominante, os valores e as normas identificadas com
um papel de árbitro, os procedimentos identificados com o
profissionalismo, faz com que dificilmente os membros da
comunidade jornalística aceitem qualquer ataque à teoria
do espelho, porque a legitimidade e a credibilidade dos
jornalistas estão assentes na crença social de que as notícias
refletem a realidade (Traquina, 2004: 149).
A legitimidade e a credibilidade, sublinhadas pelo autor, são valores profissionais construídos ao longo do processo de profissionalização do jornalismo, com raízes na fase de industrialização da imprensa,
no século XIX. A criação e a propagação de uma visão apática e
descomprometida do profissional fazia parte de uma estratégia econômica que visava alargar os públicos, atrair mais publicidade para
os jornais e, assim, fazer da imprensa um negócio lucrativo. Era, por
isso, importante defender a teoria do espelho, como forma de abafar
a imagem de uma imprensa panfletária, parcial, que transformava
os periódicos em verdadeiras máquinas políticas.
Um dos principais argumentos daqueles que refutam a visão do
jornalismo como espelho da realidade é a impossibilidade de existência de uma linguagem neutra ou de um grau zero na escrita. Ao
dar vida textual a um acontecimento, o jornalista incorpora, mesmo
involuntariamente, marcas da sua subjetividade e das que derivam das
relações intersubjetivas estabelecidas com outros atores, dentro e fora
da profissão, que impedem um retrato fiel do que se passa no mundo
142
�ontológico. Diante dessa impossibilidade, também marcada por diversos
constrangimentos profissionais – de que a escassez de tempo, a linha
editorial do veículo ou a influência das fontes são exemplos clássicos
– que organizam as rotinas de produção, a enunciação jornalística
é sempre o resultado de um recorte deliberado, de uma construção
discursiva do real, necessariamente truncado, na medida em que a sua
figuração obedece a códigos de seleção previamente estipulados pelo
enunciador com vista à criação de determinados efeitos de sentido.
Por outro lado, alguns autores, como Gaye Tuchman (2002), referem que o texto jornalístico é sempre uma estória. É preciso estar
atento, todavia, a possíveis associações errôneas desses termos a uma
ficcionalização do real. Encarar as notícias e as reportagens como
construções não é o mesmo que as pensar, por exemplo, na perspetiva
da criação literária, na qual o autor é livre para percorrer os universos
possíveis da imaginação. Por isso, o jornalista-contador-de-estórias –
analogia comum entre os autores do paradigma construtivista – não
é um ficcionista, mas um indivíduo que assume uma postura distinta
da do jornalista-espelho, defendida por paradigmas anteriores.
Essa reflexão está bem presente no pensamento de Bird e Dardenne
(1999: 163), para os quais “considerar as notícias como narrativas não
nega o valor de as considerar como correspondentes da realidade
exterior”. Gaye Tuchman vai além: “dizer que uma notícia é uma
estória não é, de modo algum, rebaixar a notícia, nem acusá-la de
ser fictícia. Melhor, alerta-nos para o fato de a notícia, como todos
os documentos públicos, ser uma realidade construída possuidora
da sua própria validade interna (Tuchman, 1999: 262).
Toda essa discussão é suficiente para compreendermos o enorme
poder social dos media sobre a opinião pública. Para além de manterem influência determinante na definição dos temas da agenda
pública, eles “interferem no status quo e recriam modos de vida,
porque leem e provocam releituras de experiências subjetivas e objetivas e, vale dizer, de forma às vezes tão imperativa, que se tornam
143
�o lugar de onde as pessoas retiram o que sabem e o que se dispõem
a compreender acerca do quotidiano e da vida” (Resende, 2006: 2).
Apontamentos metodológicos
No sentido de trabalhar empiricamente algumas das questões discutidas anteriormente, com especial interesse na observação do modo
como a realidade é retratada pelo jornalismo, selecionamos textos
jornalísticos publicados em duas revistas brasileiras de circulação semanal a propósito de uma manifestação de estudantes da Universidade
de São Paulo. Trata-se das reportagens “A rebelião dos mimados”,
publicada por Veja, e “Quem são os radicais da USP”, veiculada em
IstoÉ. A dimensão limitada do corpus respeita os pressupostos das
análises qualitativas, nomeadamente os da análise crítica do discurso. Essa exige do analista a circunscrição máxima do seu objeto de
estudo no sentido de esmiuçá-lo ao pormenor, para identificar as
estruturas de sentido mais profundas e, por isso, menos visíveis do
texto. Também por essa razão, a análise dará ênfase sobretudo aos
títulos, subtítulos e lead – fragmentos que constituem, para van
Dijk (2005), a superestrutura do texto jornalístico, pois concentram
as linhas centrais de conteúdo a partir das quais a macroestrutura
textual se configura.
Sendo o jornalismo uma profissão que lida diretamente com a realidade, reconstruindo-a, através de narrativas, recorreremos à Análise
Crítica do Discurso, que oferece um rol de ferramentas capazes de
demarcar as estratégias textuais e os dispositivos ideológicos das
narrativas jornalísticas. Observaremos, portanto, as opções lexicais
e as estruturas linguísticas que materializam textualmente as ideias
do enunciador narrativo, tendo em especial atenção que as escolhas
“feitas pelo produtor textual são simultaneamente escolhas ideacionais e interpessoais, que expressam opções ideológicas particulares”
144
�(Pedro, 1997: 306). Analisaremos a presença da interdiscursividade
nas narrativas, que é uma estratégia discursiva que insere outras
estruturas discursivas, textuais e contextuais, no discurso principal,
com o objetivo de criar certos efeitos de sentido (Fairclough, 2001).
Além disso, a genericização do real, que consiste na redução de
eventos e indivíduos a abordagens genéricas – e, por consequência,
estereotipadas – integrará o conjunto de categorias desta análise
(van Leeuwen, 1997).
Esse conjunto de ferramentas possibilitará observar a maneira
como o narrador-jornalista construiu, em cada caso, a narrativa de
uma manifestação estudantil, elucidando o conjunto de opções que
contribuíram para a construção de determinadas constelações semânticas em torno do evento narrado. Procuraremos, ainda, perceber os procedimentos que incidiram na construção identitária dos
estudantes, vistos aqui como personagem jornalística, cuja figuração
“(...) é submetida a um trabalho de construção e composição que nos
impede de a lermos com o reflexo especular da figura real que lhe
deu origem” (Peixinho, 2014: 332). Naturalmente, o modo de figuração
do estudante como personagem terá influência sobre a percepção
pública acerca dos movimentos estudantis, encarados como positivos
ou negativos em função da semantização operada pelas revistas.
A narrativa de Veja e IstoÉ sobre uma manifestação estudantil
Veja: “A rebelião dos mimados”
A reportagem em análise, publicada em nove de novembro de
2011, e assinada por Marcelo Sperandio, assume claros sentidos ideológicos, observáveis tanto pelas escolhas lexicais e linguísticas do
narrador-jornalista, quanto pela forma como a narrativa é estruturada
pelo enunciador. Também a fotografia aparece aqui como elemento
145
�semiológico crucial, que auxilia na formação de uma certa unidade
semântica da narrativa.
Inicialmente, o título, o subtítulo e o lead cumprem o modelo
de superstrutura, aplicado por Teun van Dijk (2005:67) às notícias.
Embora a técnica jornalística do lead não seja comummente utilizada
em reportagens – produções que primam por uma maior liberdade
criativa do jornalista – o primeiro parágrafo responde às cinco perguntas (o quê, quem, quando, onde e porquê), organizadas numa
relação de causalidade que confere à produção um certo hibridismo
classificatório quanto ao gênero jornalístico em causa.
A utilização da palavra [rebelião], em posição topicalizada – no
título – remete-nos para a ideia de que houve uma resistência violenta, protagonizada por indivíduos de atos excessivos [mimados].
O subtítulo possui um sentido global, que poderá ser dividido em
três proposições menores, com significados próprios, mas interdependentes: [Com roupas de grife e donos de carros caros] remete
o leitor para o estatuto socioeconômico dos estudantes envolvidos;
[estudantes depredam a USP] indica um ato de extrema violência,
confirmado pelo verbo, na terceira pessoa do plural, do presente
do indicativo – “depredam” – de estudantes contra a instituição universitária inteira – “USP”, a qual aparece em posição passiva, logo,
na condição de quem sofreu uma determinada ação; finalmente, em
[porque querem fumar maconha sem ser incomodados], a conjunção
de causalidade – “porque” – indica o motivo pelo qual os estudantes
“depredaram” a instituição.
Com efeito, todas essas significações limitam horizontes de expectativas e indicam protocolos de leitura, através dos quais o público
poderá fazer a sua interpretação, em conformidade ou não com a
proposta cognitiva do enunciador. Logo no primeiro parágrafo, o
narrador-jornalista chama a atenção do leitor para uma das imagens
(fig. 1), que mostra um estudante sorridente – postura que contrasta,
desde já, com a situação de revolta enunciada no título – e especifica
146
�Figura 1: Imagem publicada na reportagem de Veja
Fonte: Veja, 9 de nov. 2011
determinados atributos dos envolvidos [moletom da grife americana GAP; óculos de 500 reais da italiana Ray Ban], que, vale dizer,
são representados pela figura individual do estudante [o rebelde de
GAP], apresentado, genericamente, como o [retrato fiel] do grupo
de estudantes. Note-se, aqui, a tentativa de situar esse estudante na
condição de personagem-tipo da narrativa, uma subcategoria que se
caracteriza pela reunião de um conjunto de traços facilmente identificáveis pelo leitor, comportando, assim, enorme efeito representativo.
Sem nenhuma dúvida, a estratégia de genericização da realidade
a que fizemos alusão contribui para a formatação de um perfil específico dos manifestantes perante o público da revista. Tratar-se-ia de
indivíduos irresponsáveis, de classe média alta, que querem, impunemente, fazer uso de drogas, no campus universitário. A criação dessa
147
�imagem dos estudantes – ou, segundo van Leeuwen (1997), desses
atores sociais perspectivados como personagens jornalísticas – é feita,
paulatinamente, ao longo de toda a narrativa, sempre com recurso a
estruturas proposicionais assertivas, que insistem no realce da posição
socioeconômica dos estudantes, como em: [circulam em carros cujo
preço supera 50.000 reais]; [assumiu a direção de um Polo Sedan e
outro embarcou em seu Kia Soul]. O protocolo de leitura oferecido ao
leitor também é instituído aí pelo recurso à interdiscursividade cuja
presença é comprovada pela alusão a ícones de uma vestimenta luxuosa.
Além disso, o narrador-jornalista seleciona um conjunto de sinônimos para o termo “estudantes”, através de um processo continuado
de categorização, que possui uma carga semântica altamente disfórica.
Os manifestantes são tratados, várias vezes, como: “maconheiros”;
“mimados”; “rebeldes”; “crianças”; “garoto mimado”; “birrentos”; “vândalos”; “filhinhos de papai”; “invasores”; “rebeldes mimados”; “mauricinhos”. Por outro lado, a manifestação, propriamente dita, é referida
como: “bagunça”; “pirraça”; “rastro de destruição”; “baderna”; “arruaça”;
“turba”. Ora, a utilização desse vocabulário é resultado não apenas de
escolhas lexicais determinadas, mas, como lembra van Dijk (2005),
são, claramente, decisões ideológicas, que revelam o posicionamento
do enunciador e, consequentemente, constroem mapas mentais de
percepção, importantes para que também o público se posicione.
Mesmo assim, o narrador-jornalista encontra outras formas, – muito
mais visíveis – de se posicionar. Ao longo da narrativa, as proposições,
em posição subordinada: [mas, coitadinhos, a lei não deixa] e [revolução
tem limite], bem como, a proposição que finaliza o texto, após uma
citação em discurso direto, [Esse menino precisa de castigo, papai],
representam, visivelmente, a voz do narrador, que não se exime de
assumir um discurso avaliativo em relação à situação narrada, numa
atitude que não encontra guarida na vasta literatura sobre boas práticas
jornalísticas. Trata-se, aqui, claramente, de uma narrativa em estilo
panfletário, visto que todas as estratégias discursivas mobilizadas pelo
148
�enunciador possuem o condão de construir um argumento depreciativo
em face da manifestação, sem a menor preocupação em ouvir diretamente os envolvidos na ação. A narrativa parte de uma premissa – os
estudantes são mimados – e converge um conjunto de estratégias ao
longo do seu desenvolvimento para demonstrar isso mesmo.
Por fim, é importante salientar a citação mimética, em discurso
direto, da mãe de um estudante da USP, – assassinado, há meses,
após uma tentativa de assalto –, que vê a manifestação como um
[capricho de uma minoria]. O pensamento da mãe, emocionalmente
fragilizada, é outra estratégia discursiva fundamental para a confirmação de todo o processo de significação disfórica, gradativamente,
criado no decorrer da narrativa. Essa estratégia, com efeito, possui o
objetivo de acrescentar à diegese uma digressão em nada relacionada
com o foco da manifestação ali retratada.
IstoÉ: “Quem são os radicais da USP”
Publicada em onze de novembro de 2011 e assinada por Alan
Rodrigues, a reportagem da revista IstoÉ apresenta diversos pontos
de contraste e relação à postura de Veja, analisada anteriormente.
Ao longo da nossa análise, observamos um tom mais sóbrio do
enunciador na abordagem das questões, e uma tendência para dar
voz aos estudantes, enquanto atores sociais diretamente envolvidos
na situação. Essa postura, todavia, não significa a inexistência de
dispositivos ideológicos que estruturam a narrativa na medida em
que instituem determinados significados tanto em relação aos manifestantes quanto acerca do próprio evento.
Primeiramente, o título, o subtítulo e o primeiro parágrafo (que,
neste caso, por tratar-se de uma reportagem, não se assume como
lead convencional) cumprem o esquema superstrutural, defendido
por van Dijk (2005: 67), visto que que funcionam como elementos
149
�de fundamental importância para a definição da macroestrutura
semântica do texto. Todavia, o fato de não ser feita nenhuma referência direta à manifestação propriamente dita, no título, revela que
o narrador-jornalista partiu do pressuposto de que o público estaria
já suficientemente familiarizado com os acontecimentos. Parece que
o objetivo do enunciador textual é a definição de um perfil dos manifestantes, que começa a ser feito logo no título, com o recurso ao
pronome de interrogação [quem], ligado pelo verbo ser na terceira
pessoa do presente do indicativo [são] ao nome [radicais], que, por sua
vez, caracteriza indivíduos insatisfeitos com determinadas normas ou
padrões estabelecidos. De início, o enunciador trata os manifestantes
como “radicais”, atribuindo-lhes desde já uma adjetivação negativa.
No subtítulo, encontramos uma nítida diferença em relação à
produção anterior: a construção proposicional [Eles têm pouco em
comum] indica a existência de diferenças entre os manifestantes,
sobretudo ao nível socioeconômico, confirmadas pela proposição
subsequente [Alguns vieram da escola pública e outros estudaram no
Exterior]. Obviamente, por meio de um processo de pressuposição,
os termos [escola pública] e [Exterior] são utilizados como elementos
indicadores de patamares sociais diferenciados, bem diferente da
estratégia anterior de redução dos manifestantes a traços identificadores comuns e genéricos. Mesmo sem dizê-lo, o narrador sabe que
a sua mensagem chegará ao leitor, porque entende que esses termos
fazem parte “de um conjunto de conhecimentos culturais tácitos que
dão significado ao discurso”. (Van Dijk, 2005: 171).
O primeiro parágrafo é também bastante esclarecedor. Assim como
na reportagem anterior, o enunciador inicia o texto centrado na figura
de um estudante, – que, neste caso, tem nome e idade: [João Machado,
20 anos]. As citações miméticas, em discurso direto [Minha mãe quer
me matar] e [Ela só sabe xingar] revelam que há uma discordância
dos pais relativamente à atitude dos filhos. No entanto, a postura dos
estudantes é inserida no universo do movimento estudantil enquanto
150
�fenômeno político cujo objetivo é a reivindicação de um conjunto de
questões e a luta contra um poder repressor. Tal ideia é confirmada
pela utilização de termos como: [momento histórico], em discurso
direto, ou [tomada do poder].
Um fator interessante a destacar é a referência ao ato dos estudantes como [ocupação] da reitoria, diferentemente de [invasão], utilizada
uma única vez, no segundo parágrafo [invadiram]. Por sua vez, os
agentes sociais são categorizados como: “estudantes”; “adolescentes”;
“radicais sem rosto”; “jovens”. Sem dúvidas, os sentidos em torno
dessas opções lexicais contribuem para a criação de uma identidade
social dos estudantes distinta da que vimos no texto anterior.
Mais uma vez, as diferenças socioeconômicas entre os manifestantes são elucidadas ao longo da narrativa. Elencamos, ao menos,
três exemplos: no terceiro parágrafo, a enumeração de profissões
[auxiliar de escritório, artesão, analista de laboratório, professores,
iluminador e até barman] comprova isso. Posteriormente, o fato de
os estudantes não terem dinheiro para pagar a fiança à polícia [Boa
parte deles não tinha os R$ 545 da fiança]. E, ainda, no quinto
parágrafo, a condição humilde de Rafael Alves, apresentado como
[um dos principais líderes dos radicais], confirmada pela estrutura
proposicional [De origem humilde, egresso da escola pública, foi
o único dos 20 integrantes da sua família que conseguiu entrar na
universidade]. Evidentemente, são feitas referências a estudantes de
classe média – como, no caso do primeiro estudante, apresentado
como sendo [de classe média paulista]. No entanto, essas diferenças
não existem no trabalho de Veja, que apresenta as personagens como
provenientes de classes sociais economicamente superiores.
É importante chamar a atenção para as imagens que integram o
texto, contribuindo para a construção de efeitos de sentido na narrativa.
Uma das fotografias, em particular, tem especial ligação com a ideia de
movimento estudantil, entendido como manifesto político-social. Por
meio de uma estratégia interdiscursiva, essa ideia é simbolicamente
151
�Figura 2: Fotografia na reportagem de IstoÉ
Fonte: IstoÉ, 11 de nov. 2011
representada quando um estudante aparece erguendo a obra do filósofo Michel Foucault, conhecido por denunciar as injustiças sociais
derivadas das relações de opressão que marcam a evolução das sociedades ocidentais, manifestadas nas desigualdades políticas, sexuais e
de gênero que os diferentes discursos manifestam (fig. 2).
Por fim, é forçoso referir outro ponto, que mostra bem as diferenças
semânticas e ideológicas de ambas as narrativas: IstoÉ não faz alusão
aos estudantes como consumidores de drogas, contrariamente ao que
faz o narrador-jornalística em Veja. Pelo contrário, dá-se ênfase à
manifestação, como parte integrante do movimento estudantil, que
possui reivindicações variadas, em detrimento do fato pontual de
alguns estudantes, que também se manifestam, quererem “fumar
maconha sem ser incomodados”, como enfatizou, em diversas ocasiões, a narrativa anterior.
152
�Considerações finais
O presente artigo procurou aliar alguns dos pressupostos conceptuais mais importantes dos estudos narrativos e da investigação
em jornalismo, para ampliar o debate, já existente, em torno da
práxis jornalística como produtora de significações que moldam
e constituem a realidade publicada. Num primeiro momento, buscamos problematizar o conceito de narrativa, para entender o que
são e como funcionam as narrativas jornalísticas que, não obstante
comunguem de características presentes em outras narrativas, devem
necessariamente obedecer a um protocolo comunicacional de máxima
referencialidade com o real (Calatrava, 2008).
Com recurso ao pensamento de autores como Tuchman (2002)
e Traquina (2007), resgatamos perspectivas que refutam a ideia de
que o jornalismo espelha ou representa a realidade. O discurso
jornalístico, ao contrário, reúne uma série de dispositivos textuais
e ideológicos que impedem a reconstituição exata da realidade
ontológica no texto: ao retratá-la, a enunciação jornalística oferece
ao leitor propostas de cognição dos eventos sociais que funcionam
como molduras ou, como diria Bourdieu (2001), como óculos a
partir dos quais esses eventos são lidos. Grosso modo, a realidade
jornalisticamente retratada não passa de uma construção do mundo
empírico, sem que isso implique necessariamente a veiculação de
falsas informações ou a criação de narrativas ficcionais puras – o
que conduziria a uma subversão dos princípios deontológicos mais
básicos do jornalismo.
A análise das narrativas de Veja e IstoÉ a respeito de um único
evento – uma manifestação de estudantes da Universidade de São
Paulo – evidenciou vários aspectos elucidativos da discussão teórica anterior, chegando, todavia, a revelar que aquelas narrativas
jornalísticas, ao mesmo tempo em que recorreram às convenções
linguísticas formais que caracterizam o texto jornalístico, transitaram
153
�metalepticamente entre os universos da factualidade e da ficção
(Genette, 2004)55.
Segundo a análise, a revista Veja prezou por uma abordagem extremamente acesa e partidária do acontecimento, assumindo posição
contrária à manifestação dos estudantes. Essas personagens figuraram,
na narrativa, como adolescentes mimados, consumidores de drogas e
provenientes de classes sociais abastadas. Contrariamente, a revista
IstoÉ apresentou uma narrativa de tom mais sóbrio, na qual não é
feita nenhuma referência ao consumo de drogas pelos estudantes.
Além disso, evidenciou diferenças entre as personagens tanto ao
nível socioeconômico quanto em relação aos motivos que os teriam
levado a estar naquela manifestação, afastando-se, pois, da concepção
simplista com que o enunciador de Veja os tratou. Para esse último, a
manifestação havia sido um ato vazio, protagonizado por quem não
possuía nenhuma demanda razoável, a não ser o objetivo de chamar
a atenção, em virtude da condição de garotos mimados.
Naturalmente, a pluralidade de perspectivas no espaço público
é sempre uma mais-valia para qualquer sociedade democrática que
aspira a uma opinião pública esclarecida. Nesse ponto, os media
cumprem um papel de absoluta relevância, já assinalado pela própria teoria democrática. No entanto, o que a análise aqui realizada
revela é algo distinto: ao lançarem mão, sobretudo no caso de Veja,
de um processo de adjetivação depreciativa de um evento e de seus
participantes, as narrativas, de fato, se equivocam no trabalho de
informar o público, apostando numa abordagem que vai na contramão da noção de esclarecimento público.
Em suma, o que se observou, na análise, foi a tentativa velada
de criminalização de um movimento – na esteira, aliás, da atual tendência global de criminalização do protesto social, como diagnostica
Para uma discussão sobre ficcionalidade e factualidade nos processos comunicacionais, vide Babo (1996).
55
154
�Boaventura de Sousa Santos –, conseguida por meio do realce a
características de alguns de seus agentes, os quais, não sendo a
maioria, figuraram, na narrativa, como se o fossem. Eis, portanto, um exemplo claro de como a narrativa jornalística – que, sem
subterfúgios, deve colar-se ao real, cumprindo, assim, o seu dever
de máxima referencialidade (Calatrava, 2008) – pode abrir mão da
estrutura comunicacional que permite diferenciá-la dos textos ficcionais, para passear, como diria Umberto Eco (1994), pelos bosques
imaginativos da ficção.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARTES, R. (1977). « Analyse Structurale du récit » in Poétique du récit. Paris: Seuils
(Points).
BIRD, E. S.; DARDENNE, R. W. (1993), “Mito, registo e ‘estórias’: explorando as qualidades narrativas das notícias”. In TRAQUINA, N. (org.), Jornalismo: Questões,
teorias e “estórias”. Lisboa: Vega, pp. 263-277.
BOURDIEU, P. (2001). Sobre a televisão. Oeiras: Celta.
CHARTMAN, S. (1990). Historia y discurso: la estrutura narrativa en la novela e en
el cine, Madri: Taurus Humanidades.
DIJK, T. V. (2005). Discurso, notícia e ideologia. Estudos da Análise Crítica do Discurso,
Porto: Campo das Letras.
ECO, U. (1994). Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras.
FAIRCLOUGH, N. (2001). Discurso e mudança social. Brasília: Editora da UnB.
GENETTE, G. (2004). Métalepse. Paris: Editions du Seuil.
HAMON, P. (1977). “Pour un statut sémiologique du personnage”. In BARTHES, R.
et aliii, Poétique du récit. Paris: Seuils (Points), pp. 115-167.
MESQUITA, M. (2003). “A personagem jornalística – da Narratologia à Deontologia”
in O Quarto Equívoco – O poder dos media na sociedade contemporânea,
Coimbra: Minerva.
PEDRO, E. R. (1997). Análise Crítica do Discurso. Lisboa: Caminho.
155
�PEIXINHO, A. T. (2014). “Procedimentos retórico-narrativos de construção de personagens jornalísticas: o caso do Jornal Expresso durante o verão de 2013”,
Revista de Estudos Literários, n. 4, Coordenação: Carlos Reis. Coimbra: Centro
de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra.
PENA, F. (2005). Teorias do Jornalismo, São Paulo: Contexto.
REIS, C.; LOPES, A. C. M. (2007). Dicionário de Narratologia, 7ª ed., Coimbra:
Almedina.
RESENDE, F. (2006). “Jornalismo e enunciação: perspectivas para um narrador jornalista”. In LEMOS, A.; BERGER, C.; BARBOSA, M. (orgs.) Narrativas midiáticas
contemporâneas. Porto Alegre: Sulina.
SILVA, M. (2007). “A notícia como narrativa e discurso”, Estudos em Jornalismo e
Mídia, v.4, nº. 1. Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis.
TRAQUINA, N. (1999). Jornalismo: Questões, Teorias e “estórias”, 2ª ed, Lisboa: Vega.
TRAQUINA, N. (2004). Teorias do jornalismo, Florianópolis: Editora Insular.
TRAQUINA, N. (2007). Jornalismo, 2ª ed., Lisboa: Quimera.
TRAQUINA, N.(2001). O estudo do jornalismo no século XX, São Leopoldo: Unisinos.
TUCHMAN, G. (1993). “Contando estórias” in Nelson Traquina (org.) Jornalismo:
Questões, Teorias e “estórias”, Lisboa: Vega, pp. 258-262.
TUCHMAN, G. (2002). “As notícias como uma realidade construída”. In ESTEVES, J. P. (ed.)
Comunicação e Sociedade, Lisboa: Horizonte, pp. 91-104.
VALLES CALATRAVA, J. (2008). Teoría de la narrativa. Una perspectiva sistemática.
Madrid: Iberoamericana.
VAN LEEUWEN, T. A. (1997), “A representação dos actores sociais”. In PEDRO, E. R.
(org.), Análise crítica do discurso. Lisboa: Caminho, pp. 169-222.
156
�JORNALISMO, NARRATIVAS E ESCÂNDALOS
Hélder Prior
LabCom.IFP/UBI
Universidade de Brasília
A actualidade do escândalo político
Talvez não seja de todo despropositado iniciar esta reflexão intitulada Jornalismo, Narrativas e Escândalos, referindo que a vida
pública das últimas décadas parece, definitivamente, marcada por
uma sucessão de escândalos político-mediáticos. Podemos, com efeito, falar de uma cultura do escândalo político, ou de uma política do
escândalo, na esfera pública contemporânea. Nesta era de grande
visibilidade pública, o escândalo converteu-se numa característica incontornável da vida social e política de muitas democracias liberais, de
tal forma que, devido à proliferação de denúncias que redundam em
escândalos, parece que já não nos escandalizamos com quase nada.
Etimologicamente, presume-se que o termo derive da raiz skand, que
significa “surgir” ou “saltar”, e apesar da palavra se ter tornado mais
usual nos idiomas europeus a partir do século XVI, o vocábulo remonta
ao período greco-latino. De facto, a palavra escândalo foi utilizada no
Antigo Testamento Hebraico em sentido figurado para designar um
“obstáculo”, uma “armadilha”, ou uma “ocasião de tropeço”, de “queda
157
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_6
�no erro”. No sentido teológico que encontramos quer no Antigo quer
no Novo Testamento, escândalo significa “pedra de tropeço”, “coisa
que faz cair no mal” ou “ocasião de queda para os fracos”. A teologia
cristã colocou a ênfase do vocábulo na fragilidade dos indivíduos,
daí as expressões “ocasião ou momento de queda”, “obstáculo no caminho que leva uma pessoa à queda”, “pedra de tropeço”, “fazer cair
em pecado” ou “dar motivo de censura”56.
Em inglês, a palavra scandal surgiu originariamente no século
XVI e calcula-se que as palavras latinas escândalo, em português,
escándalo, em castelhano, e scandalo, em italiano, tenham surgido
aproximadamente na mesma época (Thompson, 2001: 30). Apesar
do sentido herdado das Escrituras Sagradas, o termo acabou por
adquirir uma significação mais sociológica do que propriamente
teológica. Assim, e do ponto de vista sociológico, o escândalo pode
ser interpretado como um “assassinato espiritual”, como uma provocação aos valores que a sociedade partilha, derrogação dos valores
reconhecidos e comungados pelos indivíduos dentro de um contexto
societal específico. Não obstante o sentido religioso se ter mantido
como um “momento de fraqueza” ou de “queda no erro”, a conotação
sociológica tornou-se mais comum. Deste modo, sociologicamente o
escândalo implica a existência de valores partilhados por um determinado grupo social, a violação ou transgressão desses valores e, claro
está, a existência de um público que reconhece essa violação e que
se sente ofendido por ela, que se sente “escandalizado”. O mesmo
é dizer que não há escândalo sem a transgressão de certos valores,
estereótipos morais, símbolos ou modelos sociais e, por outro lado,
sem a propagação da transgressão e sem a existência de um público
que se sente ofendido pelo comportamento escandaloso e que, por
isso mesmo, o propaga, o publicita no espaço público.
56
Conforme São Lucas, 7, 23; Isaías, 8, 15, Carta aos Romanos, 14,13.
158
�Na obra Political Scandal: power and visibility in the media age,
John Thompson sublinha que o “escândalo implica certas formas de
transgressão que são conhecidas por terceiros, formas de transgressão suficientemente graves ou sérias para provocar uma resposta
pública de reprovação ou indignação” (2001: 32). Segundo o autor,
normalmente os escândalos têm quatro características essenciais: 1)
a sua existência implica a transgressão de certos valores, normas ou
códigos morais; 2) a sua existência implica um elemento de segredo
ou de ocultação, elemento que é desvelado e que chega ao conhecimento de indivíduos que não estão directamente implicados nas
transgressões; 3) esses indivíduos reprovam essas ações e expressam
publicamente os seus sentimentos de reprovação face a essas transgressões, tornando públicos os acontecimentos; 4) a revelação dessas
ações ou acontecimentos pode afetar a reputação dos indivíduos
responsáveis pelas transgressões entretanto publicitadas.
Apesar do escândalo não ser um fenómeno propriamente novo, o
seu alcance, impacto e consequências transformou-se com o desenvolvimento das formas de comunicação mediática. O desenvolvimento
dos meios de comunicação criou novas formas de publicidade distintas da publicidade em co-presença ou interação face a face, algo
que, como sabemos, teve consequências na visibilidade pública dos
dirigentes políticos, possibilitando que as suas mensagens pudessem chegar a uma multiplicidade de receptores que não partilham o
mesmo espaço físico, mas que, por outro lado, também gerou novos
riscos na gestão das fronteiras tradicionais que separavam os limites
entre a esfera pública e a esfera privada.
Por outro lado, os escândalos, tal como se constituem na atualidade enquanto escândalos mediáticos, isto é, enquanto acontecimentos que são selecionados, enquadrados, divulgados e, porque não
dizê-lo, moldados pela “máquina narrativa” dos meios de comunicação, devem-se a um conjunto de transformações políticas, sociais
e económicas que ocorreram em finais do século XVIII e inícios
159
�do século XIX, transformações que contribuíram para converter
a prática jornalística num campo de ação relativamente autónomo e
independente face ao poder político, com uma ética profissional e
códigos deontológicos específicos e, por outro lado, que incorporaram
os princípios da visibilidade e da transparência na política face ao
obscurantismo e face à prática dos arcana imperii ou segredos do
poder que vigorou durante séculos. Talvez por isso, alguns jornais
do século XVIII, como o Daily Courant, o Daily Post, ou o Daily
Journal, já publicavam frequentemente alegações escandalosas sobre
a atuação dos ministros do governo britânico. Mais tarde, após a
fundação por Pulitzer do New York World e do New York Journal, os
novos jornais, de cariz mais ligeiro, passaram a dedicar mais espaço
a estórias sensacionais, a acontecimentos insólitos, ao desporto e a
aspectos relacionados com a vida privada e com as aventuras pessoais
dos dirigentes políticos. Foi o chamado surgimento da penny press e
do yellow journalism, uma imprensa que percebeu, desde logo, que
a extemporaneidade e espectacularidade inerentes aos escândalos
facilmente promovem a adesão de públicos e a captura da atenção
pública. É por isso que os escândalos facilmente preenchem os requisitos da lógica da chamada cultura mediática.
Não por acaso, Theodore Lowi considera que na esfera pública
hodierna os escândalos políticos adquiriram um importante “valor
de uso” na luta pelo “poder simbólico”. Nas palavras do autor, o escândalo também é uma commodity que os meios de comunicação e
os partidos políticos não podem deixar de explorar. Lowi fala de um
certo “mercado do escândalo” (Lowi, 2004: 71) que parece caracterizar a política hodierna, uma mercado explorado quer pelos partidos
políticos na luta pela conquista de credibilidade e assentimento, quer
pelos meios de comunicação na disputa pela atenção pública. De outro modo, o jornalismo de investigação configura-se, desde o século
XIX, como um tipo de jornalismo que atua por debaixo da superfície
política, procurando desvelar o “poder invisível”, na terminologia de
160
�Norberto Bobbio (2003), e contribuir para a visibilidade e transparência do poder político, assumindo uma postura vigilante que ficou
conhecida por watchdog role of the press.
Porém, apesar da proliferação de escândalos políticos, não é possível dizer que este seja um fenómeno que se possa definir a priori.
Se, em alguns casos, os escândalos políticos podem revelar casos de
intransparência do poder público, publicitando situações de corrupção
e desvios no exercício do poder político, em outros casos aquilo que sobressai é o papel dos meios de comunicação na revelação, publicitação
e configuração de um acontecimento que, muitas vezes, se desenvolve
como uma narrativa mediática que alimenta o imaginário do leitor
ou espectador de produtos informativos. Ora, segundo Markovits e
Silverstein, dois dos principais teóricos que trabalharam o fenómeno,
o escândalo político poder-se-á definir como a violação dos procedimentos normativos que regulam o exercício do poder, resultando de
uma clara tensão entre a lógica do poder, tendencialmente privada
e secreta, e a lógica dos procedimentos normativos democráticos de
natureza pública, no sentido de visível, de acessível, de algo que pode
ser visto por todos (Markovits; Silverstein, 1988: 7). Na perspetiva dos
autores, um escândalo político implica necessariamente a “violação do
procedimento devido”, isto é, a violação das normas e das convenções
que regulam o exercício do poder. Neste sentido, os autores concluem
que os sistemas políticos que favorecem a proliferação de escândalos
políticos na sua essência são as democracias liberais, precisamente
pelo facto de as democracias liberais se pautarem por normas e procedimentos normativos que têm uma sólida base institucional. “Se os
escândalos políticos não existissem, as democracias liberais tê-los-iam
inventado”, concluem (1998: 9).
No seguimento das considerações de Markovits e Silverstein,
John Thompson apelida este tipo de escândalos de “escândalos
de poder”, uma distinção terminológica que permite distinguir
as transgressões dos procedimentos normativos que regulam o
161
�exercício do poder como uma forma peculiar de escândalo político. As outras formas ou tipos de escândalo político seriam os
escândalos sexuais e os escândalos financeiros que envolvem ou
afetam a reputação de dirigentes políticos. Tal como contundentemente assevera o sociólogo:
Podemos distinguir três tipos fundamentais de escândalo
na esfera política: aqueles que implicam a transgressão dos
códigos sexuais (escândalos sexuais), aqueles que implicam
uma má utilização dos recursos económicos (escândalos
financeiros), e aqueles que implicam determinados abusos no
exercício do poder político (escândalos de poder) (Thompson,
2001:168).
Não obstante, o próprio Thompson adverte que a eclosão de
escândalos depende, em grande medida, do contexto cultural onde
ocorrem as alegadas transgressões e da “força vinculativa” de determinadas normas sociais, força vinculativa que, naturalmente, varia de
sociedade para sociedade. Uma vez que qualquer escândalo implica
a existência de transgressões, deve referir-se que a variabilidade e
diversidade cultural faz com que uma atividade possa resultar num
escândalo num determinado contexto cultural e, num outro contexto,
seja entendida como algo perfeitamente normal ou aceitável.
Por outro lado, a emergência ou eclosão de um escândalo na
modernidade depende do grau de conhecimento público sobre as
alegadas transgressões e, também, do grau de reprovação que essas
transgressões geram na opinião pública. Neste ponto, o papel da
comunicação mediática acaba por ser crucial no processo de publicitação e mediatização dos acontecimentos que estão, ou estiveram,
na eclosão de um determinado escândalo. E, quando os desvios do
poder político, quando as transgressões cometidas em segredo são
denunciadas, enquadradas e divulgadas pelos meios de comunicação,
162
�gerando sentimentos generalizados de reprovação, o escândalo constitui-se enquanto acontecimento mediático.
O escândalo político confunde-se ou associa-se, muitas vezes,
com práticas de corrupção no interior da vida pública. Porém, é importante fazer a distinção conceptual entre os dois termos. Segundo
se pode ler no Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea,
corrupção significa “decomposição”, “putrefacção” ou “deterioração”
dos valores morais57. Quando deslocado para a linguagem política,
o ato de corrumpere refere a perversão do exercício do poder ou
o seu mau uso nas tarefas públicas. Com efeito, para a corrupção
se converta em escândalo é indispensável que a transgressão se
transforme num elemento visível, se ofereça aos olhos do público.
O escândalo apenas se constitui a partir do momento em que se forma
um discurso acusatório sobre supostas atividades que causam sentimentos generalizados de desaprovação e repulsa. Por conseguinte,
para que a corrupção se converta num escândalo é fundamental que
os atos corruptos se revelem e despertem sentimentos de reprovação generalizada. Se a corrupção permanecer latente, ou, ainda que
revelada, se não despertar sentimentos de indignação, o escândalo
não poderá eclodir.
Ora, de acordo com a perspetiva que pretendemos erigir neste
ensaio, a reconfiguração do escândalo político na esfera pública não
é um processo aleatório, até porque o acontecimento sofre a ação do
medium, isto é, desenvolve-se literalmente nos meios de comunicação e
é moldado por eles. Do ponto de vista linguístico, é um processo fáctico,
pois deve obedecer ao contrato cognitivo de veracidade face aos factos
narrados, provocando os chamados “efeitos de real”, mas também é
um processo fictício, pois sabemos que os jornalistas exploram efeitos
emocionais e expressivos para captar e manter a atenção do leitor,
Cf. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Primeiro Volume, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian: Verbo, 2001, p. 994.
57
163
�combinando a objetividade com a subjetividade. No caso do escândalo,
não devemos esquecer que este provoca, também, os chamados “efeitos de surpresa”, pois o escândalo político é um acontecimento que
irrompe na esfera pública, que desequilibra o sistema político e social,
escandalizando o público, mas que também desequilibra o próprio
sistema dos media, uma vez que altera subitamente a agenda mediática e as próprias rotinas jornalísticas. Por conseguinte, as atividades
específicas do campo dos media desempenham um papel determinante
na publicitação, agendamento e configuração de um acontecimento
que, na maioria das vezes, se constituiu como uma complexa narrativa
mediática. Normalmente, os escândalos mediáticos têm uma estrutura
temporal e sequencial que é marcada, decisivamente, pelo ritmo próprio
dos meios de comunicação, pelas suas pautas de publicação e difusão,
mas também pelo papel desempenhado por outras instituições, como
as instituições políticas ou judiciais. Apesar dos escândalos mediáticos
serem acontecimentos “abertos” ou imprevisíveis, é possível identificar
quatro fases no que ao seu desenvolvimento sequencial diz respeito.
A primeira é, obviamente, a fase prévia ao escândalo mediático, isto é,
as transgressões ou os desvios que estão na base do fenómeno e que,
quando reveladas, provocam a sua eclosão. Aqui, podemos incluir as
atividades de investigação de jornalistas ou de organizações judiciais,
atividades muitas vezes de rotina, mas que acabam por desvelar a
quebra de normas ou de códigos sociais, jurídicos ou políticos.
A segunda é a fase da eclosão do escândalo propriamente dito e
implica a denúncia pública de uma suposta transgressão. Refere-se à
fase da mediatização do acontecimento em que os media acabam por
concentrar a atenção pública no caso e mantê-lo na agenda público-mediática durante dias, semanas, meses ou até anos, como acontece
no caso de escândalos juridicamente complexos que podem voltar à
agenda mediática após um período de menor cobertura informativa.
A terceira fase do escândalo mediático refere-se à sua culminação ou
desenlace. Neste ponto, os protagonistas envolvidos podem assumir
164
�a sua culpabilidade no caso, podem assumir as transgressões, a
exemplo do que fez Bill Clinton no escândalo sexual que envolveu a
sua secretária na Casa Branca, ou, no caso da sua culpabilidade não
ficar provada, os indivíduos implicados podem encetar uma batalha
judicial contra alguns órgãos de comunicação social por eventuais
danos no seu capital político ou na sua reputação. A quarta e última fase, na perspetiva de Thompson (2001: 107-112), diz respeito
às consequências do escândalo. Aqui, os meios de comunicação e
as próprias instituições políticas podem iniciar uma reflexão sobre
os acontecimentos e sobre as suas implicações, discutindo reformas
políticas que evitem as transgressões que estiveram na origem do
fenómeno, e analisando o acontecimento mediante vários ângulos
e várias interpretações, discutindo todos os detalhes da “estória”.
Escândalo mediático e Narratividade
Os escândalos mediáticos são, normalmente, experiências complexas que vão sendo alimentadas pela máquina narrativa dos meios de
comunicação. Após as denúncias públicas de que ocorreu algum tipo
de transgressão que envolve uma qualquer figura pública, erige-se
um certo discurso acusatório acerca das hipotéticas transgressões
que, por outro lado, tendem a ser desmentidas pelos indivíduos que
se encontram no epicentro do escândalo. De outro modo, em muitos casos as investigações policiais, jornalísticas ou jurídicas sobre
as transgressões que estão na origem de um escândalo particular,
desvelam novos tipos de transgressões, que Thompson apelida de
“transgressões de segunda ordem”, que não raras vezes têm uma
relação tangencial com os acontecimentos que estiveram na base
do fenómeno. Nestes casos, a complexidade, a cobertura mediática
e o impacto social do escândalo aumentam consideravelmente e o
acontecimento converte-se numa “narrativa com tramas e sub-tramas”
165
�(Thompson, 2001: 46) que se pode desdobrar em sub-escândalos
ou, inclusivamente, em escândalos de maior envergadura que eclipsam, pelo menos do ponto de vista mediático, as chamadas “transgressões de primeira ordem”. De certa forma, podemos asseverar
que o escândalo apresenta uma dinâmica comunicativa que acaba
por favorecer a mediatização e a dramatização do acontecimento.
A atenção mediática sobre uma transgressão inicial pode conduzir o
debate público para uma dialética de acusação versus defesa. De um
lado, os meios de comunicação ou os indivíduos que se encontram
implicados na denúncia de hipotéticas transgressões pugnam por
uma certa culpabilização e moralização da vida pública; de outro
lado, os indivíduos envolvidos no epicentro do escândalo procuram
desmentir as acusações de que são alvo, acusando os jornalistas ou
os opositores de perseguição, difamação ou aproveitamento político. No caso dos escândalos mais complexos, é previsível que das
investigações iniciais surjam novos indícios ou novas revelações que
acabam por adensar o debate público sobre o fenómeno, envolver
novas transgressões e novas personagens, novas alegações públicas
e desmentidos e, consequentemente, novos dados e revelações que
acabam por aumentar a complexidade narrativa do próprio escândalo,
o quadro enunciativo do acontecimento e a constituição de sentidos.
Como se sabe, os dispositivos mediáticos conferem marcas enunciativas aos acontecimentos e a configuração do escândalo nos media não escapa à lógica de refiguração inerente aos dispositivos de
mediação simbólica. O escândalo desenvolve-se, literalmente, nos
meios de comunicação mediante um processo de “tessitura da intriga”, isto é, mediante a sucessão e o enquadramento dos eventos e
das ações no tempo, transformando o acontecimento numa “estória”
inteligível, numa “estória” que pode ser facilmente compreendida e
apreendida pelo público. O sujeito narrador organiza os factos e os
acontecimentos com o objetivo de construir uma totalidade inteligível e de, consequentemente, criar sentido. Compete ao jornalista
166
�organizar a experiência do escândalo, as sequências, a reconstituição no tempo de transgressões cometidas no passado, identificar os
indivíduos implicados, as personagens, aproximando, naturalmente,
a reconstrução do fenómeno à realidade, ao referente. Não devemos
esquecer que o texto jornalístico é uma “recriação linguística” dos
acontecimentos e o escândalo mediático, por ser normalmente um
acontecimento complexo e disruptivo que se desenvolve durante
vários dias, semanas ou meses, obedece a um plano de organização
estrutural que se caracteriza pela sucessão dos eventos de forma
encadeada e, naturalmente, segundo estratégias discursivas que organizam, contextualizam e explicam os acontecimentos que estão
na base da sua eclosão.
Nesta linha de pensamento, a comunicação mediatizada, ao converter o escândalo num acontecimento selecionado, enquadrado
e divulgado pelo medium, acaba por organizar a narrativa do escândalo sob a forma de intriga diegética. Na nossa perspetiva, os
escândalos mediáticos apresentam uma dinâmica comunicativa que
adquire significações e representações na medida em que a ação
se vai reconfigurando, se vai reconstruindo na esfera mediática
e nas notícias da imprensa. Neste processo de recomposição do
escândalo, as componentes linguísticas ganham uma significação
que possibilita a reconstrução do enredo jornalístico, a sua fragmentação, reconfiguração em episódios, em momentos de maior
e menor cobertura mediática, em cenas e em personagens que
realizam determinadas funções no desenrolar dos acontecimentos.
Isso significa que podemos interpretar os escândalos mediáticos
como narrativas complexas que se desenvolvem na imprensa, “estórias” que têm um enredo, episódios principais e secundários,
personagens, e efeitos de sentido inerentes ao trabalho de recomposição do jornalismo no momento de converter o fenómeno numa
experiência mediática, numa experiência instituída pelo campo da
imprensa que pode ser apreendida e experimentada pelo público.
167
�O filósofo italiano Gianni Vattimo caracteriza este fenómeno de
“mundo fantasmático dos mass media” (Vattimo, 1989), um mundo
onde as notícias sobre os acontecimentos do mundo real surgem,
muitas vezes, como uma “novela”, como uma “fábula”, uma intriga
mediática urdida pelos jogos de linguagem que são inerentes ao
jornalismo e que, mais do que representar meramente a realidade,
a enquadram sob determinados ângulos, a moldam, a configuram,
a instituem, atribuindo-lhes de forma seletiva particularidades ou
características específicas.
A configuração narrativa do escândalo permite a experimentação da realidade, a fácil apreensão da complexidade dos acontecimentos e o estabelecimento de uma visão integrada do fenómeno.
É a narratividade que ordena o acontecimento, que determina as
suas conexões, que liga os eventos e os elementos dispersos, organizando, por conseguinte, o sentido. Tal como sublinha Ricoeur
“as questões “quem”, “o quê”, “como”, “porquê” e outras estão já
contidas na inteligência narrativa” (1985: 35), e, neste sentido, a
compreensão dos acontecimentos do mundo da vida faz-se pela
via da narratividade, pois é a narrativa que reordena os acontecimentos e que contribui para a sua compreensão e explicação. Não
obstante, é importante referir que a linguagem jornalística não
recria exatamente o mundo da vida, o real, mas apenas consegue
recompor essa realidade, produzindo um discurso verosímil, um
“efeito de realidade”. É por isso que os acontecimentos relatados
acabam por estar fortemente impregnados de subjetividade, quer
na sua enunciação, quer no ato de receção por parte do leitor/
espectador, ainda que a enunciação jornalística seja, naturalmente, caracterizada pela autenticidade expressiva do locutor. Por
outro lado, deve acrescentar-se que a configuração narrativa dos
acontecimentos públicos é fortemente marcada ou caracterizada
por contextos pragmáticos e pelas pretensões do narrador no
momento de costurar o ato narrativo. Assim, as narrativas de
168
�imprensa não são, com efeito, ingénuas ou construídas aleatoriamente, mas são, antes, caracterizadas pela atitude argumentativa
do narrador, pelas conexões que este estabelece entre os eventos
e, naturalmente, pelos efeitos de sentido que evoca nos destinatários. Mais do que relatar literalmente a realidade, as narrativas
da imprensa estão impregnadas de jogos de linguagem que despertam uma certa experiência estética no momento da sua receção
e apreensão, independentemente da necessária aproximação do
discurso produzido à realidade objetiva, referencial. Todavia, e
tal como contundentemente assinala Motta, “toda versão sobre o
real é uma interpretação dele, e toda versão trai porque é uma
versão entre tantas outras possíveis: não é o facto em si mesmo”
(Motta, 2013: 40).
Produzindo efeitos fácticos ou fictícios, a configuração narrativa
dos acontecimentos públicos construída pelo campo do jornalismo
articula os antecedentes e os consequentes, as ações realizadas
por personagens, as causas e as consequências dessas ações, a
temporalidade e a serialidade dos acontecimentos, em suma, uma
síntese de elementos heterogéneos e fragmentados que são colocados em relação, que são ordenados, configurados, convertidos
numa totalidade que pode ser compreendida, apreendida pelos
destinatários. No fundo, trata-se de estabelecer relações lógicas
e causais entre acontecimentos passados, recorrendo a um encadeamento temporal e cronológico e a um conjunto de recursos
explicativos que possibilitam quer a inteligibilidade, quer a “experimentação” dos acontecimentos.
Com efeito, a descrição do mundo prático da ação é possibilitada
pela mise en intrigue, isto é, pela configuração e estruturação dos
acontecimentos mediante uma rede de intersignificação que integra
os elementos da ação numa lógica, numa composição ou totalidade
inteligível. Como, a propósito, sublinha Adam, “a atividade narrativa combina uma ordem cronológica e uma ordem configuracional”
169
�(1984: 17) que integra elementos heterogéneos numa composição
ordenada, articulando o acontecimento e, consequentemente, configurando-o. Neste ponto, os relatos informativos acabam por atribuir
particularidades específicas ou determinados pormenores aos acontecimentos públicos, e fazem-no de forma “seletiva” (Tuchman, 2003:
97), produzindo, simultaneamente, sentidos culturais, políticos ou
ideológicos. O jornalista assume-se como o sujeito enunciador, como
a voz narrativa responsável pela interlocução e pela construção de
posições factuais e referenciais, mas também por posições poéticas,
estéticas e ficcionais.
Quando o escândalo se converte em “estória”: o caso Face Oculta
Uma das funções primordiais dos media consiste em inscrever
o fluxo dos acontecimentos na história, organizando para o leitor/
espectador os eventos do mundo da vida mediante sequências lógicas, ao mesmo tempo que alimentam o imaginário do público (Lits,
2008: 126). Se, neste texto, temos procurado interpretar os escândalos mediáticos como narrativas complexas que se desenvolvem
na esfera pública devido à ação do medium, talvez seja pertinente,
agora, ilustrar o nosso trabalho com uma breve análise pragmática
de um dos escândalos mais mediáticos dos últimos anos da política
portuguesa, o caso Face Oculta. Analisando a cobertura jornalística
do Semanário Sol num período determinado, procuraremos demonstrar de que forma o ato de fala narrativo organizou o acontecimento,
as suas sequências e episódios, a caracterização das personagens
envolvidas e o uso de artimanhas enunciativas que tiveram como
propósito criar efeitos de real e efeitos de sentido.
Efetivamente, por um lado, a análise do escândalo Face Oculta
permite-nos observar a recomposição de notícias sobre um mesmo
tema ou assunto num acontecimento eminentemente dramático onde
170
�é possível acompanhar o desdobramento de episódios, a caracterização de personagens, os papéis desempenhados, a presença de
conflitos, enfim, a representação do real. Por outro lado, também
nos permite compreender os escândalos mediáticos como narrativas, como “estórias jornalísticas” que se vão desdobrando em
plots principais e secundários aos quais a poética jornalística vai
acrescentando novos dados e aumentando a sua própria complexidade. O caso foi publicitado pela imprensa nos meses de outubro
e novembro de 2009 e arrastou-se até setembro de 2014, altura
em que todos os arguidos foram condenados. Como facilmente se
constata, o escândalo teve um desenvolvimento temporal bastante
longo, algo que se explica pelo facto de se ter constituído como
um processo jurídico. Precisamente do ponto de vista judicial, foi
dada como provada a existência de uma associação criminosa que
obtinha, para a empresa O2 liderada por Manuel Godinho, benefícios em concursos públicos através de uma rede de tráfico de
influências que envolvia altos quadros do Executivo liderado pelo
primeiro-ministro de então, José Sócrates. Entre os 34 indivíduos
acusados, encontrava-se Armanda Vara, ex-ministro pelo Partido
Socialista e amigo de José Sócrates.
Do ponto de vista jurídico, o escândalo Face Oculta enquadra-se
na tipologia de escândalo político-financeiro, pois revelou a existência de laços ocultos entre o poder político e o poder económico
que serviriam para beneficiar empresas privadas mediante a má
utilização ou má gestão de recursos públicos. Não obstante, das
escutas telefónicas obtidas durante a investigação a Armando Vara,
faziam parte conversas entre este protagonista e José Sócrates, conversas que, segundo o Ministério Público, levantavam suspeitas de
que o governo teria tentado utilizar a empresa Portugal Telecom
para comprar a estação televisiva TVI e, assim, influir no conteúdo
das notícias veiculadas por este órgão de informação. Por outras
palavras, e voltando à terminologia adotada por Thompson, as
171
�escutas telefónicas revelaram a existência de “transgressões de
segunda ordem” que pouco tinham que ver com o escândalo político-financeiro e que envolviam, diretamente, o primeiro-ministro.
Mediante a análise de nove edições do Semanário Sol sobre o tema,
de 6 de novembro de 2009 a 12 de fevereiro de 2010, período em
que a cobertura mediática foi mais intensa, é possível recompor as
sequências do escândalo, identificar a presença de personagens,
reordenar a cronologia jornalística, isto é, recompor um enredo,
ligar as partes, unir as pontas-soltas, reconstruindo ou refigurando
uma estória jornalística, a narrativa de um escândalo mediático.
Como refere Motta, na esteira de Paul Ricoeur, “a reconfiguração
do acontecimento-intriga tem o mágico poder de tecer a totalidade
da estória e realizar a função de integração e de mediação da intriga” (Motta, 2013: 99). Ora, a complexidade e o desdobramento do
escândalo tornam-se visíveis logo na edição de 6 de novembro de
2011. A informação de que o primeiro-ministro foi interceptado nas
escutas a Armando Vara ganha destaque em relação ao que seria,
tendencialmente, um escândalo financeiro. Por outro lado, a partir
deste momento, José Sócrates, que não foi constituído arguido no
caso, adquire uma certa proeminência na intriga. O Semanário Sol
posiciona o então primeiro-ministro como uma das personagens
do escândalo com a manchete: “Sócrates escutado em conversas
com Vara”. A edição acrescenta novos dados ao caso, ao referir que
das escutas telefónicas efetuadas a Armando Vara surgiram “novos
indícios” que foram enviados ao Procurador-Geral da República,
Pinto Monteiro, indícios relacionados com o negócio PT/TVI. Nesta
edição é, ainda, possível identificar a personalização do acontecimento mediante um enquadramento poético. Recorrendo a um
frame lúdico em forma de teia com o título: “a teia de influências
do Face Oculta”, o jornalista personaliza o escândalo, posiciona
as personagens, identifica os papéis desempenhados por estas, as
suas funções:
172
�Figura 1: A teia de influências do Face Oculta. Semanário Sol, 6/11/2009.
Os actantes são identificados na narrativa mediante o posicionamento que o jornalista lhes confere, mediante uma certa hierarquia
que visa despertar determinados efeitos no leitor. As personagens são
colocadas em relação umas com as outras e tendo em conta o papel
que cada uma desempenha na intriga. José Sócrates, apesar de não
estar indiciado de quaisquer crimes, é identificado como aquilo que
podemos designar por “actante dominante”, verificando-se uma certa
proeminência que o então primeiro-ministro acabou por adquirir no
relacionamento estabelecido entre todos os envolvidos. As narrativas
necessitam de personagens e o escândalo mediático tem, necessariamente, as suas dramatis personae, personagens que realizam determinadas ações e que, no caso específico do escândalo, são identificados
como “transgressores” ou “purificadores”, como vilões ou heróis.
Nas edições seguintes e à medida que são acrescentados novos
dados ao escândalo, a narrativa mediática reconfigura-se, ganha
173
�novos episódios e novos conflitos. Cruzando o teor das conversas
filtradas entre Sócrates e Armando Vara sobre a possibilidade de a
PT comprar a TVI, com declarações públicas do primeiro-ministro
prestadas num debate parlamentar no dia 24 de junho de 2009, o
jornal acrescenta “transgressões de segunda ordem” à narrativa concluindo que “José Sócrates mentiu ao Parlamento sobre a TVI”. De
um escândalo eminentemente político-financeiro, o Face Oculta converte-se num escândalo de poder, num evento politizado que envolve
a derrogação dos procedimentos normativos que regem o exercício
do poder político. A edição de 13 de novembro de 2009 recorre ao
flashback para recuperar o momento em que José Sócrates declarou,
perante os deputados, não ter conhecimento das negociações entre
a PT e a Prisa, dona da TVI, desconhecimento contrariado pelas
escutas do processo Face Oculta, nomeadamente por uma conversa
ocorrida em março desse mesmo ano entre o ex-primeiro-ministro e
Armanda Vara. O narrador recorre ao frame temporal e cronológico
para legitimar a sua fala, isto é, comprovar as novas transgressões.
Reconstruindo os momentos mais significativos deste episódio, o
jornalista recupera declarações proferidas no passado, resgata os antecedentes, para chegar à significação, à conclusão: “Sócrates mentiu
no Parlamento”. Efetivamente, o momento da hipotética mentira parlamentar de José Sócrates constituiu-se como uma unidade temática
do escândalo relativamente autónoma em relação “às transgressões
de primeira ordem”, podendo distinguir-se como um episódio ou uma
parte da estória. Não obstante, trata-se de um episódio que ofereceu
uma nova dinâmica à estória e que, de certa forma, fez progredir a
narrativa mediática na direção de novas transgressões, animando e
adensando o debate público. Novas transgressões que haveriam de
ser divulgadas durante o mês de fevereiro, momento em que o caso
adquiriu outros contornos devido à divulgação do conteúdo das escutas telefónicas entre Armando Vara e José Sócrates. A edição de 5
de fevereiro, intitulada “As escutas proibidas”, revela a existência de
174
�um plano que envolvia o primeiro-ministro para controlar a estação
televisiva e outros órgãos de informação. Se, num primeiro momento
da narrativa, a operação judicial denominada Face Oculta começou por
ter como objeto apurar as atividades ilícitas resultantes de uma “rede
tentacular” que visava beneficiar as empresas de Manuel Godinho
na adjudicação de obras públicas, as escutas telefónicas efetuadas
a Armando Vara revelaram a existência de situações marginais ao
escopo da investigação que, pelo seu conteúdo, representavam “um
sério atropelo aos mais elementares princípios por que se devem
nortear os Estados democráticos”58.
De acordo com as novas denúncias que são acrescentadas ao
escândalo, o plano passava por afastar a jornalista Manuela Moura
Guedes da TVI, aparentemente porque às sextas-feiras Manuela Moura
Guedes abria o Jornal Nacional com notícias incómodas para o
Governo relacionadas com um outro escândalo, o caso Freeport.59
Porém, e uma vez que para afastar Manuela Moura Guedes da TVI
era necessário afastar o diretor da estação de Queluz e marido da
jornalista, José Eduardo Moniz, a operação visava tomar conta da
TVI através da Portugal Telecom, empresa da qual o Estado português era acionista. A cobertura jornalística reconfigurou o caso
numa nova narrativa, mais complexa, com novos episódios, novos
conflitos e novas personagens. Na mesma edição, é notório como
a reconfiguração do escândalo denota uma relação recíproca entre
a narratividade e a temporalidade dos acontecimentos. O plano ou
“esquema” é situado no tempo mediante uma extensão cronológica
de desdobramento da ação em certos momentos. É, justamente, neste
Veja-se o despacho do diretor da Polícia Judiciária de Aveiro, Teófilo Santiago, de
12 de junho de 2009.
58
O nome de José Sócrates esteve associado a um outro escândalo mediático, o
caso Freeport. José Sócrates tornou-se num dos suspeitos de corrupção devido a ter
subscrito, enquanto ministro do Ambiente, o decreto-lei que permitiu a aprovação
da construção do outlet Freeport, em Alcochete. Algumas testemunhas declararam
que o então ministro do Ambiente recebeu pagamentos em dinheiro, “luvas”, para
viabilizar o projeto. Porém, do caso não resultou nenhuma acusação.
59
175
�ponto, que a temporalidade surge ligada ao próprio desenvolvimento
da intriga, isto é, à capacidade de organizar os acontecimentos e, assim, contar uma “estória” unificada. O quando e o como convertem-se
em elementos constitutivos da narrativa do escândalo, especificamente porque permitem situar o leitor no tempo dos acontecimentos,
ajudar o jornalista/narrador a organizar o tempo enunciativo e, por
conseguinte, o discurso jornalístico. É a experiência do tempo que
permite que o escândalo adquira uma certa unidade, organizando os
episódios em sequências que geram a compreensão e a significação do
fenómeno. Expressões temporais como “no dia seguinte”, “estava-se
a 19 de junho”, ou “nesse mesmo dia”, possibilitam a reconstrução
da ação, a organização das sequências que compõem o enredo e,
consequentemente, o estabelecimento de uma conexão interna que
é essencial para a reconfiguração mediática do fenómeno.
Desta dramatização inerente à narrativa, as personagens e a sua
caracterização surgem novamente como eminente categoria, como
uma categoria responsável pelo desempenho do enredo. Com efeito,
o relato surge mediante a identificação e a caracterização das personagens envolvidas no escândalo. Todavia, é notório que o narrador
procura colocar as personagens em relação, descrevendo cada personagem tendo em conta as relações que esta estabelece ou estabeleceu com os demais envolvidos. O rosto das personagens é colocado
não apenas em destaque, mas também em relação, um frame visual
que permite a identificação dos envolvidos como “transgressores”.
O frame visual é acompanhado pela legenda: “os pivôs do esquema”.
Neste processo de identificação e caracterização das personagens,
Rui Pedro Soares 60, por exemplo, é descrito como um “boy socrático”, como um indivíduo que, apesar de ter “falta de curriculum”,
Rui Pedro Soares era o homem de confiança do governo na Portugal Telecom.
Nomeado pelo executivo liderado por José Sócrates para o cargo de administrador,
foi um dos responsáveis pela planificação da tentativa de compra da TVI pela PT.
60
176
�Figura 2: “Os pivôs do esquema” segundo o Semanário Sol de 5 de fevereiro de 2010.
se afirmou na empresa de telecomunicações devido à confiança em
si depositada por José Sócrates. Não obstante, na identificação dos
elementos-chave do escândalo, o ex-primeiro-ministro surge, novamente, como a figura central da narrativa, como o eixo do conflito
em torno do qual toda a intriga se desenvolve. A centralidade de
José Sócrates no escândalo torna-se de novo explícita na edição de
12 de fevereiro de 2010. Através de uma manchete metafórica, José
Sócrates é identificado como a figura central da narrativa, não obstante o facto de não ter sido constituído arguido no processo. Trata-se
de um enquadramento lúdico que visa significar que José Sócrates
agiu de forma similar ao polvo, construindo uma “rede tentacular”
que visava o controlo de meios de comunicação. Um efeito poético
que ornamenta a realidade e que, simultaneamente, desperta efeitos
de sentido no público. Uma estratégia intencional do narrador que
ajuda a identificar Sócrates como o “actante dominante”, mas que
177
�Figura 3: Manchete metafórica do Semanário Sol. 12 de fevereiro de 2010.
também ajuda a capturar a atenção pública ao gerar no público, de
forma intencional ou não intencional, efeitos estéticos ou poéticos.
Como vemos, a linguagem narrativa convida o leitor ou espectador
a fazer interpretações subjetivas, embora a linguagem jornalística
privilegie recursos de estilo de caráter mais denotativo que conotativo, no sentido de gerar no destinatário uma apreensão quase
imediata da mensagem, por motivos de economia discursiva. E, no
quotidiano, a metáfora do polvo é uma das figuras de estilo mais
utilizadas, sobretudo no que a assuntos da política diz respeito. De
facto, a linguagem jornalística está repleta de metáforas convencionais, figuras de estilo que contêm o mínimo de “ruído” possível e
que, além de ornamentarem ou embelezarem o discurso jornalístico,
também assumem uma posição referencial. Efetivamente, a recomposição do escândalo nos media é quase sempre bastante rica em
178
�efeitos simbólicos, precisamente devido ao facto de o escândalo ser
um acontecimento eminentemente dramático que suscita, no público,
diversos estados de espírito.
Considerações Finais
Jornalismo, Narrativas e Escândalos procurou abordar as relações entre o jornalismo e a teoria da narrativa colocando em
evidência as características eminentemente dramáticas e estéticas
dos escândalos mediáticos. Na perspetiva que procurámos erigir,
os escândalos mediáticos desenvolvem-se na esfera pública como
narrativas complexas que têm conflitos, episódios, personagens
e efeitos de sentido inerentes ao trabalho jornalístico de recomposição da realidade. O escândalo mediático apresenta-se como
um processo “aberto”, como um jogo de significações que adquire
um certo valor expressivo e esteticizante ao configurar-se nos
dispositivos de mediação simbólica. Ao apropriar-se do acontecimento para o converter em algo inteligível para o leitor, o medium
combina, muitas vezes, as técnicas jornalísticas com as técnicas
do universo ficcional para produzir narrativas dramáticas sobre
os acontecimentos, particularmente sobre os acontecimentos da
política. Neste ponto, acreditamos que os escândalos mediáticos
apresentam uma dinâmica comunicativa que acaba por favorecer a sua dramatização, a sua reconfiguração numa trama, numa
diegese. Com efeito, a desconstrução hermenêutica do escândalo
Face Oculta demonstra que, muitas vezes, a informação surge
como “novela” episódica organizada temporalmente e de onde
emergem conflitos, personagens, momentos dramáticos, situações
de suspense que amarram o leitor à estória e que o convidam a
seguir a sua serialidade. É nesta perspetiva que consideramos que
os escândalos mediáticos adquirem um enquadramento narrativo
179
�visível na organização textual do fenómeno, na sua fragmentação
em episódios principais ou secundários, na personalização ou
individualização da cobertura mediática, na definição da temporalidade dos acontecimentos, dos seus antecedentes e consequentes e numa certa composição poética inerente aos estratagemas
enunciativos e à habilidade estilística do narrador/jornalista no
momento de costurar o fenómeno como acontecimento mediático.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AA.VV. (2011). Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa: Calouste
Gulbenkian.
ADAM, J.M. (1984). Le Récit. Paris: Presses Universitaires de France.
ADAM, J-M; REVAZ F. (1997). A Análise da Narrativa. Lisboa: Gradiva.
APOSTOLIDES, P; WILLIAMS, J.A. (2004). Public Affairs, Politics in the Age of Sex
Scandals. London: Duke University Press.
ARISTÓTELES (2005). Poética. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
BARTHES, R. (1973). O Prazer do Texto. Lisboa: Edições 70.
BIRD, E.; DARDENNE, R. (1999). “Mito, Registo e Estórias: explorando as qualidades
narrativas das notícias”, in TRAQUINA, N. (Org). Jornalismo, Questões, Teorias
e “Estórias” Lisboa: Vega.
BOBBIO, N. (2000). Teoria Geral da Política, a Filosofia Política e as Lições dos
Clássicos, Rio de Janeiro: Elsevier Editora.
BOURDIEU, P. (1997). Sobre a Televisão. Oeiras: Celta Editora.
DAMPIERRE, E. (1954). “Thémes por l’étude du scandale”, in Annales, Économies,
Sociétés, Civilisations, 9 ème année, Nº 3.
DERRIDA, J; STIEGLER, B. (1996). Échographies de la télévision. Paris: Gallilée.
LITS, M. (2008). Du Récit au récit médiatique. Bruxelles: De Boeck.
LOWI, T. (1988). “Prefácio”, in MARKOVITS, A; SILVERSTEIN, M. (Org). The Politics of
Scandal: Power and Processes in Liberal Democracies. New York: Holmes&Meier
Publishers.
180
�LOWI, T. J. (2004). “Power and Corruption, Political Competition and the Scandal
Market”, in APOSTOLIDIS, P.; Williams, J. A. (Org). Public Affairs, Politics in
the Age of Sex Scandals. London: Duke University Press.
MARKOVITS, A; SILVERSTEIN, M. (Org). (1988). The Politics of Scandal: Power and
Processes in Liberal Democracies. New York: Holmes&Meier Publishers.
MOTTA, L.G, “Análise Pragmática da narrativa jornalística”, in LAGO, C.; BENETTI,
M. Metodologia da pesquisa em jornalismo. Petropólis: Vozes.
MOTTA, L.G. (2013). Análise Crítica da Narrativa. Brasília: Editora UNB.
PRIOR, H. (2013). Esfera Pública e Escândalo: o secreto no âmbito público. Tese de
Doutoramento, Covilhã: Universidade da Beira Interior.
RICOEUR, P. (1983). Temps et Récit I. Paris: Le Seuil.
RICOUER, P. (1985). Temps et récit III, Le temps raconté. Paris: Le Seuil.
RICOEUR, P. (1999). Historia y Narratividad. Barcelona: Paidós.
RODRIGUES, A.D. (1984). O campo dos Media, Discursividade, Narratividade,
Máquinas, Lisboa: Vega.
SEARLE, J.R. (2004). The Philosophy of language. Oxford: Oxford University Press.
TODOROV, T. (1982). “Las categorias del relato literário”, in Analisis Estructural del
Relato. Barcelona: Ediciones Buenos Aires.
THOMPSON, J. B. (2001). El escándalo político: poder y visibilidad en la era de los
medios de comunicación. Barcelona: Paidós.
TUCHMAN, G. (1999). “Contando estórias”, in TRAQUINA, N. (Org). Jornalismo,
Questões, Teorias e “Estórias”. Lisboa: Vega.
TUCHMAN, G. (2002). “As notícias como uma realidade construída”, in ESTEVES,
J.P. Comunicação e Sociedade. Lisboa: Livros Horizonte.
VATTIMO, G. (1992). A Sociedade Transparente. Lisboa: Relógio D’água.
181
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�A MINHA VIDA NÃO DAVA UM FILME:
ENSAIO DE DESCONSTRUÇÃO DA REPORTAGEM
ENTRE A LITERATURA E O JORNALISMO
Jacinto Godinho
Universidade Nova de Lisboa
Apesar de ser considerada, entre os jornalistas, como a “arte nobre
do jornalismo” a reportagem tem sem dúvida um estatuto menor no
painel das narrativas modernas, especialmente se a compararmos
com as mais relevantes categorias da literatura (novela, conto, poema) do cinema (filme, documentário) do teatro ou da música (ópera)
por exemplo.
Não que a reportagem seja uma narrativa menor (apesar de nos
últimos anos ter vindo a ceder espaço nos media para o comentário),
mas porque, ecoando Foucault, nas formações discursivas de cada
época constitui-se uma escala de valores entre saberes originada a
partir do jogo do poder.
A cultura não celebra as reportagens e os seus autores da mesma
forma que as ficções literárias e cinematográficas distinguidas com
prémios de visibilidade planetária como o Nobel ou os Oscar.
Fora do campo jornalístico não há reportagens que façam história, que figurem nos livros de escola. Em busca de estatuto, alguns
repórteres tornam-se autores de livros de ficção. Outros publicam as
suas reportagens em livros. Muitos livros se escreveram baseados em
183
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_7
�trabalhos antes publicados na imprensa (A Sangue Frio de Truman
Capote, Balada da Praia dos Cães de José Cardoso Pires) e muitos
nomes célebres da literatura foram primeiro jornalistas como Gabriel
Garcia Márquez, Ernest Hemingway, Mark Twain. Em Portugal, entre
inúmeros casos, podemos destacar alguns nomes como Aquilino
Ribeiro, Raul Brandão, José Saramago, Miguel Sousa Tavares, José
Rodrigues dos Santos. Para muitos destes jornalistas o treino de
escrita de reportagem é assumido, com orgulho, como um patamar
essencial para se tornarem escritores, ou seja, praticam a reportagem
como etapa antes da literatura. Mas não deveria ser antes o oposto,
ou seja, o ensaio livre da literatura como antecâmara para a difícil,
complexa e muito responsável escrita do real?
Justifica-se, portanto, iniciar esta reflexão analítica com a pergunta
já antes formulada por Elisabeth Eide em What novels can do, and
journalism can not? 61, ou seja, o que conseguem as novelas que o
jornalismo não consegue?
Uma outra forma de colocar o problema é questionar por que
dizemos normalmente “a minha vida dava um filme” e não dizemos
“a minha vida dava uma reportagem”.
Porque nunca conseguiram os repórteres ter lugar nos panteões
da cultura, se a matéria das suas histórias é a vida real e tantas vezes
o alimento dos romancistas?
Como resolver o paradoxo de o jornalismo e de o poder mediático
serem centrais no espaço público moderno e mesmo assim não conseguirem “fazer ver e fazer falar” (Deleuze, 1986) as suas melhores
obras na história?
Levando em conta os critérios de Foucault, será a narrativa de
reportagem um saber sujeitado, que pertence “a toda uma classe de
saberes que estavam desqualificados como saberes não conceptuais,
Eide, Elisabeth. “What novels can do, and journalism can not. On the relationship between fiction and reportage”. http://home.hio.no/~elisabe/english.htm [cons. 13-7-2015]
61
184
�como saberes insuficientemente elaborados, saberes ingénuos, saberes
hierarquicamente inferiores.” (Foucault, 1975: 11-12).
Entre as muitas razões para esta possível “sujeitação” estará,
sem dúvida, o histórico conflito entre a filosofia e o jornalismo.
Desde o século XVIII que a narrativa jornalística tem sido fortemente submetida a uma forte desqualificação pelo predominante e
hegemónico discurso científico, por não se enquadrar nos postulados de cientificidade. Aliás, tanto “jornalista” como “reportagem”
começaram por ser dois nomes estigmatizados destinados a rebaixar a atividade que passaram a referir. Denis Diderot qualificou
na Encyclopédie os jornais de “publicações que são o alimento do
ignorante, o recurso de quem quer falar e julgar sem ler, o flagelo
e nojo de quem trabalha. Eles nunca ajudaram um bom espírito a
produzir uma boa escrita; ou impediram um escritor ruim de fazer
um livro ruim.” (Diderot, 1766). Voltaire nos seus Conseils à un
Journaliste conclui a lição suspirando:
Quisera Deus que fosse fácil remediar o mal que produzem
todos os dias tantos escritos mercenários, tantos estratos
infiéis, tantas mentiras e calúnias com que a imprensa inunda
a república das letras! (Voltaire, 1737: 41)
“Jornalista” e “reportagem” eram, portanto, representações achincalhantes no discurso das elites antes de se naturalizarem como nomes
sérios e neutros na cultura moderna. Este processo de desqualificação da reportagem culminou naquilo que apelidámos a “maldição
de Mallarmé” (Godinho, 2009).
Num pequeno, mas célebre, texto de 1897 intitulado Crise de Vers
Mallarmé procura refundar a essência da literatura opondo-a dialeticamente ao que chamou a “universal reportagem”. Para Mallarmé a
literatura na sua essência é o verso livre. Livre de rimas, de métrica,
de melodia e de história. A isso se opõe a escrita utilitária, feita
185
�de truques comerciais para agradar aos outros, vendendo fórmulas
repetidas disfarçadas de novidades. Tudo o que é odioso na escrita
encaixa na “universal reportagem”.
Mallarmé usou, portanto, a palavra reportagem como critério
negativo de uma ideologia que a opunha ao conceito raro de literatura, prolongando-lhe o estigma no campo das artes. Tese mais
tarde continuada pelos surrealistas. Breton apelidou de “devorador”,
“cretinizante” confucionista o jornalismo 62 . O surrealismo foi um
dos movimentos que mais insistiu na separação entre “obras vivas”
e “escritos de jornal”, contribuindo para uma das oposições emblemáticas do século XX, o par literatura vs. jornalismo.
Talvez a “maldição de Mallarmé”, prolongada pelo século XX e
até aos nossos dias, explique ou seja sintoma do fraco investimento
académico no estudo e entendimento das especificidades narrativas da
reportagem, das técnicas e da forma como se inscreve na experiência.
Este ensaio procura, portanto, aprofundar uma análise já antes
iniciada a partir da pergunta “O que é a reportagem?” (Godinho, 2009)
para aclarar os princípios narrativos da experiência que a sustenta e,
assim, entrar com fundamento no debate entre jornalismo e literatura.
John Carey no seu livro The Faber Book of Reportage define como
critério fundamental para definir uma reportagem o relato diretamente observável pelo próprio ou por testemunhas (Carey, 1996).
Carey considera mesmo alguns excertos de livros de ficção como
momentos de escrita de reportagem porque são relatos tão credíveis
que só podem ter sido baseados em experiências reais. Aponta o
caso da descrição que Stendhal faz da batalha de Waterloo através
do testemunho do protagonista Fabrício. Trata-se de uma ficção mas
com uma coerência muito verosímil:
Breton, André – “Legitime defense” (1926), Point du jour, Gallimard, Coll “Idées”,
pp. 33-36.
62
186
�Havia já muito tempo que Fabrício deixara de ver a terra
voando em migalhas sob a ação de metralha. Chegaram à
retaguarda dum regimento de couraceiros. Fabrício ouvia
distintamente os biscainhos batendo as couraças e viu cair
alguns homens.
O Sol já estava muito baixo no horizonte, e ia pôr-se quando
a escolta, saindo dum caminho profundo, subiu uma pequena
rampa de três ou quatro pés para entrar num campo lavrado.
Fabrício distinguiu a seu lado um ruído estranho; voltou a
cabeça: quatro homens tinham caído com os cavalos; o próprio
general havia sido derrubado, mas já se erguia, todo coberto
de sangue. Fabrício contemplava os hussardos caídos por
terra: três tinham ainda alguns movimentos convulsivos, o
quarto gritava: Tirem-me daqui debaixo! O sargento e dois ou
três homens tinham-se apeado para socorrer o general que,
apoiando-se ao seu ajudante-de-campo, tentava dar alguns
passos; procurava afastar-se do cavalo, que se debatia por
terra, dando coices furibundos (Stendhal, 1974:55).
O princípio da observação direta postulado por Carey coloca o
seguinte problema: será que não se podem fazer reportagens de fenómenos não diretamente observáveis como a corrupção, a inflação,
a depressão por exemplo? Fenómenos complexos e normalmente
apresentados em reportagens através de casos escolhidos como emblemáticos como se de apenas uma árvore se conseguisse ver toda
a floresta.
O princípio do diretamente testemunhável parece ser limitado no
seu empirismo básico. Mas na reportagem existe uma ligação íntima
entre o olhar e a palavra. Se entendermos o princípio de Carey como
uma base de trabalho isso significa que a prática da reportagem exige
que os repórteres procurem, mesmo nos casos mais complexos, o
que pode ser diretamente observável.
187
�Por exemplo, tomemos o caso da inflação, um real abstrato. Para
tratar um fenómeno destes um repórter normalmente pega no modelo da tese académica, divide o tema em várias categorias, como
a política, a economia, a jurídica, etc., procura para cada uma um
especialista, alterna o seu testemunho com uma série de exemplos
escolhidos ao acaso de produtos que subiram ou desceram de preço
e acrescenta-lhe vozes populares (Voz Off ) escolhidas ao acaso numa
mercearia ou supermercado. No final, tudo reunido, é chamado uma
reportagem mas parece antes catálogo ideológico. Se a orientação
for o “diretamente observável”, é necessário refazer a pesquisa e o
guião narrativo, partindo em busca do que, no tema inflação, pode
ser realmente testemunhado.
Como é realmente calculada a inflação? Que organismo faz os
cálculos? Como os faz no terreno, ou seja, que produtos são monitorizados e por quem? Para seguir esta linha narrativa a reportagem
precisa de tempo. A reportagem está mais do lado de uma narrativa
temporal do que de uma narrativa sincrónica. Mas como funciona o
testemunho, o diretamente observável, no circuito da palavra? Como
é que o olhar se preserva na palavra e como guarda a reportagem
a legitimidade de fazer acreditar que os acontecimentos relatados
aconteceram realmente?
Regressemos então à pergunta: “o que é a reportagem?”
Quem melhor pode orientar nesta pergunta ontológica é Martin
Heidegger. Heidegger não se interroga diretamente sobre a reportagem
mas sobre a filosofia. Heidegger sustenta que a cultura ocidental é, no
seu caminho mais íntimo, originariamente filosófica. Isto não significa
que a filosofia seja a fundadora da civilização ocidental. Significa que
é a filosofia quem pergunta pelo ser das coisas. As narrativas científicas estão organizadas a partir da pergunta “o que é?” por exemplo:
o que é o sistema solar, um terramoto, a doença, a vida, a morte, etc.
O jornalismo, à sua maneira, também pergunta pelo ser das coisas,
interrogando a atualidade: o que é a crise, o desemprego, a violência
188
�doméstica e assim sucessivamente. A pergunta pelo ser está enraizada tanto no núcleo mais profundo do nosso sistema epistemológico
como na banalidade dos saberes quotidianos.
A filosofia vai mais longe e pergunta por que é que nós perguntamos pelo ser das coisas. A pergunta pelo ser é o motor da cultura
ocidental. Mas a variedade de articulações narrativas que a pergunta
do ser permite é enorme.
Walter Benjamin no ensaio “O Narrador” afirma que a tradição
da narrativa tradicional não conduz a uma explicação:
Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo.
E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes.
A razão é que os factos já nos chegam acompanhados de
explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece
está ao serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço
da informação. Metade da arte narrativa está em evitar
explicações. (Benjamin, 1994: 203).
Quando colocados perante a pergunta “o que é a reportagem?”,
somos automaticamente instalados numa situação de ignorância
a que é prometida a revelação de um segredo. A expectativa da
revelação é tão forte que podemos ser iludidos com a sugestão de
uma explicação que promete finalmente esclarecer mas que não
explica nada.
Será que responder à pergunta “o que é a reportagem?” nos ajuda
a esclarecer a narrativa da reportagem e ajuda a fazer reportagens?
Estamos a interrogar a prática da reportagem, apenas questionamos a
palavra ou visamos a categoria linguística? Cada uma destas condições
do ser encaixa-se na palavra reportagem mas não são a mesma coisa.
A prática da reportagem já se fazia muito antes de surgir o conceito.
O conceito de reportagem, com a consistência de género jornalístico,
só surgiu no final do séc. XIX.
189
�Será que o nome refere todo o universo da reportagem? Será que
é a palavra certa para representar a experiência narrativa que se
exerce através da prática da reportagem?
Será que não ilumina apenas um dos lados, o campo jornalístico,
anulando ou ocultando os outros campos narrativos atravessados
pelo reportar?
Será que não é a própria palavra reportagem, pouco nobre, sem
carisma, a responsável pelas narrativas de reportagens serem um
saber sujeitado, ou consideradas uma arte menor?
Quando perguntamos pela ontologia da reportagem podemos
incluir a perspetiva historicista e perguntar o seguinte: o que aconteceu nas práticas de escrita do real para que, a partir de determinada
altura, fossem nomeados pela palavra reportagem?
Esta é a tese defendida por Matilde Rosa Araújo em “A Reportagem
como género: génese do jornalismo através do constante histórico-literário”:
Com um bocadinho de boa vontade podíamos criar uma
tese: que o jornalismo nasceu do verso, como a poesia esteve condenada (felizmente) a fazer nascer a nossa literatura.
As notícias infiltram-se. Vem de longe terras, polidas arredondadas, como as pedras de um rio: chegam cá seixos de
ribeira (Araújo, 1946: 93).
Rosa Araújo argumenta que já era reportagem aquilo a que no
tempo de Fernão Lopes e Pero Vaz Caminha se chamava crónica
e que estes terão tido “a arte de chamamento de um verdadeiro
repórter artístico e não o empalhado clássico da história” (Araújo,
1946: 101).
Será através do palimpsesto da palavra reportagem que podemos
entender o processo de experiência que o ato de reportar, ou melhor
o dispositivo da reportagem, põe em marcha?
190
�Numa anterior investigação seguimos a desconstrução etimológica
para chegar à essência da reportagem (Godinho, 2009). No fundo,
tentámos interrogar a palavra tentando perceber como ela se pensa
e pensa a experiência que produz e que a produz. A base da palavra reportagem é o verbo latim portare que significa “portar” ou
“transportar” (Silva, 2014). Se entendermos o portare como “trazer”
ou “levar”, o prefixo re de reportagem indica, então, que reportar
é “trazer novamente” ou “levar de volta”. Indica uma repetição do
movimento. Esta repetição por mais estranho que pareça é a condição fundamental da narrativa ou, melhor, do dispositivo narrativo.
A narrativa se transporta algo permite-o também transportar de
novo. É um caminho que se abre e fica em aberto. É esse o dispositivo. Esta faculdade de uma palavra, como a reportagem, que
significa um género narrativo e cuja etimologia apenas aponta para
um movimento básico do viver que é transportar, ou carregar, sem
indiciar algo mais que clarifique o dispositivo, promete conduzir a
análise a um bizarro labirinto.
O que é que se transporta ou carrega? O que é se movimenta ou
mobiliza? E o que é que isso tem a ver com o jornalismo?
Uma outra palavra que está muito próxima da palavra reportagem
é a palavra “relato” e que por vezes se usa como sinónimo. No latim
o significado de relato confunde-se com o de reportar. Relato pode
vir de relatus que também significa “carregar”, ainda que no sentido
de trazer à memória, recordar, ou de relatio ou seja “relativo a” ou
“relacionado com”. A narrativa de reportagem sendo relato, carrega e
transporta para a memória. O quê? Temos duas hipóteses. Os relatos
falam de acontecimentos. Portanto, ou se transportam os acontecimentos a alguém ou alguém é transportado até aos acontecimentos.
O essencial neste argumento não é entender a reportagem como
o que circula por todo o lado como se fosse uma rede de distribuição dos acontecimentos através das palavras. A reportagem, como
narrativa de acontecimentos, configura um dispositivo especial
191
�que permite estender a básica matriz corporal da experiência.
Permite integrar o indivíduo num dispositivo onde viaja junto
com os acontecimentos. Dentro das narrativas os acontecimentos
viajam, na medida em que são reportados, trazidos de novo à
presença mas os sujeitos, na qualidade de leitores, ouvintes ou
espectadores também “viajam” (ainda que só através da imaginação)
até ao tempo e espaço dos acontecimentos. Dentro das narrativas
os acontecimentos tornam-se presentes de novo e por isso se diz
que são representados.
O importante a reter, nesta fase da argumentação, é que a faculdade para a qual a palavra reportagem aponta como sinal é para um
caminho ou uma porta na experiência. Um caminho que amplia a
consciência e uma porta que permite estender as condições de experiência para além do corpo natural. Como é que se justificam, para
o sujeito, estas necessidades de movimentação dentro da palavra,
de transladação possibilitada pela narrativa e como é que isto nos
conduz ao jornalismo?
Deonísio da Silva acrescenta a caminho e porta, a palavra porto
porque “na origem remota é a raiz do verbo latino portare, trazer do
porto, levar do porto, sentido primitivo que depois se desdobrou em
outros tantos significados semelhantes como conduzir, acompanhar,
enviar.” (Silva, 2014) “Trazer do porto” ou “levar ao porto” são belas
imagens que aproximam a palavra reportagem de uma das genuínas
atividades do jornalismo, buscando os barcos que chegavam já que
era nos portos marítimos que fervilhavam as primeiras notícias e ancoravam todas as histórias de outras paragens.
Também numa anterior investigação (Godinho, 2009) ligámos a
essência da reportagem ao antigo vocábulo grego legein o que nos vai
permitir aprofundar a reflexão sobre a experiência que se faz dentro
de uma narrativa.
Legein ainda hoje é a palavra que os gregos usam para nomear
relato e reportagem. Como afirma Manuel António Castro, legein é
192
�uma palavra fundamental onde “todos os significados estão referenciados pela dinâmica poética da linguagem”63.
Também Heidegger afirma que o fundamental do logos retirámo-lo
do legein: “O que é o logos retiramo-lo do legein. O que significa
legein? Toda a gente que conheça esta língua sabe: legein significa
dizer e falar” (Heidegger, 1994:179). No grego antigo legein significa
dizer, relatar, falar, contar, ler. Mas associado ao legein está também
o colocar e o posicionar. Temos mais uma vez associada à palavra
reportagem, duas vias. Uma diríamos mais verbal e outra mais prática. Será que neste quadro de origem primitiva associada à essência
da narrativa de reportagem ficou inscrita apenas a linhagem mais
verbal? Como podemos aplicar este fundo do legein, com vários sinónimos, num quadro de pensamento que aprofunde o entendimento
da experiência narrativa?
“Colocar diante” é pôr. Colocar várias coisas diante é com-pôr.
Uma composição é, portanto, recolher coisas e colocá-las diante do
olhar. Dispor para compor. Isto dá-nos uma outra visão para o ler e
escrever mas também para o contar. É por esta interpretação conduzida pela via prática do legein que podemos entender porque é que
o contar é também sinónimo de narrar, como é que o conto (álgebra)
é também conto ou seja uma história como forma de comunicação.
Contar algo a alguém é enumerar coisas, factos, dados, incidentes, ou seja, a reunir tudo numa trama de acontecimentos. É juntar
esses dados, compondo-os e dispondo-os para alguém. Contar uma
história é alinhar esses dados de maneira a que em conjunto ganhem
sentido para outrem.
“O radical indo-europeu – lg- de legein tem, ao longo do percurso ocidental, realizado
toda essa rica gama de significados. Portanto, na raiz de todo é e/ou não-é age a força
de legein, uma força de produzir tensões e integrar conflitos, dialeticamente. Dessa
maneira, todos os significados de legein estão referenciados pela dinâmica poética da
linguagem”. Toda essa rica gama diz respeito a: «1ª. Reunir e concentrar; 2ª. Pausar,
assentar e repousar; 3ª. Listar, relacionar, narrar ou ditar. Só reúne e discerne quem
de antemão já vigora no aprender e compreender. É assim que são possibilitados o
dizer, as narrativas, a leitura e o diálogo» (Castro, 2013: 14).
63
193
�Quando contamos algo a alguém, quando escrevemos ou lemos
uma narrativa, estamos no fundo a repetir o gesto de um agricultor que colhe, reúne, dispõe e guarda e, assim, produz alimento.
Por isso da arte de narrar se extrai o essencial daquilo que se chama
a cultura de um povo e o repórter é também, como recoletor, agente
de cultura. Percebemos agora, por esta análise conduzida a partir
da origem primitiva da reportagem como legein, que o transportar,
a mobilização que o dispositivo da reportagem permite, não é o fim
pensável do processo narrativo. Reportar não é apenas trazer a alguém
os acontecimentos antes ocorridos, “Aquiles morreu”, “Ulisses regressou
finalmente a Ítaca”, “José Sócrates, o ex-primeiro ministro, foi preso”.
A reportagem é um dispositivo de mobilização que permite ao
leitor/ouvinte/espectador repetir os passos do repórter. É um contar
mas fazendo com que o leitor “calce os sapatos” e repita os movimentos do repórter. É esta a experiência que a reportagem permite,
uma forma de experimentar os acontecimentos, num processo, numa
duração, como se fosse o próprio leitor a recolher e reunir os dados
para melhor os conhecer.
Este entendimento da experiência narrativa da reportagem diz-nos que não basta saber que os acontecimentos se deram. Essa é a
responsabilidade da notícia (angellô). O dispositivo de mobilização
que nos faz “visitar” os acontecimentos no tempo e no espaço não
é uma forma de entretenimento.
É a possibilidade de repassar pelos acontecimentos como se tivéssemos sido nós próprios a presenciá-los. Compreende-se então
melhor Heidegger para quem a definição primeira do legein é “expor sem intermediários”64, ou seja, como se a coisa mesmo estivesse
presente. Um bom relato é o que nos dá a sensação de presenciar o
“Se escutarmos de maneira grega uma palavra grega, então seguimos seu legein, o
que expõe sem intermediários. O que ela expõe é o que está aí diante de nós. Pela
palavra grega verdadeiramente ouvida da maneira grega, estamos imediatamente
sem presença da coisa mesma, aí diante de nós, e não primeiro apenas diante de
uma simples significação verbal” (Heidegger, s/d).
64
194
�desenrolar dos acontecimentos como se tivéssemos sido nós a vivê-los
na condição de testemunhas.
Regressamos elipticamente ao princípio postulado por John Carey
quando sustenta que o testemunho é a condição primeira da reportagem. Não é apenas o testemunho do repórter, mas fundamentalmente
conta a possibilidade de, através da narrativa, pôr o leitor/ouvinte/
espectador a “testemunhar”. Por isso, na verdade, o desejo que o
legein exprime não é o de viver de novo os acontecimentos, mas sim
de os presenciar, de os testemunhar. Porquê?
Recorremos agora ao pensamento de Hannah Arendt e à sua
teoria do espectador (Arendt, 1971) para postular que o desejo de
“estar lá” não traduz o desejo de reviver o acontecimento mas o
desejo de regressar ao que aconteceu na condição de espectador.
O legein como arkhê do reportar, ou seja, da longa tradição do
relato na cultura ocidental, não se realiza no desejo de ver tudo,
de testemunhar tudo o que aconteceu. Hannah Arendt acrescenta
outra função fundamental ao vasto ser-espectador que a narrativa
possibilita. Trata-se da vontade de ajuizar, de criticar ou seja de
exercer a faculdade de juízo.
O theathai, o ser-espectador realizado na condição humana, reivindica dos deuses o direito a testemunhar os acontecimentos mas
também de os julgar. O “voyeurismo” não mobiliza, nem esgota a
condição do ser-espectador. É parte de um processo que conduz à
complexa fenomenologia do juízo. Exercer um juízo na condição de
espectador é o que o dispositivo da narrativa moderna possibilita,
criando condições prévias para compreender que, se o que aconteceu
é alvo de polémica, então pede um julgamento. Testemunhar um
acontecimento à distância, seguindo de forma ordenada os factos e
o fio dos acontecimentos com um posicionamento desinteressado,
são fases de um dispositivo que pode operar no sentido do mais
justo dos juízos – o juízo isento e imparcial – e colocá-lo ao alcance
de qualquer pessoa. A simples narrativa de reportagem é, por isso,
195
�mesmo um complexo (e também democrático) dispositivo de processamento do real.
Diríamos que muitas das narrativas que conhecemos se desviam
brutalmente deste objetivo de operativizar a experiência do juízo,
disponibilizando-a à condição do sujeito-espectador. Sendo um dispositivo, visa uma experiência sempre em vias de se realizar nas
melhores condições possíveis, mas sem ferir o princípio fundamental
que é o relato de um acontecimento que aconteceu mesmo. A existência dos acontecimentos nem sempre é fácil de provar nas condições
da palavra e da narrativa.
Por isso a reportagem é uma possibilidade, entre outras, na vasta
multiplicidade das narrativas modernas e a experiência da crítica e
juízo que disputa o legein e competem com as narrativas de ficção.
De que forma competem as reportagens com as ficções?
A argumentação até agora desenvolvida permite-nos responder
de forma mais segura à pergunta de Elisabeth Eide What novels can
do, and journalism can not? Podemos depois pensar, com outros
argumentos, as condições e a eficácia do recentemente chamado
jornalismo literário. O jornalismo e a literatura, sobretudo a partir
de Mallarmé, tornaram-se categorias alvo de constantes interpretações analíticas e dualistas no campo das ciências humanas. A priori
entende-se que existe uma divisão “natural” que separa o jornalismo
da ficção e que é a partir dela, por oposição, que se podem definir
as características dominantes de cada uma das categorias.
Ao jornalismo associou-se a noção de facto objetivo e estabeleceu-se, como critério definidor, o compromisso das suas narrativas com
a realidade. À literatura ligou-se o conceito de ficção como invenção
criativa, explorando a imaginação como forma de arte.
O problema é que a ligação do jornalismo à realidade é uma
convenção que procura “naturalizar-se” na cultura. O público para
acreditar não pode estar sempre a suspeitar de tudo o que lê. Mas as
convenções não obedecem a formas universais. Elas resultam daquilo a
196
�que Roland Barthes chamou o jogo de poder gerado nas “mitologias”,
ou seja, toda uma série de casos e estórias que alimentam e sustentam
a legitimidade do jornalismo, como é exemplo o caso Watergate que
se tornou narrativa recorrente nas escolas de jornalismo.
O problema da objetividade tem tido uma influência nas mudanças de estilos, técnicas e géneros do jornalismo. A necessidade de
defender a prova de que os factos relatados aconteceram mesmo
leva a que o texto noticioso seja entremeado de contextualizações,
quebrando a linearidade simples de uma história; recorra a palavras
diretas, eliminando a adjetivação mas também despojando o texto
de expressões com uma forte carga emocional e que normalmente
funcionam nas ficções como embraiadores decisivos para envolver
o leitor. É na reportagem que este dilema mais se coloca. Ao aproximar-se do texto de agência para legitimar a objetividade do relatado,
o texto de reportagem afasta-se do seu dispositivo natural que é o
envolvimento capaz de “mobilizar” o leitor para o legein. Quando
as reportagens se afastam do legein, os acontecimentos que dão a
conhecer são normalmente apanhados pelas ficções. Tanto a literatura
como o cinema conseguem normalmente “oferecer” ações ao leitor
e ao espectador que o jornalista, por dever, não consegue descrever
porque não o pode provar. As ficções operam, por isso, nas margens
em brancas deixadas pelo jornalismo.
A narrativa ficcional aproveita-se da reportagem nos temas e também
na forma realística como “arma” as suas narrativas. São muitas vezes
histórias baseadas em factos reais, com pormenores inventados mas que
poderiam ter acontecido. Têm um poder invulgar de verosimilhança.
A eficácia do cinema em contar histórias reais é não só muito
eficaz a mobilizar o interesse do espectador mas também a baralhar
as convenções que artificialmente separam a linha entre o real e a
ficção. Por isso, alguns jornalistas não resistem à sedução da literatura,
recorrendo às técnicas narrativas literárias para depois publicarem
reportagens tão densas e pormenorizadas que rivalizavam com os
197
�filmes. Houve casos de prémios Pulitzer que, mais tarde, foram desmascarados como reportagens inventadas.65
Como é que isto pode acontecer? Por um lado, a convenção naturalizada da objetividade, se não for constantemente redefinida,
impõe-se como uma autoridade sobre todos os textos jornalísticos.
As pessoas acreditam por tradição num jornal ou num telejornal.
Escreveu Nietzsche “as verdades são ilusões que nós esquecemos que
o são” (Nietzsche, 1999: 57). Mas, pergunta Cristiane Costa:
“a partir de que momento as categorias literatura e jornalismo
são naturalizadas e a fronteira entre os dois campos definida?
O fato é que, se as fronteiras entre jornalismo e literatura
foram construídas a partir de valores bipolares como realidade
e imaginação, objectividade e subjectividade, linguagem
utilitária e expressiva, significante e significado ou se fazem
parte da essência dos dois géneros, o fato é que elas são
visíveis” (Costa, s/d:3).
Toda a minha argumentação se desenvolve não no sentido de pensar o que separa as categorias de literatura e jornalismo mas o que as
une. O que as une é serem narrativa. Como narrativa são uma forma
de estruturação da experiência. Todas as narrativas se estruturam
a partir do pedido do legein, ou seja, mobilizam um determinado
dispositivo de ampliação e mobilização da experiência natural dos
indivíduos, conduzindo-os para uma vasta e ubíqua visão testemunhal
dos acontecimentos interessantes ocorridos no mundo. Viagem, teatro
e tribunal, ou seja, experiência e juízo são as fases deste dispositivo.
O caso mais clássico e por isso mesmo pioneiro aconteceu no respeitável The
Washington Post. Uma jovem colaboradora, Janet Cook, publicou uma emocionante
reportagem sobre uma criança de oito anos intitulada “Jimmy´s World” viciada em
heroína injetada pela própria família. A reportagem, cheia de detalhes, venceu meses depois o prestigiado prémio Pullitzer. Mais tarde, descobriu-se que a repórter
inventara a história.
65
198
�O que separa a reportagem da literatura de ficção é que a reportagem, limitada pelo código ético de servir o facto e a verosimilhança, não consegue, com a mesma liberdade da ficção, recriar a
proximidade da ação, a intimidade do acontecimento que levariam
a realizar de forma perfeita o legein.
Não é por acaso que a maioria das ficções trabalha a partir de casos reais ou com um solo de verosimilhança muito forte. É difícil que
uma testemunha assista de perto, por dentro da mente, ao percurso
de um assassino ou de um presidente no momento de uma decisão
histórica como facilmente acontece na escrita literária.
Os momentos trágicos normalmente são testemunhados em diferido ou inferidos pela ação policial. A ficção opera nas margens da
reportagem mas oferecendo aquilo que mais se deseja que é estar
o mais perto possível no momento em que o mais importante de
um acontecimento acontece mesmo. Ainda que o faça sem garantias
de objetividade a ficção oferece o “como se” com uma força que
a reportagem não consegue. A ficção não se oferece ao facto mas
oferece-se ao juízo.
Reportagem e ficção competem num mesmo campo de experiência
que é o da narrativa e do juízo. Por isso, partilham historicamente as
mesmas técnicas narrativas. Para Tom Wolf, precursor do jornalismo
literário, o “novo jornalismo” é a narrativa que usa técnicas literárias.
O crescente interesse pelo jornalismo literário nos últimos anos não
é mais que a velha aspiração de conseguir, numa mesma fórmula
narrativa, a fusão que concretize a proximidade entre reportagem
e ficção e que guarde o melhor das suas experiências na realização
do legein. Trabalho complicado. Como guardar o melhor da estrutura narrativa da ficção, a duração, o detalhe, a descrição intensa
do encadeado de ações e dos diálogos, sem pôr em causa o factual?
O fogoso investimento no jornalismo literário tem feito com que
muitos trabalhos de reportagem percam a credibilidade factual que
é o contrato que liga o leitor ao jornalismo e não sejam mais que
199
�formas de ficção travestidas. Jacques Rancière, ecoando Lacan, também sustenta que o “real para ser pensado precisa de ser ficcionado”
(Rancière, 2009). Penso que se trata de uma interpretação demasiado
lata do universo das ficções. Poderíamos começar por dizer que o real,
para ser pensado, precisa de ser narrado o que significa, no gesto
mais genuíno, ser reportado. Refletir a partir de lógicas dualistas
que separam o real da ficção, o jornalismo da literatura, é insistir
nas categorias que nos aprisionam na interpretação.
Este ensaio pretendeu demonstrar que a “reportagem” montou
um dispositivo tão forte e tão exigente que serve de fundação tanto
às narrativas do real como às da ficção. São parte do desejo forte
e sempre incompleto de realizar o legein. É verdade que a força da
ficção e dos seus modelos, a que nos referimos no início deste texto,
prova que os filmes e as novelas conseguem aquilo que a reportagem
não alcança porque se constata “que a ficção da era estética definiu
modelos de conexão entre apresentação dos factos e formas de inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira entre razão dos factos
e razão da ficção” (Rancière, 2009: 58).
A inteligibilidade do real gerada a partir das narrativas de ficção é tão forte e dominante na construção simbólica da realidade,
que vai arrastando sedutoramente os outros campos narrativos.
No jornalismo isso é evidente nas modas do infotainment e do
jornalismo literário.
Não respondendo a nada definitivamente, este ensaio deixa uma
reflexão para trás e uma provocação para a frente. Porque não inverter
a lógica da inteligibilidade dominante e pensar antes o que consegue
alcançar a reportagem que os filmes não conseguem?
Se realmente o real, para ser pensado, precisa de ser narrado,
trata-se de estudar qual a forma narrativa que melhor preserva a
qualidade crítica da experiência: a ética tendencialmente objetiva da
reportagem jornalística ou a liberdade sem limites da criatividade
ficcional.
200
�REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, M. R. (1946). A reportagem como género: género do jornalismo através do
constante histórico-literário. Tese de licenciatura em Filologia Românica na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Biblioteca da Faculdade de
Letras de Lisboa.
ARENDT, H. (1971/1999). A Vida do Espírito, col. «Pensar», Vol. I, Lisboa: Instituto
Piaget.
BENJAMIN, W. (1936/1994). “O Narrador: Considerações Sobre a Obra de Nikolai
Leskov” in Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história
da cultura. São Paulo: Brasiliense, pp. 197-221.
BRETON, A. (1926). “Légitime défense » in Point du jour. Paris : Gallimard, pp. 33-36.
CASTRO, M. A. (2013). «Dialéctica e diálogo: a verdade do humano», in Revista TB,
192, Jan. Mar., Rio de Janeiro, p. 14.
CAREY, J. (1996). The Faber Book of Reportage. London: Paperback.
COSTA, C. (s/d). “Fronteiras Cruzadas – A Ficção no Jornalismo e a Reportagem na
Literatura”, in Revista Z Cultural, nº 5 (http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/)
DELEUZE, J. (1986 / 2005). Foucault. Lisboa : Edições 70.
DIDEROT, D. (1766). «Hebdomadaires», in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers, 1re éd. (www.xn-encyclopdie-ibb.eu/S.
html) [11-5-2015]
FOUCAULT, M. (1975). Em Defesa da Sociedade: Curso no Collége de France. São
Paulo: Martins Fontes.
GODINHO, J. (2009). Origens da Reportagem: Imprensa. Lisboa: Livros Horizonte.
HEIDEGGER, M. (1994). Λόγος (Heráclito, fragmento 50). Traducción de Eustáquio
Barjau em Conferencias y artículos. Barcelona: Serbal, pp. 179-199.
HEIDEGGER, M. (s/d). Que é isto - a filosofia? Trad. de Ernildo Stein. http://br.egroups.
com/group/acroplis.
MALLARMÉ, S. (1897/ 2011). Crise de Versos. Lisboa: Deriva Editores.
NIETZSCHE, F. (1999). Verdade e Mentir no sentido extra-moral. São Paulo: Nova
Cultural.
RANCIÈRE, J. (2009). A partilha do sensível. Estética e Política. São Paulo: Editora 34.
201
�SILVA, D. (2014). De onde vêm as palavras: origens e curiosidades da língua portuguesa. São Paulo: Léxicon.
STENDHAL (1974). A Cartuxa de Parma. (tradução de Adolfo Casais Monteiro).
Porto: Editorial Inova.
VOLTAIRE, F. M. A. (1737). «Conseils à un Journaliste», in Œuvres complètes de
Voltaire, éd. Luis Moland. Paris: Garnier, 1877-1885, tome 22.
202
�A PERSONAGEM MEDIÁTICA
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�A PALAVRA EM MOVIMENTO:
A ADAPTAÇÃO PARA CINEMA DE “EMBARGO”
E DE A JANGADA DE PEDRA
DE JOSÉ SARAMAGO
Ana Paula Arnaut
Centro de Literatura Portuguesa
Universidade de Coimbra
A noção mais lata de adaptação tem muito em comum com
a teoria da interpretação, pois a adaptação é, em grande
medida, a apropriação do significado de um texto prévio.
Dudley Andrew, apud BELLO, 2008
Diálogo entre dois ratinhos roendo películas em Hollywood:
– E aí, já roeste aquele filme lá?
– Sim.
– Estava bom?
– Gostei mais do romance.
apud BRITO, s.d.
205
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_8
�Tão antiga quanto as origens do cinema, ou quase tão antiga
quanto ela66, a questão da adaptação fílmica de obras literárias 67
traz consigo, inevitável e naturalmente, a discussão da primazia, da
qualidade, de uma sobre a outra e, em concomitância, a problemática da traição e/ou da fidelidade relativamente ao texto-fonte. Estes
últimos aspetos, por sua vez, prendem-se, em regra, com o que pode
ser designado como “redução da articulação com o literário” (Torres,
2000: 58), que aqui entendemos como o jogo diferencial relativo à
determinação e avaliação do rigor do pormenor relativamente à descrição-composição-caracterização de ambientes, de personagens e de
ações. O que parece ficar esquecido nesta dinâmica relacional, pela
maioria dos espectadores e também por alguma crítica académica
e jornalística que vê as adaptações como “belated, middlebrow, or
culturally inferior” (Naremore apud Hutcheon, 2006: 2) 68, prende-se,
no entanto, com um ponto de não pouca importância, já devidamente
assinalado pelo escritor Vergílio Ferreira a propósito da adaptação
para cinema do romance Cântico final (1960) 69: “o «espírito» do livro”
(Ferreira, 1995: 202). Ora, é precisamente nesta linha de manutenção
“Em 1897, menos de dois anos após a apresentação pública do cinematógrafo dos
irmãos Lumière, já George Meliès filmava Fausto e Margarida; um ano depois adaptava
A Gata Borralheira e, em 1902, estreava Viagem à Lua, a primeira das adaptações
que fez de Júlio Verne” (CARDOSO, 1995: 1148).
66
Para o estudo da relação inversa, isto é, da novelização (livros publicados a partir
de filmes), ver BAETENS & LITS, 2004 (“Chapitre I: La novellisation: naissance d’un
concept”, “Chapitre II: Du cinéma au roman”, “Chapitre III: Variations transmédiatiques de la novellisation”).
67
Atentemos, ainda, nas palavras de Robert Stam: “A linguagem convencional da crítica sobre as adaptações tem sido, com frequência, profundamente moralista, rica em
termos que sugerem que o cinema, de alguma forma, fez um desserviço à literatura.
Termos como “infidelidade”, “traição”, “deformação”, “violação”, abastardamento”,
“vulgarização”, e “profanação” proliferam no discurso sobre adaptações, cada palavra
carregando sua carga específica de ignomínia. “Infidelidade” carrega insinuações
de pudor vitoriano; “traição” evoca perfídia ética; “abastardamento” conota ilegitimidade; “deformação” sugere aversão estética e monstruosidade; “violação” lembra
violência sexual; “vulgarização” insinua degradação de classe; e “profanação” implica
sacrilégio religioso e blasfêmia” (STAM, 2006: 19).
68
Sobre o percurso estético-literário do romance ao filme realizado por Manuel Guimarães (1975), ver Cardoso, 2000.
69
206
�de fidelidade ao espírito da obra – e não ao rigor da ilustração das
suas passagens – que julgamos ser necessário ler as adaptações de
A Jangada de Pedra (realização de George Sluizer, 2002) e, especialmente, do conto “Embargo” (realização de António Ferreira, 2010).
Incluído na coletânea de contos intitulada Objecto Quase, publicada por José Saramago em 1978, mas primeiro dado à estampa em
1973, com o título “O Embargo”70, o texto-fonte do filme71 de António
Ferreira serviu inicialmente um projeto de uma curta-metragem que,
segundo o próprio realizador, “era bastante fiel” ao original. Uma
fidelidade que, depreendemos das suas palavras, se diluirá na passagem para a longa-metragem, em que houve a necessidade de “arranjar uma história para a personagem, um objetivo, uma família”
(Ferreira, 2010)72. Mas, afinal, como afirma, “Quando os realizadores
se agarram demasiadamente aos livros dá asneira. A literatura e o
cinema são meios completamente diferentes. Ou se adapta ou o filme
é chato” (Ferreira, 2010).
Seja como for, acreditamos que, numa primeira leitura, estas adições-alterações podem levar alguns espectadores (eventualmente os
menos conhecedores da dinâmica temática saramaguiana) a pensar
que a transposição intermediática se consubstancia em traição, em
não cumprimento de uma linha de fidelidade relativamente ao texto
Publicado pelos Estúdios Cor (Lisboa), com ilustrações de Fernando de Azevedo,
integra a série de contos de Natal que, por tradição, a editora dava à estampa. Os dactiloscritos (I e II), com emendas autógrafas (o segundo ainda com correções em relação
ao primeiro) estão disponíveis em: http://purl.pt/13868/2/ e http://purl.pt/13869/2/,
respetivamente. É possível verificar a existência de pequenas diferenças entre os dactiloscritos, a publicação de 1973 e o texto incluído em Objecto Quase, sendo a mais
importante a que ocorre no parágrafo final, de que nos ocuparemos em tempo oportuno.
70
Estreou no FantasPorto 2010, tendo recebido o prémio Menção Especial do Júri.
Produção: Persona non grata pictures. Coprodução: Vaca Films (Espanha), Diler e
Associados (Brasil), Sofá Filmes (Portugal). Produtores: Tathiani Sacilotto e António
Ferreira. Produtores Associados: Borja Pena, Emma Lustres, Diler Trindade. Elenco:
Filipe Costa, Cláudia Carvalho, Pedro Diogo, Fernando Taborda, José Raposo, Miguel
Lança, Eloy Monteiro. Argumento: Tiago Sousa. Fotografia: Paulo Castilho. Música
Original: Luís Pedro Madeira. Produção Executiva: Tathiani Sacilotto. Financiamento:
ICA, IBERMEDIA e Ministério da Cultura.
71
72
Ver, também, Andrade, 2010: 14-15.
207
�original ou, numa linha de entendimento mais ampla, relativamente ao
espírito da obra do autor. Numa leitura menos preconceituosa, porém
sempre tendo em mente que, neste exercício, “a verdade não pode
ser mais do que uma cara sobreposta às infinitas máscaras variantes”
(Saramago, 1989: 26), o resultado revela-se outro, como verificaremos.
A verdade do conto de José Saramago tem como pano de fundo
um espaço não identificado, numa estratégia de teor universalizante
retomada, principalmente, nos romances que compõem o segundo
ciclo da produção ficcional do autor73. Uma estratégia que, neste texto
de 1978, também parece passível de ser ilustrada pela redução titular
(que deixa de exibir o artigo definido ‘O’), facto que contribui para a
abrangência da dinâmica transtemporal e, por que não, transespacial.
Como personagens, confirmando a contenção exigida à narrativa
breve, contamos apenas com três, ou, talvez(?), quatro, considerando
que o carro ganhará vida própria, por ventura disputando o lugar de
protagonista que atribuímos ao homem: um garoto, uma mulher e o
seu marido, o protagonista(?), um homem, também nunca sujeito a
uma individualização antroponímica, que se torna prisioneiro-refém
do seu próprio automóvel.
O tempo é o de “Um Natal escuro e frio” (Saramago, 1978: 40),
que o leitor em 1973 terá facilmente identificado com o período de
crise que então se vivia, num reconhecimento que o correr dos anos
tornará mais difícil, eventualmente só se tornando possível ao leitor
mais atento à realidade político-social das últimas três décadas do
século XX. Referimo-nos à época do embargo petrolífero de 1973 e
às consequências daí decorrentes: a redução drástica da produção e
exportação de combustível, pela Organização dos Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), em virtude do apoio norte-americano dado a
Israel durante o conflito que, em outubro desse ano, opôs árabes e
israelitas (Guerra do Yom Kippur).
73
Ver Arnaut, 2008: 15-51 e Arnaut, 2010.
208
�Não se estranha, por conseguinte, que a temática englobante de
“Embargo”, numa linha aplicável tanto ao conto quanto ao filme
(embora de modo diverso, como veremos), se traduza na coisificação
do homem e na (consequente) humanização da máquina, ou, nas
palavras de Maria Alzira Seixo, na “escravização e destruição do
homem pelo objecto”, num cenário que é o do “labirinto da cidade
(...) (marca do pesadelo, da viagem circular, da absurda ideologia do
final, do concreto terror da coação)” (Seixo, 1979: 78).
Num clima de tensão crescente e numa ambiência não por acaso
marcada pela chuva que cai, e que acompanha os momentos angustiantes até ao momento em que o carro morre (recomeçando, também
não por acaso, no final) (Saramago, 1978: 49, 50), assistimos, pois, à
elevação do objeto à categoria de pessoa com vontade própria, mas
não sem antes passar por um estado intermédio de zoomorfização.
Este, aliado a um processo de desumanização, curiosamente, ou
talvez não, também se aplica ao homem:
O tempo arrefecera muito. Mas ali, dentro do automóvel, de
jornal aberto sobre o volante, fumando enquanto esperava,
havia um calor agradável, como o dos lençóis. Fez mover os
músculos das costas, com uma torção de gato voluptuoso,
ao lembrar-se da mulher ainda enroscada na cama àquela
hora, e recostou-se melhor no assento. O jornal não prometia
nada de bom. O embargo mantinha-se (Saramago, 1978: 40)
(itálicos nossos).
Sentia fome. Urinara outra vez, humilhado de mais para se
envergonhar. E delirava um pouco: humilhado, himolhado.
Ia declinando sucessivamente, alterando as consoantes e as
vogais, num exercício inconsciente e obsessivo que o defendia
da realidade. Não parava porque não sabia para que iria
parar. Mas, de madrugada, por duas vezes, encostou o carro
209
�à berma e tentou sair devagarinho, como se entretanto ele e o
carro tivessem chegado a um acordo de pazes e fosse a altura
de tirar a prova da boa-fé de cada um. Por duas vezes falou
baixinho quando o assento o segurou, por duas vezes tentou
convencer o automóvel a deixá-lo sair a bem, por duas vezes
no descampado nocturno e gelado, onde a chuva não parava,
explodiu em gritos, em uivos, em lágrimas, em desespero
cego. As feridas da cabeça e da mão voltaram a sangrar. E ele,
soluçando, sufocado, gemendo como um animal aterrorizado,
continuou a conduzir o carro. A deixar-se conduzir (Saramago,
1978: 49) (itálicos nossos).
Chamando a atenção para o facto de a primeira citação, relativa a
um momento anterior à constatação do pleno domínio do carro sobre
o homem, parecer ilustrar a dependência afetiva deste sobre aquele,
remetendo-nos para uma ambiência de voluptuosidade semelhante
ao ato sexual (e que parece corresponder ao ponto de viragem em
que a máquina ganha o poder do homem), não podemos deixar de
salientar que a orquestração da narrativa é pautada pelo absurdo,
reconhecido pela personagem (Saramago, 1978: 45) e assumido, pelo
próprio autor, na sua relação (quase) sinonímica com o fantástico,
como alguma coisa “que ainda não aconteceu mas, talvez, seja acontecível” (apud Cuadrado, 2007: 44).
Deste modo, se, num primeiro momento, pode passar despercebida a menção ao facto de que as gotículas que cobrem a viatura a
fazem parecer-se com um corpo vivo que transpira (Saramago, 1978:
38), num segundo momento a sistemática sucessão de elementos que
continuam a sua personificação não deixa margem para quaisquer
dúvidas. Assim sabemos, por exemplo, de um carro que arfa, profunda
e impacientemente, que raspa “o asfalto como um animal de cascos”,
que se torna “vibrante e tenso” (Saramago, 1978: 39), respondendo
“aos seus movimentos como se fosse um prolongamento mecânico
210
�do seu próprio corpo” (Saramago, 1978: 41)74, até que, finalmente,
começa a assumir um controlo que não lhe permite apenas obliquar
“para a esquerda, por si mesmo”, indo “parar, suavemente, como
se suspirasse, no fim” de uma fila para se reabastecer de gasolina
(Saramago, 1978: 42). Além disso, o controlo que progressivamente
ganha não só lhe permite impedir o condutor de sair do habitáculo,
como o vai tornando completamente autónomo em relação às suas
manobras de condução (Saramago, 1978: 43, 49). Uma autonomia
que se mantém pelo menos até ao momento em que, depois de uma
viagem sem rumo por dentro da noite, a falta de gasolina o obriga
a parar e, na sequência, a libertar o homem.
Atentemos, pois, no parágrafo final da versão de 197875, registando,
entre parêntesis retos, as omissões que consideramos mais significativas relativamente aos dactiloscritos e ao texto publicado em 1973,
importantes não só pelos sentidos que oferecem, ou que elimina[ra]
m, mas, essencialmente, pelos laços relacionais que permitem com
a adaptação de António Ferreira:
A testa cobriu-se-lhe de suor frio. Uma náusea agarrou nele
e sacudiu-o dos pés à cabeça, um véu cobriu-lhe por três
vezes os olhos. Às apalpadelas, abriu a porta para se libertar
da sufocação que aí vinha, e nesse movimento, porque fosse
morrer ou porque o motor morrera76, o corpo pendeu para o
lado esquerdo e escorregou do carro. Escorregou um pouco
Vejam-se ainda os seguintes exemplos: “O ponteiro indicava precisamente meio depósito. Parou num sinal vermelho, sentindo o carro vibrante e tenso nas suas mãos.
Curioso. Nunca dera por esta espécie de frémito animal que percorria em ondas as
chapas da carroçaria e lhe fazia estremecer o ventre”, “Como um perdigueiro que acode
ao cheiro, o carro insinuou-se por entre o trânsito, voltou duas esquinas e foi ocupar
lugar na fila que esperava. Boa lembrança” (SARAMAGO, 1978, 39, 40, respetivamente).
74
75
Ver supra, nota 77.
Emenda autógrafa (“o motor morrera”), dactiloscrito I, mantida no dactiloscrito II
e na edição Estúdios Cor.
76
211
�mais, [agora morto77] [de vez,78] e ficou deitado sobre as pedras.
[Como um rato.79] [mal parido. 80] A chuva recomeçara a cair
(Saramago, 1978: 50).
Vejamos, então, numa linha de leitura assumidamente subjetiva e
que sabemos não ser consensual: parece-nos que o texto da versão
mais recente (Objecto Quase) aponta para um final aberto, não nos
parecendo linear que o homem morra, bastando, para tal conclusão,
atentar na disjuntiva “ou porque fosse morrer ou porque o motor
morrera”. Além disso, não só a frase que acabamos de registar pode
apenas significar a impressão de morte, e não a morte efetiva, como
a chuva que no final recomeça a cair (depois de ter parado “de repente”, em coincidência com o acabar da gasolina, Saramago, 1978:
49) pode ser lida no âmbito de uma dimensão purificadora inerente a
uma leitura simbólica desse elemento (Chevalier e Gheerbrant, 1982:
765-767). De acordo com o exposto, e tendo em mente a dimensão
profundamente ideológica da obra saramaguiana e, naturalmente,
as inevitáveis relações com o contexto histórico-social em que se
enraíza, podemos admitir que, em relação a 1973 (tempo-espaço,
ainda, de regime estado novista, tempo-espaço não ainda de um
regime democrático tornado possível pela Revolução de Abril), José
Saramago evidencia, no presente de 1978, uma tendência para ver a
Humanidade de forma não inteiramente sombria. Afinal, ao contrário
do que sucede com o homem que, quase no início do conto (e do
domínio do carro), maneja, sem sucesso, “a alavanca das velocidades para meter a marcha atrás” (Saramago, 1978: 41), talvez, afinal,
ainda haja hipótese de reverter a situação de dependência em que
os sucessivos avanços tecnológicos nos colocaram.
77
Dactiloscritos I e II e edição Estúdios Cor.
78
Emenda autógrafa, dactiloscrito I, mantida no dactiloscrito II e na edição Estúdios Cor.
79
Dactiloscritos I e II e edição Estúdios Cor.
80
Edição Estúdios Cor.
212
�Sublinhe-se que a tonalidade do final fechado da versão dos
Estúdios Cor se torna mais sinistra porque, à constatação fria do
destino do homem, “agora morto de vez”, se alia a comparação “Como
um rato mal parido”, numa imagem cuja força se intensifica não
só pela escolha de um animal aceite, em regra, como repugnante
e repulsivo mas, também, pela sua recorrência ao longo do conto.
Em primeiro lugar, quando o homem sai de casa e vê “um grande
rato morto” “Na berma do passeio” e em cima do qual um garoto
cospe, “como lhe tinham ensinado e sempre via fazer” (Saramago,
1978: 38). Em segundo lugar, quando, já, e ainda, preso no carro,
o homem regressa a casa para falar com a mulher e cabe a esta
observar “um rato morto na berma do passeio”, “mole, de pêlo
arripiado” (Saramago, 1978: 47). Em terceiro lugar, na sequência
do quadro anterior, quando a mulher regressa à rua e verifica que
“o automóvel já desaparecera e o rato escorregara da berma do
passeio, enfim, e rolava na rua inclinada, arrastado pela água que
corria dos algerozes” (Saramago, 1978: 48).
Antecipando, mais uma vez, estratégias que serão postas em
prática em romances posteriores, “Embargo” pode, deste modo,
ser encarado como um aviso à navegação que, apesar de partir
da exposição-denúncia de uma cena social e política regida por
ditames consumistas e capitalistas, inscreve, contudo, a crença,
a esperança, na redenção da Humanidade (Arnaut, 2014: 42-43).
Ou, em termos mais concretos, a esperança na possibilidade de
o Homem se libertar da miséria da sua condição materialista –
uma missão que, como sugerimos, parece impraticável nos dactiloscritos e na sua versão final de 1973, mas que não parece
impossível deduzir a partir do texto de 1978 e da adaptação de
António Ferreira.
Assim, mantendo embora as “ideias centrais do conto. A dependência que temos das coisas” (Ferreira, 2010), a variação, a diferença
relativamente ao texto-fonte decorre de processos de adição (Brito,
213
�s.d.: 7) 81 que, em primeiro lugar, dizem respeito ao recurso a um
maior número de personagens, agora quase sempre identificadas pelo
seu nome próprio, como sucede com Nuno, o (co)protagonista (lembrando a partilha de primeiro plano com o carro), com sua mulher,
Margarida, com Sara, a filha do casal ou, entre outras, com Sérgio,
que, com o primeiro, trabalha numa roulotte de bifanas. Em segundo
lugar, a diferença é instaurada pela orquestração de um enredo mais
completo e complexo, que não só ganha em coesão e em coerência
semânticas (apesar da manutenção das já referidas afinidades com
o fantástico), como também adquire dimensões cómicas desde logo
facultadas pela cena inicial e pela correspondente banda sonora
original, da autoria de Luís Pedro Madeira82 . Esta, de acordo com
alguma crítica 83 com a qual não concordamos inteiramente, acaba
por cair no cliché ao ecoar sonoridades já conhecidas de filmes de
Quentin Tarantino:
“Embargo”, o filme, começa com uma sequência tintada de
cores gastas pelo tempo, num lugar e numa época indefinidos, num mundo esvaziado de pessoas e com as bombas
Partindo do que considera serem as “constatações mais pertinentes” de Francis
Vannoye sobre a “passagem da estrutura literária para a cinematográfica”, João Brito
aponta duas “básicas operações”: “redução e adição”. A estas acrescenta “duas outras
por ele não contempladas, e no nosso entender igualmente assíduas, a saber, o deslocamento e a transformação, esta última podendo se subdividir em simplificação,
ampliação. Com efeito, de um modo geral, há coisas que estavam no romance e
não estão mais no filme (redução), há coisas que estão no filme e que não estavam
no romance (adição), e finalmente, há coisas que estão nos dois, porém, de modo
diferente (deslocamento, transformação). O que complica, porém, a relativa simplicidade do esquema é que essas reduções, adições e transformações acontecem
em vários níveis que precisam ser distinguidos” e que restringe “a três elementos:
enredo, personagens e linguagem” (BRITO, s.d.: 6, cf. 10 para um “esquema mínimo
do processo adaptativo”).
81
Ver/ouvir em https://www.facebook.com/embargo.movie (consultado em 5 de fevereiro de 2015).
82
Ver crítica ao filme por Ante-Cinema em http://www.ante-cinema.com/critica-%C2%ABembargo%C2%BB-um-filme-embargado-na-longa-duracao/ (consultado em
21 de janeiro de 2015).
83
214
�de gasolina esgotadas – “uma espécie de Mad Max à portuguesa”, diz o autor. O guarda-roupa das personagens e um
velho Opel Kadett transportam-nos para a década de 70,
mas o aparecimento de um computador, um “scanner” e um
telemóvel, do mesmo modo que a associação da pop anos
60 com a música tecno, vêm baralhar a datação. “O filme,
como não é passado nem presente, só pode ser futuro”, o
que torna a mensagem ainda mais inquietante. Com esta
indefinição, o realizador quis também evitar o risco de ver
os espectadores a procurarem a verosimilhança dos adereços, lançando-os antes para “um mundo suspenso de um
embargo” em que um homem (Filipe Costa, actor e músico)
se vê de um momento para o outro literalmente presa do
seu carro e da voracidade deste pela gasolina que cada vez
é mais escassa (Andrade, 2010: 15).
“[M]undo suspenso de um embargo”, ou não, baralhado pela datação, ou não, a verdade é que António Ferreira nos oferece uma
realidade preocupante que é, com efeito, a nossa, e que é, também,
sem sombra de dúvida, direta ou indiretamente, a dos universos
saramaguianos.
Não nos referimos apenas às assimetrias sociais sub-repticiamente
presentes, por exemplo, em termos englobantes, no contraste entre
as condições da vida familiar de Nuno e a ambiência em que se
movimentam os empresários a quem tenta vender uma máquina
de digitalizar pés (permitindo fazer sapatos de exata medida), invenção que o faria ascender financeiramente e, por consequência,
a abandonar o trabalho na roulotte de bifanas. A mesma roulotte
onde, como já dissemos, também trabalha Sérgio que, não por acaso,
convocando mais uma vez a dinâmica ideológica de José Saramago,
é focado (em plano de semi-conjunto) a ler um livro que, como verificaremos (primeiro recorrendo ao insert e, depois, a vários close
215
�ups 84), se intitula Teoria das Classes Sociais (de Nicos Poulantzas).
Referimo-nos, ainda, e em particular, agora numa linha estreitamente ligada ao conto, ao controlo do humano pela máquina e à
consequente inversão de papéis. Em cenas cujo suspense aumenta
na medida proporcional à intensidade ou à profundidade da banda
sonora, a autonomização do carro em relação à personagem ganha
contornos mais relevantes pelo facto de, em várias ocasiões, a dinâmica de vontade própria da viatura se consubstanciar na capacidade
de ligar o rádio. Não por mera coincidência, segundo julgamos, e
sublinhando as potencialidades de ilustração e de interpretação
das opções sonoras na sua conjugação com a imagem (HUTCHEON,
2006: 70), a música escolhida é “Tu piangi, o Filli mia”, da autoria
de Carlo Gesualdo:
Tu piangi, o Filli mia,
E pensi estinguer quell’ardente fiamma
Che sì dolce m’infiamma.
Ahi, che sì picciol pianto fa che il core
Tanto più avvampi di vivace ardore 85.
A composição musical invoca uma das mais belas e trágicas histórias de amor da antiguidade: o suicídio de Fílis, desesperada pelo
abandono de Demofonte, que é, por piedade dos deuses, transformada numa amendoeira que só floresce quando o marido, finalmente
“[O] plano de conjunto (…) cobre todo o cenário construído e o semi-conjunto (…)
cobre apenas parte do cenário [o interior da roulotte]. No que respeita às personagens, o plano médio enquadra-as em pé, o plano americano a meia-perna, o plano
aproximado à altura da cintura ou do peito, o grande plano à altura do pescoço. O
plano de pormenor isola uma parte do rosto (olhos, boca…), enquanto o insert designa o plano de pormenor de um objecto (o inglês faz uma distinção entre close-up
para os rostos e insert para os objectos)” ( Journot, 2009: 56, “Escala de planos”).
84
Publicada em Nápoles, em 1611 (Madrigali libro sesto). “Tu choras, ó Filli minha, / E
pensas extinguir aquela ardente chama / Que tão doce me inflama. / Ah, que tão breve
choro faz que o coração / Tanto mais soçobre de vivo ardor” (tradução de Rita Marnoto).
85
216
�regressado ao reino da Trácia, a ela se abraça (Grimal, 2004: 171172) 86. Analisando as três ocorrências da reapropriação do madrigal
do compositor italiano, julgamos poder afirmar que as duas primeiras, antes do efetivo aprisionamento de Nuno (que coincide com
a terceira), podem corresponder a um subtil e irónico indício que
antecipa a ideia de que o abraço a vir não só não dará frutos como
será, pelo contrário, quase fatal.
Numa linha extensionalmente paródica, mas tendo presente a
dimensão trágica que assiste ao hipotexto, parece, pois, poder convocar-se o anúncio do irremediável e triste fim dos que, no caso,
amam desmesuradamente alguma coisa: a máquina (e é necessário
não esquecer que o obsessivo fascínio pela sua invenção leva Nuno,
num primeiro momento, a descurar os afetos familiares). A paródia
– isto é, a imitação com distanciamento crítico (Hutcheon, 1989: 17)
– consubstancia-se, justamente, na ideia de que da relação máquina-Nuno/Homem nada de bom advirá, sempre se inscrevendo sentidos
que apontam para os resultados negativos da dependência (do amor?).
O que também está em jogo com o uso de “Tu piangi, o Filli
mia” é a possibilidade de confirmarmos, com Christian Metz, que
o cinema “tells us continuous stories; it ‘says’ things that could be
conveyed also in the language of words; yet it says them differently”
(apud Hutcheon, 2006: 3). De igual modo, Virginia Woolf, apesar
de deplorar a simplificação da obra de arte literária na transposição para o novo meio, classificando o filme como “‘parasite’” e a
literatura como “its ‘prey’ and ‘victim’”, não deixa de aceitar, como
refere Linda Hutcheon, “that film had the potencial to develop its
own independente idiom: ‘cinema has within its grasp innumerable
symbols for emotions that have so far failed to find expression’ in
words” (apud Hutcheon, 2006:3). E assim, numa máscara visual da
Como (quase) sempre sucede na mitologia, há várias versões para a história de
Fílis: Demofonte pode ser substituído pelo irmão, Acamante, ou, entre outras diferenças, o reverdescimento da amendoeira resulta de um beijo e não de um abraço.
86
217
�palavra, assistimos, pela imagem, à progressão da expressão facial
de Nuno, da perplexidade ao que vemos como temor, dele e, por
sugestão, nossa, também.
Transformados em desespero na medida proporcional ao domínio exercido pelo carro, e talvez numa derradeira tentativa de retomar o controlo, os sentimentos exacerbados levam Nuno a tentar
o suicídio, impedido (interrompido?) pela falta de gasolina e pela
consequente morte do carcereiro. Lembrando as considerações feitas sobre os finais dos dactilostritos, da edição Estúdios Cor e do
conto de 1978, parece-nos que os sentidos implícitos na reta final
do filme vão, portanto, ao encontro da possibilidade de verificarmos
uma convergência com a proposta de leitura que fizemos do último
texto, no qual se baseia o argumento do filme de António Ferreira.
Assim, a inscrição de uma linha de esperança na humanização e na
redenção do Homem decorre, cremos, do facto de, assumidamente,
se mostrar a libertação do (co)protagonista não apenas em relação
à máquina-carro mas também no que respeita à ligação (obsessão?)
com a máquina de digitalizar pés.
A relativização do valor deste aparelho, a favor de valores familiares adormecidos-interrompidos e a que urge regressar, resulta
na decisão de o trocar por um meio de deslocação para casa, uma
das trotinetes de um dos miúdos que já conhecíamos das cenas
de abertura, em detrimento da proposta-negócio inicial em que
um coelho, encontrado após o desencarceramento, seria a moeda
de troca.
O diálogo estabelecido entre adulto e crianças por ocasião das
negociações referidas é também elucidativo da interpretação que
fazemos, na medida em que o miúdo que encabeça o grupo, reconhecendo o valor aparente da peça, claramente afirma a injustiça
de trocar o digitalizador apenas por uma trotinete e não por duas.
Afinal, a geração dos adultos a ser parece ter consciência de valores
fundamentais para a boa organização social e humana. Talvez venham
218
�a perder a inocência, não sabemos, mas talvez se mantenham genuínos e capazes de compreender as necessidades do outro.
Tal como sucede na constelação ficcional de José Saramago, indo ao
encontro do espírito que lhe preside, a mensagem que fica suspensa
no além texto, no além filme, é, afinal, a de uma hipótese de uma
sociedade mais justa e, por isso, mais fraterna. Assim, ilustrando a
retomada de consciência da importância das relações humanas, talvez
não seja coincidência que o rato que pontualmente marca algumas
cenas da(s) narrativa(s) dê agora lugar ao coelho que, de acordo
com promessa feita, substituirá o homónimo peluche decapitado de
Sara. Além disso, e ao contrário do rato, elemento de destruição e
de morte, o coelho (tal como a lebre) é símbolo de renovação, de
renascimento, de fim de um ciclo e de início de um outro (Chevalier
e Gheerbrant, 1982: 904, 572-573).
Amplificando, ignorando, subvertendo ou transformando a “densa rede informacional”, a “série de pistas verbais” que participam
no “texto original” (Stam, 2006: 50), António Ferreira viu no conto
“Embargo”, “uma expressão situada, produzida em um meio e em um
contexto histórico e social”, transformando-a “em outra expressão,
igualmente situada, produzida em um contexto diferente e transmitida
em um meio diferente” (STAM, 2006: 50). O texto-fonte, portanto,
is not something to be reproduced, but rather something to
be interpreted and recreated, often in a new medium. It is
what some theorists calls a reservoir of instructions, diegetic,
narrative, and axiological, that the adapter can use or ignore
(...), for the adapter 87 is an interpreter before becoming a
creator (Hutcheon, 2006: 84).
Tenhamos em mente que “Films are like operas in that there are many and varied
artists involved in the complex process of their creation. Nevertheless, it is evident from
both studio press releases and critical response that the director is ultimately held responsible for the overall vision and therefore for the adaptation” (HUTCHEON, 2006: 85).
87
219
�Não parece simples de aceitar, porém, a ideia de que a transcodificação levada a cabo não resulta necessariamente, repetimos,
numa desobediência ao espírito do livro, em particular, ou da obra,
em geral. A prová-lo, algumas das críticas também feitas à adaptação para cinema de um outro texto de José Saramago: A Jangada
de Pedra, com roteiro da responsabilidade de George Sluizer e
Yvette Biro.
Estreado em 2002 com o mesmo título, numa coprodução holandesa, portuguesa e espanhola, o filme do diretor e produtor cinematográfico holandês é assim comentado por Eurico de Barros,
George Sluizer não quis fazer um filme de efeitos especiais
espectaculares, à maneira americana, mas essa intenção não
foi suficiente para transformar «A Jangada de Pedra» num
bom, discreto e sugestivo filme europeu. Esta adaptação
do livro do Prémio Nobel José Saramago resulta apenas
em mais um «europudim» tépido e incaracterístico, onde
o tédio que rapidamente se instala na narrativa alastra às
interpretações dos actores, que Sluizer não soube (ou não
pretendeu) dirigir. E o filme vai-se afundando mais devagar
do que demora à Península Ibérica a chegar a meio do
Atlântico (BARROS, s.d.).
Para João Lopes, por seu turno,
Ficou por fazer um grande filme – eis o que apetece dizer
face aos resultados algo assépticos desta «transcrição»
cinematográfica do romance homónimo de José Saramago.
E escrevo assim mesmo, «transcrição» (com aspas), porque
parecer ter presidido ao projecto a ilusão (terrível no plano
da linguagem cinematográfica) de que a dimensão mágica
de «A Jangada de Pedra» – a parábola fantástica da Península
220
�Ibérica que se desprende do continente e vai vogando pelo
mar fora... – seria passível de ser «ilustrada» através de um
tom banalmente descritivo, aqui e ali exibindo alguns efeitos
especiais (tecnicamente muito limitados, importa dizê-lo).
Infelizmente, nenhuma emoção passa, a não ser a sensação
penosa de que o filme nunca consegue apropriar-se de qualquer
dimensão que não seja a de um «naturalismo» incipiente, aqui
e ali tentando fingir algum arrojo espectacular. Os actores,
ainda que esforçados, pouco podem fazer, até porque não
se sente qualquer trabalho de direcção que consiga aliar de
forma inventiva as suas diferenças de origem e sensibilidade
(LOPES, s.d., destacados do autor).
Apesar de aceitarmos as perspetivas dos profissionais da área
que, aliás, incidem sobre questões técnicas (como a pobreza dos
efeitos especiais), julgamos ser necessário relativizar algumas das
considerações feitas. Fazemo-lo, naturalmente, de um ponto de vista
(quase) leigo que, em todo o caso, merece ser considerado, tendo
em mente, mais uma vez, a dinâmica de manutenção do espírito da
obra. Deixamos de lado, portanto, as mais polémicas discussões
sobre o modo como se encena a fantástica separação da Península
Ibérica da velha Europa (ou outros efeitos suscetíveis de repreensão
especializada, como a pedra lançada ao mar por Joaquim Sassa),
ou, ainda, os aspetos relacionados com o casting (que, por vezes,
nesta ou em outras situações-adaptações pode colidir com a imagem
mental que a leitura do texto original nos sugere). Não podemos é
deixar sem comentário a assunção, de João Lopes, de que “nenhuma
emoção passa”.
Pelo contrário, não só passam as emoções das personagens, envolvidas em viagens de auto e de heteroconhecimento, como, além
disso, ressaltam (em alegoria) as emoções do próprio autor sobre a
adesão de Portugal e de Espanha à então Comunidade Económica
221
�Europeia 88. Preso nas malhas da ficção que tece, imagina-se transportado (transportando-nos) “na delirante jangada de pedra em que
transformara a Península Ibérica, flutuando sobre o mar atlântico, a
caminho do Sul e da Utopia” (Saramago, 1989a: 32). Para Saramago,
aduza-se,
A peculiaridade da alegoria era transparente: embora
prolongando algumas semelhanças com o mais comum dos
emigrantes que parte para outras terras a buscar a vida,
prevalecia, neste caso, uma definitiva e substancial diferença,
a de viajarem também comigo, na migração inaudita, o meu
próprio país, todo ele, e, sem que aos espanhóis tivesse pedido
a devida licença, portanto sem autorização nem procuração, a
Espanha. Ora, embalado nestas minhas imaginações, notava
eu que não tinha parte nelas qualquer sentimento de pesar, de
tristeza, de aflição mais ou menos pânica, ou, para tudo dizer
na inevitável [palavra] portuguesa, saudade. Compreender-se-á
já porquê. É certo que, pelos vistos irremediavelmente, me ia
afastando da Europa, mas os tecidos vitais da barca imensa
que me levava continuavam a alimentar as raízes da minha
identidade própria e da minha pertença colectiva: logo, não
encontrava causa para chorar um bem perdido, se realmente
Os “actos relativos à adesão de Espanha e de Portugal” são assinados a 12 de junho de 1985 e o alargamento da CEE “para 12 Estados-membros” é efetivado a 1 de
janeiro de 1986 (SILVA, 2010: 349), ano de publicação do romance. Sobre o sonho de
uma união ibérica, ver Gómez Aguilera, 2010: 419; Arnaut, 2008: 38-39. Apesar de o
romance simbolicamente defender uma união ibérica, parece-nos que as ancestrais
desconfianças (pequenas ou grandes não interessa agora) entre Portugal e Espanha
não escapam também ao olhar desassossegado e devastador de José Saramago. Deste
modo, quando o narrador refere a “iniciativa do governo espanhol”, conducente ao
estabelecimento de “contactos entre os dois países peninsulares para a definição de
uma política concertada tendente a tirar o melhor partido possível da nova situação”,
não deixa de aduzir que “em Madrid desconfia-se que o governo português irá para
essas negociações com uma reserva mental, qual seja a de pretender, futuramente,
extrair benefícios particulares da maior proximidade em que se achará das costas
canadianas ou norte-americanas, depende” (Saramago, 1986: 283).
88
222
�podia ser assim designado o que antes ganho não fora, mesmo
tendo tão pouco de bem (SARAMAGO, 1989a: 32).
O posicionamento emotivo que o autor assume nas citações acima
transcritas prolonga-se, então, no modo como se urde a narrativa e,
por sua vez, encontra a sua tradução, sem traições semânticas, no
filme de Sluizer 89. Em um e em outro texto, diversamente como não
podia deixar de ser, a viagem da Península Ibérica tornada jangada
de pedra cumpre a função de duplicar o ‘não’ à adesão dos dois
países à CEE/EU. Em substituição do protetorado europeu, Saramago
deixa claro que as parcerias necessárias (da economia à política e
à cultura) devem ser procuradas em sociedades (em povos), com
as quais temos relações ancestrais. E, por isso, a jangada parará,
simbolicamente, entre os continentes africano e sul-americano, num
tempo que é o de uma gravidez (também simbolicamente) coletiva,
como se, dessa forma, se deixasse uma nota de (utópica) esperança
num novo destino com uma nova geração e num futuro bem longe
da “Mãe amorosa, a Europa” (Saramago, 1986: 33).
Mas o romance, e o filme com ele, não vivem apenas da inscrição,
pela palavra e/ou pela imagem, de linhas críticas tecidas em torno
da União Europeia e de um extremado, e por vezes hipócrita, desejo
de unionismo, como sucede, por exemplo, com a reunião dos países
membros da CEE (breve mas incisivamente introduzida no filme por
ocasião da chegada ao Hotel Borges, em Lisboa, de Joaquim, José e
Pedro), durante a qual é emitida a “declaração solene, nos termos da
Não consideramos relevantes, para o efeito, as alterações de local/país relativas
à origem das personagens e aos enigmas que protagonizam: Joana Carda traça o
risco no chão de Alcácer do Sal e não de Ereira, José Anaiço vive em Zahinas (Estremadura) e não numa aldeia do Ribatejo, Pedro Orce é de Venta Micena e não de
Orce, Joaquim Sassa lança a pedra na praia das Maçãs e não numa praia do norte
de Portugal, “talvez Afife”, e Maria Guavaira desmancha o seu pé-de-meia em Mere
(Astúrias) e não na Galiza (Saramago, 1986: 145, 49, 51, 50, 182). Quanto ao local
em que pela primeira vez aparece o cão (Ardent, mais tarde chamado Fiel), o filme
menciona Irati (Navarra) enquanto o romance, de modo mais vago, refere os Montes
Alberes (também em Navarra) (Saramago, 1986: 19).
89
223
�qual ficava entendido que o deslocamento dos países ibéricos para
ocidente não poria em causa os acordos em vigor” (Saramago, 1986: 44).
Não fica por escrever, e por mostrar, no entanto, a não unanimidade da
deliberação e o “certo desprendimento” de “alguns países membros”
que foram “ao ponto de insinuar que se a Península Ibérica se queria
ir embora, então que fosse, o erro foi tê-la deixado entrar” (Saramago,
1986: 44). Não por acaso, anteriormente, o filme já havia ironicamente
inscrito a ideia de que os franceses preferiam que a “falha” estivesse
do lado dos espanhóis, resposta dada pela Srª Enriquez, por ocasião
do início da tentativa de reparação da fenda. No romance, porém, em
trecho longo, lemos que a fenda é “ab-so-lu-ta-men-te espanhola, ou,
para falar com precisão geográfica e nacionalista, navarresa” (Saramago,
1986: 23). Salvaguardadas as devidas distâncias semânticas, julgamos
que o efeito obtido é o mesmo: a assunção-inscrição da diferença e a
vontade de separação do resto da Europa, diversa, como acima sugerimos, “das realidades ibéricas” (Saramago, 1986: 164). O trecho, que
o filme parece aglutinar na cena da “declaração solene”, é elucidativo:
Uma ação de contrafogo decidida pelos governos europeus
consistiu em organizar debates e mesas-redondas na televisão,
com a principal participação de pessoas que tinham fugido da
península quando a ruptura se consumou e tornou irreversível,
não aquelas que lá tinham estado como turistas e que, coitadas,
não tinham ganho para o susto, mas os naturais propriamente
ditos, aqueles que, apesar dos apertados laços da tradição
e da cultura, da propriedade e do poder, tinham virado as
costas ao desvario geológico e escolhido a estabilidade física
do continente. Essas pessoas traçaram o negro quadro das
realidades ibéricas, deram conselhos, com muita caridade e
conhecimento de causa, aos irrequietos que imprudentemente
estavam a pôr em perigo a identidade europeia, e concluíram
a sua intervenção no debate com uma frase definitiva, olhos
224
�nos olhos do espectador, Faça como eu, escolha a Europa
(Saramago, 1986: 164)90.
Na sequência das emotividades tantas vezes anunciadas publicamente por José Saramago, do que se trata, também, é de expor,
com a devida dose de ironia, a falta de objetividade da Imprensa,
denunciar a cobardice política e, como não podia deixar de acontecer, a prepotência dos Estados Unidos da América do Norte que,
numa estratégia enunciativa que visa duplicar os jogos de poder
que protagonizam, “assim por extensão inteira deverão ser sempre
nomeados” (Saramago, 1986: 213). É certo que não encontramos no
filme de Sluizer a variedade de comentários irónicos oferecidos pelo
verbo de Saramago91, facto que pode levar alguma crítica a apontar
Num outro exemplo, ilustrativo tanto do afastamento físico que se vai acentuando
quanto do afastamento identitário: “Milhares e milhares foram parar a Marrocos,
fugidos quer do Algarve quer da costa espanhola, estes os que estavam para baixo
do cabo de Palos, quem estivesse daí para cima preferia ser levado diretamente para
a Europa, podendo ser, perguntavam assim, Quanto quer para me levar à Europa”
(Saramago, 1986: 42).
90
Ver Saramago, 1986: 167 (sobre a inusitada “prudência da Casa Branca, em geral tão
pronta a intervir nos negócios do mundo), 170 e 272 (a propósito do “reconhecimento”
do “espírito humanitário” e do “realismo político” dos EUA, “graças aos quais se tem
mantido a níveis razoáveis o abastecimento de carburantes e também de produtos alimentares”, muito provavelmente porque uma das hipóteses-expectativas era a de que
a Península pararia junto da costa americana, o que permitiria a integração territorial,
ilação que pode igualmente ser retirada do anúncio feito pelo presidente de que “os
países que aí vinham podiam contar com o apoio e a solidariedade moral e material
da nação norte-americana), 213-214 (relativa ao não agrado da “fórmula do governo
nacional”, à disposição para “evacuar toda a população dos Açores (…)” e ao “sonho
secreto do Departamento de Estado e do Pentágono” de que, numa outra hipótese-expectativa, “as ilhas detivessem, mesmo que com alguns estragos, a península, que
assim ficaria fixada a meio do Atlântico para benefício da paz no mundo, da civilização
ocidental e de óbvias conveniências estratégicas”), 298-299 (acerca de jogos políticos e
zonas de influência), 321-322 (a respeito da não demissão “das suas responsabilidades
para com a civilização, a liberdade e a paz, mas que os povos peninsulares não podiam
contar, agora que penetravam em áreas conflituais de influência (…), com uma ajuda
igual àquela que estava à sua espera quando parecia que o seu futuro se tornaria
indissociável da nação americana”). Ver, ainda, Saramago, 1986: 139 (para a crítica à
sapiência americana) ou 281 (para a “solene garantia de que o tradicional espírito de
boa vizinhança entre os Estados Unidos e o Canadá não será afetado por qualquer
circunstância”, isto é, pela deslocação da Península Ibérica).
91
225
�um certo efeito de redução (Brito, s.d.: 72, Hutcheon, 2006: 70). Não
é menos certo, no entanto, que, na tradução que o filme também
é, a ideia englobante da reclamada supremacia norte-americana se
encontra ilustrada no protagonismo concedido aos ianques (ausentes
no texto-fonte) na tentativa inicial de reparar a falha que, de forma
irremediável, nos separaria de França e Cia. Apesar da criticada deficiência técnica dos efeitos especiais é também inevitável sublinhar
que esta cena reforça, sem dúvida, a dimensão ridícula dos esforços
dos nossos aliados para reparar a fratura, indo por isso ao encontro dos sentidos presentes no romance. Em outras situações, como
o episódio em que se mostra o enorme novelo azul que resulta do
desfiar da meia por Maria Guavaira (Saramago, 1986: 18, 188), a
imagem encarregar-se-á de sublinhar a indissociável ligação entre
A Jangada de Pedra e o domínio do fantástico.
O mesmo efeito da imagem que pode valer mais do que as palavras
– ou os ganhos decorrentes da transposição gramática intersemiótica
–, acontece exemplarmente em dois episódios fundamentais. O primeiro é respeitante à cena em que, “sinal duma perversão evidente”,
as palavras “Nous aussi, nous sommes ibériques” (Saramago, 1986:
162) saltam fronteiras geográficas e políticas, sendo postas, em italiano, na boca de um já debilitado Papa João Paulo II, ou, em inglês,
numa bandeira que o filme coloca a ser empunhada (pelo próprio
Sluizer 92) no mais mediático dos cenários: um campo de futebol. O
segundo, em que a intencionalidade ideológica saramaguiana não
apenas se mantém mas se acentua, é relativo ao quadro – facultado
em insert93 – em que se tece a crítica à cobardia política do chefe do
governo de salvação nacional94.
É também Sluizer quem encarna o papel de porta-voz da Comunidade Económica
Europeia, por ocasião da leitura da “declaração solene” (ver supra).
92
93
Ver supra, nota 19.
Podem ainda mencionar-se as cenas relativas ao pânico-caos provocados pelas
notícias do fenómeno e/ou pelas suas consequências (Saramago, 1986: 35, 37, 40,
97-98, 143, 235, 242).
94
226
�Após a notícia da prevista colisão com os Açores, partindo de
um plano que se vai progressivamente fechando sobre um televisor
portátil que anuncia uma notícia de última hora, a comunicação
de que “a salvação está na retirada”, assistimos a um Presidente da
República Portuguesa cuja aparência oscila entre a fragilidade e o
pânico, se não o choro contido. No romance, em que o papel é atribuído ao primeiro-ministro, e em cujas páginas as informações sobre
o curso dos acontecimentos são também, com frequência, facultadas
via rádio ou televisão95, as cores da incompetência, as emoções, já
que delas falamos, surgem esbatidas num registo discursivo que,
apesar de tudo, desanda em tonalidade idêntica à do filme. Num
e noutro texto, portanto, a excitação inicial conferida pelo poder
progride gradativamente para a cobardia do abandono do cargo
(obliquamente prevendo fraquezas semelhantes de membros do real
governo português96):
Constituiu-se o governo de salvação nacional dos portugueses,
começou logo a trabalhar, tendo o primeiro-ministro, o mesmo,
ido à televisão produzir uma frase que a história certamente
registará, uma coisa no género, Sangue, suor e lágrimas, ou
Enterrar os mortos e cuidar dos vivos, ou Honrai a pátria,
que a pátria vos contempla, ou, O sacrifício dos mártires fará
germinar as messes do futuro. Neste caso de agora, e tendo
95
Ver, por exemplo, Saramago, 1986: 31, 39, 49, 51-52, 56, 189, 202-203, 235, 321.
Na sequência da derrota do Partido Socialista nas eleições autárquicas de dezembro
de 2001, António Guterres demite-se do cargo de primeiro-ministro e, em julho de
2004, Durão Barroso, alegando funções de relevante interesse nacional (a presidência
da Comissão Europeia), abandona o mesmo cargo. A crise política provocada é semelhante em ambas as situações. Lembramos que, no romance, o governo de salvação
nacional é constituído porque o governo português se demite, “com fundamento na
evidente gravidade da conjuntura e no perigo coletivo iminente” (Saramago, 1986:
211). Salvaguardando embora as devidas distâncias entre a ficção e a realidade e,
naturalmente, o facto de o romance de Saramago ser anterior aos acontecimentos
referidos, não podemos deixar de considerar que as semelhanças permitem ilustrar
uma ideia imanente da realidade política.
96
227
�em conta os particulares da situação, o primeiro-ministro
achou por bem dizer apenas, Portuguesas, portugueses, a
salvação está na retirada (Saramago, 1986: 223).
Deste modo, se, por um lado, as escolhas do adaptador podem
por vezes reduzir a “interpretative richness” do texto-fonte escrito
(Scholes apud Hutcheon, 2006: 70), por outro lado, “for visually
oriented filmmakers, the opposite is true. They can move from the
single-track language to a multitrack medium and thereby not only
make meaning possible on many levels but appeal to other physical
senses as well” (Hutcheon, 2006: 70). E, talvez, de todos os momentos que do romance passam para o ecrã – num entendimento que
mais uma vez assumimos subjetivo e, por isso, não consensual – o
que nos parece que mais ganha em emoções é o que se refere ao
episódio em que as duas mulheres, primeiro Maria Guavaira e depois
Joana Carda, se deitam com Pedro Orce, inevitavelmente provocando
a momentânea desunião no coeso grupo dos cinco humanos e um
cão97 (Saramago, 1986: 287-291).
Apesar da sensibilidade e do rigor com que José Saramago (ou o
narrador por ele) descreve as atitudes das suas personagens, a carga
dramática do episódio é intensificada no filme: pelo enquadramento
sonoro (da responsabilidade de Henny Vrienten), pelo aproveitamento
do bucolismo da paisagem (fotografia a cargo de Goert Giltaj) ou pela
expressividade dos rostos dos atores – o português Diogo Infante
no papel de Joaquim Sassa, entre a incredulidade sarcástica e a ira;
Lembramos a importância dada ao cão, principalmente em A Jangada de Pedra e
em Ensaio sobre a Cegueira (Arnaut, 2008: 195-196), e sublinhamos que, nesta linha,
o espírito da obra saramaguiana é também mantido pelo facto de o genérico (inicial
e final) do filme de Sluizer incluir, no elenco de atores, Golfo, o cão que tomará o
nome Fiel, substituindo o de Constante, por “sugestão de Maria Guavaira” que “tinha
lembrança de haver lido esse nome num livro qualquer” (Saramago, 1986: 267, ver
Saramago, 1982 [1980]: 229). Segundo Saramago, “o cão é uma espécie de plataforma
onde os sentimentos humanos se encontram. O cão aproxima-se dos homens para os
interrogar sobre o que é isso de ser humano” (Gómez Aguilera, 2010: 158).
97
228
�o espanhol Gabino Diego tornado José Anaiço, entre a serenidade e
a melancolia provocadas pelo pontual triângulo amoroso protagonizado pelas corajosas Maria Guavaira-Icíar Bollaín e Joana Carda-Ana
Padrão e por um sempre tímido Pedro Orce-Federico Luppi.
A palavra cristalizada dá lugar, portanto, ao tranquilo rodopio
das emoções provocadas por uma resolução que, em cadeia, ilustra
uma importantíssima dimensão temática da ficção saramaguiana:
a solidariedade ou, talvez melhor, a compaixão pelo outro, ou a
caridade, que, em episódio semelhante, também surge em Ensaio
sobre a Cegueira 98. No (quase) final da viagem da Península Ibérica
é também necessário que as personagens vistam a nova roupagem
que interiormente foram adquirindo (conquistando?) e, por isso (apesar de, com certeza, se suspeitar da gravidade das consequências),
não há como não compreender a decisão tomada. A vara com que
Joana Carda riscara o chão não precisará, pois, de fazer mais um
risco, agora para saber “quem fica de um lado e quem fica de outro”
(Saramago, 1986: 290).
Talvez, de facto, não se recorra a tecnologia de ponta mas, vejamos,
não terá o realizador, tal como o autor, pretendido construir uma
espécie de história paralela às simples “histórias de fadas, embruxamentos e andantes cavalarias” (Saramago: 1986: 69)? A resposta
afirmativa a esta questão – que nos parece permitir adequar ao contexto o comentário de Joana Carda sobre os futuros companheiros
de viagem, separados “da lógica aparente do mundo” (Saramago,
1986: 147) – implica aceitar a singeleza dos procedimentos técnicos, ou a própria ingenuidade da representação de um José Anaiço
(quase) sempre acompanhado, em assumido tom hitchockiano99,
Referimo-nos ao momento em que a rapariga dos óculos escuros, “a mais bonita de
todas as que aqui se encontram, a de corpo mais bem feito, a mais atraente, a que
todos passaram a desejar quando correu a voz do que valia, foi afinal, numa noite
destas [por pura caridade], meter-se por sua própria vontade na cama do velho da
venda preta, que a recebeu como chuva de verão” (Saramago, 1995: 170-171).
98
99
Ver Saramago, 1986: 70, 112.
229
�do bando de estorninhos. Implica, em suma, aceitar, como escreve
José Saramago, que “Estranho é o destino das palavras” (Saramago,
1986: 79), principalmente quando o escritor põe e o cineasta dispõe100.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A JANGADA DE PEDRA (2002) [Filme], Realização de George Sluizer; baseado na obra
de José Saramago. Lisboa: Lusomundo.
ANDRADE, S. C. (2010), “António Ferreira: no fim do mundo com Saramago”, in
Público/Ípsilon, 26 de fevereiro, pp. 14-15 (também disponível em: http://www.
pngpictures.com/embargo/Y_26fev2010_Embargo.pdf (consultado em 12.11.2014).
Ante-Cinema em http://www.ante-cinema.com/critica-%C2%ABembargo%C2%BB-um-filme-embargado-na-longa-duracao/ (consultado em 21 de janeiro de 2015).
ARNAUT, A.P. (2008). José Saramago. Lisboa: Ed. 70.
ARNAUT, A. P. (2010). “Novos rumos na ficção de José Saramago: os romances fábula
(As Intermitências da Morte, A Viagem do Elefante, Caim”, in BAREL, A. B.
(Org.). Os Nacionalismos na Literatura do Século XX: os Indivíduos em Face
das Nações. Coimbra: MinervaCoimbra, pp. 51-70.
ARNAUT, A. P. (2014). “José Saramago: da realidade à utopia. O Homem como lugar
onde”, in BALTRUSCH, B. (Ed.). “O que transformou o mundo é a necessidade e
não a utopia” – Estudos sobre Utopia e Ficção em José Saramago. Berlin: Frank
& Timme, pp. 31-52.
BAETENS, J. & LITS, M. (Eds.) (2004). La Novellisation: du Film au Roman /
Novellization: From Film to Novel. Leuven: Leuven University Press.
BARROS, E. (s.d.). “George Sluizer não quis fazer um filme de efeitos especiais espectaculares”. Disponível em http://www.cinema2000.pt/ficha.php3?id=3190
(consultado em 09.03.2015).
“O homem põe, o cão dispõe” (Saramago, 1986: 153). Recordem-se, a propósito
das alterações que fazemos ao provérbio de lavra saramaguiana, as ressalvas feitas
na capa dos DVD que visualizámos, indiciadoras do propósito de não colagem literal
ao texto-fonte: “Embargo. A partir da obra homónima de José Saramago” e “Baseado
no livro do Prémio Nobel José Saramago. A jangada de pedra”.
100
230
�BELLO, M. R. L. (2008). Narrativa Literária e Narrativa Fílmica. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian.
BRITO, J. B. de (s.d.). Literatura no Cinema. Disponível em: http://imagensamadasdotcom.files.wordpress.com/2011/04/literatura_no_cinema.pdf (consultado em
12.11.2014).
CARDOSO, A. H. (1995). Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua
Portuguesa. Lisboa / São Paulo.
CARDOSO, L. M. B. (2000). “Da literatura ao cinema: um percurso estético-literário do romance Cântico Final de Vergílio Ferreira”, in Lumina, v. 3, nº 2, jul.-dez., pp. 43-52.
CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A. (1982 [1969]). Dictionnaire des Symboles. Mythes,
Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres. Édition revue et
augmentée. Paris: Robert Laffont/Jupiter.
EMBARGO (2010) [Filme], Realização de António Ferreira; baseado no conto de José
Saramago. Coimbra: Sofá Filmes.
FERREIRA, A. (2010). “Saramago sem traços contínuos”, entrevista conduzida por Manuel
Halpern, disponível em: http://visao.sapo.pt/saramago=-sem-tracos-continuosf574883 (consultado em 12.11.2014).
FERREIRA, V. (1995), “Do livro ao filme”, in Discursos. Estudos de Língua e Cultura
Portuguesa, nº 11-12, pp. 202-206.
GÓMEZ AGUILERA, F. (2010). José Saramago. Nas suas Palavras. Lisboa: Caminho.
GRIMAL, P. (2004). Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Trad. Victor Jabouille,
4ª ed. Lisboa: Difel.
HUTCHEON, L. (2006). A Theory of Adaptation. New York-London: Routledge.
HUTCHEON, L. (1989). Uma Teoria da Paródia. Ensinamento das Formas de Arte do
Século XX. Trad. Teresa Louro Pérez. Lisboa: Edições 70.
LOPES, J. (s.d.), “Ficou por fazer um grande filme”. Disponível em http://www.cinema2000.pt/ficha.php3?id=3190 (consultado em 08.03.2015).
QUADRADO, P. E. (2007), “Objecto Quase e o estatuto de obras menores”, in
MEDEIROS, P. & ORNELAS, J. N. (Eds.). Da Possibilidade do Impossível: Leituras
de Saramago. Utrecht: Portuguese Studies Center, pp. 41-49.
SARAMAGO, J. (1973). “Embargo”, dactiloscrito I, disponível em: http://purl.pt/13868/2/
SARAMAGO, J. (1973). “Embargo”, dactiloscrito II, disponível em: http://purl.pt/13869/2/
231
�SARAMAGO, J. (1973). “O Embargo”. Lisboa: Estúdios Cor.
SARAMAGO, J. (1978). Objecto Quase. Lisboa: Caminho.
SARAMAGO, J. (1982 [1980]). Levantado do Chão, 3ª ed. Lisboa: Caminho.
SARAMAGO, J. (1986). A Jangada de Pedra. Lisboa: Caminho.
SARAMAGO, J. (1989). História do Cerco de Lisboa. Lisboa: Caminho.
SARAMAGO, J. (1989a). “Europa sim, Europa não”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias,
10 de Janeiro, p. 32.
SARAMAGO, J.(1995). Ensaio sobre a Cegueira. Lisboa: Caminho.
SEIXO, M. A. (1979). “Recensão crítica a Objecto Quase, de José Saramago”, in Colóquio/
Letras, nº 49, maio, pp. 77-79.
SILVA, A. M. da (2010). História da Unificação Europeia. A Integração Comunitária
(1945-2010). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
STAM, R. (2006). “Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade”,
in Ilha do Desterro, nº 51, jul.-dez., pp.19-53.
TORRES, M. J. (2000). “Não li o livro, mas vi o filme. Algumas considerações sobre a
relação entre cinema e literatura”, in BUESCU, H. C. e DUARTE, J. F. (Coord.).
Entre Artes e Culturas. Lisboa: Colibri, pp. 55-69.
232
�A NARRATIVA DA DESCONFIANÇA NA POLÍTICA:
A FIGURAÇÃO DO POLÍTICO
Ana Teresa Peixinho
Universidade de Coimbra / CEIS20
Bruno Araújo
Universidade de Brasília / CEIS20
1. A personagem mediática
No seu mais recente romance – Número Zero – Umberto Eco constrói uma ficção à volta do mundo do jornalismo, apontando, em jeito
de caricatura, os piores vícios da imprensa no final do século XX.
Numa das cenas que representa uma reunião de redação, o diretor
do novo jornal Amanhã propõe que se construa uma reportagem
sobre um magistrado italiano incomodativo ao status quo, procurando
evidenciar os seus piores vícios e as falhas mais evidentes. Tratavase, portanto, de denegrir uma reputação:
Vejam bem que, hoje, para rebater uma acusação, não é
necessário provar o contrário, basta deslegitimar o acusador.
Portanto, eis o nome e o apelido do fulano, e Palatino dá um
salto a Rimini, com um gravador e uma máquina fotográfica.
233
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_9
�Siga este servidor integérrimo do Estado, ninguém é jamais
integérrimo a cem por cento, talvez não seja pedófilo, não
terá assassinado a avó, não meteu ao bolso luvas, mas terá
feito qualquer coisa de estranho. Ou, então, se me permitem
a expressão, estranhifique-se o que faz todos os dias. (Eco,
2015: 99).
Tratava-se de pôr o jornalismo ao serviço da calúnia e da intriga
política, construindo um imagem suficientemente duvidosa acerca
de uma figura pública, para que o leitor, pelas inferências possibilitadas pelo texto, pudesse colar a pessoa em causa a um cenário de
desconfiança e de duvidosa credibilidade, nem que para tal se tivesse
de contornar os princípios mais básicos da deontologia profissional.
O que este episódio caricatural romanesco evidencia é um dos
aspetos mais sensíveis da vida pública hodierna: a construção das
imagens dos homens públicos feita essencialmente pelos media.
Sabe-se que esta questão é hoje cuidadosamente trabalhada por
poderosas máquinas de comunicação que, conscientes do valor da
figuração mediática, cuidam cirurgicamente das informações que
devem transpirar para os meios de comunicação acerca de políticos,
desportistas e vedetas. Desde a forma de vestir, aos hábitos quotidianos, passando pelos costumes, crenças, fragmentos discursivos,
tudo é trabalhado por forma a construir uma figura que encaixe num
determinado modelo tido como o ideal.
Aquilo a que o público tem acesso acerca das figuras públicas e
o conhecimento que possui sobre essas pessoas raramente é direto ou pessoal. Os atores sociais que povoam os diferentes media,
quer em formatos noticiosos quer em produtos de entretenimento,
decorrem de construções que mimetizam pessoas reais, com existência ontológica, pouco coincidindo, na maior parte dos casos, com
os homólogos reais. Enquanto, nos mundos possíveis da narrativa
234
�ficcional, as personagens, mesmo quando inspiradas em pessoas,
não têm obrigatoriamente de se fixar a essa imagem do mundo ontológico, no caso específico das narrativas ditas “naturais”, como as
jornalísticas, é indispensável essa correspondência101.
Quando as diversas figuras que povoam o nosso universo social
– como é o caso de políticos de que aqui se fala – deslizam para as
narrativas mediáticas, sejam elas ficcionais ou não, adquirem o estatuto de personagens, perdem a dimensão humana e complexa que
ontologicamente possuem, para se verem reduzidas a uma soma de
traços identificadores, submetidas a procedimentos retórico-textuais de
figuração, que compõem os seus perfis, muitas vezes esquemáticos e
incompletos, a partir dos quais os leitores ou espectadores formarão a
sua opinião. Como alerta Marc Lits, a atividade de construir personagens
pelos media é de uma enorme responsabilidade, pois, na maioria dos
casos, são eles as únicas fontes de conhecimento que o público tem ao
seu dispor (Lits, 2008). O mesmo é dizer que, quando falamos em pessoa / ator social e personagem mediática estamos, na verdade, a falar
de duas entidades distintas, mesmo quando essa personagem integra
narrativas com dever de referencialidade102. E essa construção é, não
raras vezes, sobretudo quando se trata de homens da política, elaborada a partir de um tecido discursivo complexo em que se combinam
a influência dos sofisticados assessores de imagem da comunicação
política, a capacidade de triagem e de crítica do próprio jornalista, os
discursos que se disseminam pelas redes sociais etc. O produto final,
que chega ao público, é já o resultado de composições intersubjetivas,
Explica Valles Calatrava: “La diferencia fundamental de estos relatos informativos
(...) estriba fundamentalmente en su carencia de dimensión ficcional y máxima referencialidad y mimetismo con respecto a la realidad.” (Calatrava, 2008: 21).
101
Comenta Marc Lits, a respeito de figuras como as de Barack Obama ou Bill Clintton:
“(...) il faut cependant admettre que la quasi-totalité des téléspectateurs et lecteurs
de journaux ne découvrent ces deux personnes, éminemment médiatisées, que par
les récits de presse qui les présentent à l’attention de l’opinion (...) Et ceux-ci construisent un personnage selon les critères de vraisembilité, souvent suggérés par les
services de communication des hommes politiques en questions.” (Lits, 2008: 144).
102
235
�dialógicas e altamente profissionalizadas. Porém, como bem assinala
Mário Mesquita, “quando está em causa a “narrativa factual” (...) o
problema não está em demonstrar que as coincidências com a “pessoa
real” são fortuitas, mas que, pelo contrário, a personagem coincide, nos
seus traços principais, com a pessoa “retratada”” (Mesquita, 2003: 132).
Não se trata aqui de ler à luz de critérios ontológicos de verdade ou
falsidade os discursos ficcionais mediáticos, como é o caso daquele que
será objeto de análise neste artigo, mas de perceber que a figuração
é sempre uma atividade de mediação, que implica uma construção
específica, feita quer em função de códigos societais, quer no respeito
pelos códigos de género discursivo ou textual. Mesmo no caso das
personagens jornalísticas, não se trata de pôr em causa a base factual
das narrativas ou de enveredar por um discurso de suspeição que
entende que aquilo que os media produzem é, regra geral, manipulação e distorção da realidade. Pelo contrário, deve perspetivar-se o
discurso mediático, e dentro dele o jornalístico, precisamente pela sua
essencialidade de discurso, só traduzível em textos, que são sempre
uma construção semiótica de mediação, um processo de semantização
do real, pelo qual os públicos acedem aos acontecimentos. Assumindo
um indiscutível papel de mediação, os discursos dos media organizam os conhecimentos, permitem a troca de experiências, através da
produção e reprodução de formas simbólicas, configuram a prática
social e ditam, se não o como, pelo menos aquilo em que pensamos,
moldando os nossos critérios de relevância.103
Neste sentido, o contributo dos estudos narrativos para o estudo
dos media é absolutamente vital, pois são eles quem poderá fornecer as ferramentas analíticas e o quadro epistemológico de estudo
do modo como os media funcionam como instâncias de sentido,
A este respeito, João Carlos Correia explica que os media “ganharam uma dimensão importantíssima no que respeita ao estabelecimento de um significado comum e
intersubjetivo acerca da vida quotidiana”, adiantando que “esta influência se exerce
sobretudo ao nível da relevância relativa aos temas em debate” (Correia, s/d: 9).
103
236
�nomeadamente na construção de personagens: “ser um repórter que
lida com factos e ser um contador de ‘estórias’ que produz contos
não são atividades contraditórias”, afirma Gay Tuchman (1993: 259).
A semantização operada pelos media e o modo como atribuem significados ao real exigem que estes recorram precisamente à narrativa
como seu modo estruturante e, dentro dela, se privilegie a personagem como categoria central. Diremos, com G. Vattimo, que “os mass
media assumem um papel determinante na sociedade pós-moderna”,
inscrevendo “a sociedade da comunicação num sistema de efabulação
do mundo” (Vattimo, 1990: 13) e que essa efabulação é mediada pela
intrínseca narratividade do mediático. Na verdade, os media são hoje
uma das grandes fábricas de mitos contemporâneos, como já Roland
Barthes demonstrara nas suas Mitologias104. Se, à partida, a narrativa
deve mediar a realidade de uma maneira objetivada, ela exige um
olhar crítico que consiga captar a sua essencialidade construída: não
é um lugar de pura e simples reconstituição de factos, fingidos ou
“reais”, e quer as ações, quer as personagens que as protagonizam
são sempre sujeitas a procedimentos de figuração e de construção105.
A personagem é uma categoria narrativa que tem estimulado, na
última década, uma quantidade considerável de estudos de áreas
muito diversas, da Psicologia às Ciências Cognitivas, da Literatura
aos Media Studies. Longe vai o tempo em que se circunscrevia ao
âmbito da literatura, como bem o assinalam Carlos Reis e Ana Cristina
Macário Lopes: “Categoria fundamental da narrativa, a personagem
Vejamos o que, mais recentemente, diz Marc Lits a este respeito: “Une étude
détaillée des pages régionales des quotidiens permet d’observer comment les journalistes “mythifient” les sujets qu’ils traitent (...) Le fait même d’être mentionné dans
un journal rend un personnage ou un événement, de banal et quotidien, mythique”.
(Lits, 2008: 21)
104
Seguimos, assim, a hipótese avançada por autores como Phillipe Marion (Marion,
1997) ou Marc Lits (Lits, 2000), para quem o polo mediático, central no sistema social,
se constrói segundo uma lógica narrativa, quer na sua produção, quer na sua receção:
“Ainsi, le modèle narratif, dans le système médiatique, et tout particulièrement en
télévision, contaminerait, médiagéniquement, l’ensemble du dispositif, de telle sorte
qu’il est majoritairement construit et consommé sur le mode narratif” (Lits, 2000: 5).
105
237
�evidencia a sua relevância em relatos de diversa inserção sociocultural e de variados suportes expressivos” (Reis e Lopes, 2003: 314)106.
A transdisciplinaridade que a afeta diz bem das suas potencialidades
semântico-pragmáticas e ideológicas, na construção das narrativas
que tecem a nossa identidade social. Num texto recente, H. Heidbrink
(Heidbrink, 2010: 67-110) salienta três aspetos importantes na abordagem ao estudo da personagem em contexto não ficcional: i) a relação entre persona e personagem; ii) a ténue fronteira entre real e
ficcional; iii) e o facto de a personagem ser sempre uma construção
semiótica, feixe de signos complexos e materialmente detetáveis,
produto de procedimentos retóricos específicos. Se, na ficção, estas
constatações decorrem do estatuto ficcional dos mundos possíveis
criados pelo discurso, na narrativa de imprensa, ancorada que está a
um pacto comunicacional de “veracidade” e de honestidade factual,
já a questão merece outras explicações e adquire outros contornos.
Na verdade, qualquer estudo que se debruce sobre a figuração
da personagem mediática deve contemplar, como já assinalado por
alguns autores, o processo simplificador a que são sujeitos os atores
sociais no interior das narrativas. Como Mesquita (2002) explica, a
respeito da personagem jornalística, há uma clara tendência para
a construção de personagens planas107, facto que se explica pela
conjugação de alguns fatores que afetam a produção noticiosa: por
um lado, a urgência de atualidade – que dita a velocidade de produção; por outro lado, a necessidade de adaptação dos discursos a
A partir da década de 90 do século passado, assiste-se à “ressurreição” desta
categoria narrativa, em parte fruto de uma vasta revisão conceptual, operada no
quadro de Estudos Narrativos progressivamente mais abrangentes, interdisciplinares
e atentos à evolução das narrativas contemporâneas. Disso são testemunho os estudos
narrativos cognitivistas, o incremento de investigações sobre a construção social de
identidades, os media studies, os estudos culturais, entre outras atuais correntes de
pensamento das ciências sociais e humanas.
106
“De acordo com E. M. Forster, responsável pela designação que aqui se adota,
as personagens planas “são construídas em torno de uma única ideia ou qualidade:
quando nelas existe mais de um fator, atinge-se o início da curva que leva à personagem redonda” (Forster)” (Reis e Lopes, 2003: 322).
107
238
�um público massificado e heterogéneo — o que impõe a eficácia
narrativa em detrimento do aprofundamento das questões. Acresce
a estes fatores a ténue fronteira entre o ficcional e o factual, que
confere à personagem mediática um cariz complexo e ambíguo: se ela
deve um respeito ontológico à figura factual que representa, também
se afirma sempre por processos de construção, que envolvem um
conjunto de procedimentos retórico-discursivos comuns à narrativa
ficcional. Afirma Helen Fulton que “real individuals who form part
of news stories therefore have their characters constituted from the
sam kinds of discursive material as fictional characters” (Fulton,
2005: 237). Esta duplicidade é, na opinião de Ralf Schneider, absolutamente vital para se captar a essência da personagem, que vive
na confluência de um conjunto de informações textuais e do papel
proativo da leitura, processo dinâmico fundamentado em modelos
cognitivos, sociocognitivos e emotivos (Shneider, 2001: 608).
Os recentes desenvolvimentos dos Estudos Narrativos cognitivos
carrearam uma diferente compreensão do funcionamento e do valor
da personagem mediática, partindo precisamente da sua natureza
paradoxal: se, por um lado, ela é baseada em pessoas reais, por outro
lado, é inquestionável que ela resulta de um processo de construção, em que intervêm signos e códigos mais ou menos complexos.
O discurso mediático, ao construir figuras, está a propor quadros de
leitura, molduras aos leitores e espectadores, a partir dos quais será
compreendida a história e as suas personagens. Estas são geralmente associadas a atributos sociais, pessoais e a ações funcionais que
levam à rápida identificação e, muitas vezes, à estereotipia.
Assim, no quadro da análise que aqui se propõe — que incidirá
sobre a construção do protagonista de um filme — parece relevante
chamar a atenção para um conjunto de procedimentos retóricos e
narrativos que devem ser considerados na compreensão da construção da personagem do político no quadro de um filme satírico, com
claros propósitos caricaturais.
239
�3. O político como personagem nos media
A passagem do século XIX para o XX, argumenta Paul Ricoeur (1965),
foi marcada pela propagação de uma “hermenêutica da suspeição”, surgida, em grande medida, graças às ideias disseminadas nas obras de
Marx, Nietzsche e Freud. Por detrás dessa conceção está o entendimento
de que todo discurso pretende ocultar interesses aos quais serve. Ainda
que o filósofo estivesse a referir-se a um momento histórico bastante
específico, o seu pensamento adquire hoje grande atualidade. De facto,
um movimento de generalização da desconfiança como valor universal,
particularmente associado ao universo da política, parece constituir
parte do modus vivendi dos nossos dias. Variados fatores podem ser
apontados como explicativos de tal fenómeno108, mas o objetivo central
desta reflexão é, perspetivando os media como instâncias produtoras de
sentido, compreender o papel que eles desempenham nesse contexto.
Com efeito, a mimetização mediática do político é presidida por
um conjunto de signos culturais altamente complexos que participam
a montante e a jusante do processo de semantização do mundo levado
a cabo no desempenho mediático. Por isso, compreender o político
como personagem nos e dos media exige problematizar outros elementos, que se juntam aos procedimentos retórico-narrativos a que
fizemos referência anteriormente.
Entendemos, nesse sentido, que, no processo de construção da personagem, os media recorrem a uma gramática cultural, socialmente
Não são novos os esforços para compreender os motivos da crise de confiança nas
instituições políticas. Desde os anos 1970, uma corrente de pensadores conservadores,
nos Estados Unidos da América, partiu da noção de crise democrática — em parte
devido aos problemas de governabilidade inerentes à democracia, do ponto de vista
desses autores — como fator que explicaria essa descrença. Mais recentes, contudo,
são os esforços para analisar o papel que os meios de comunicação aí desempenham.
Em diálogo com vários estudos da ciência política, Luis Felipe Miguel (2008) sistematiza três hipóteses explicativas do declínio da confiança nas instituições políticas: (i)
a hipótese do cinismo crescente do público; (ii) a hipótese do fim das ilusões e (iii)
a hipótese da perceção popular correta continuada. Em cada uma delas, os media
exercem papel preponderante.
108
240
�partilhada, sobre as práticas políticas. Situada no plano da metanarrativa,
como diria Motta (2013), essa espécie de ethos prévio sobre a política e
os políticos é o que pode explicar, em grande medida, a forma como a
figuração da personagem é desenvolvida nos media e a maneira pela
qual é percebida pelo público. Em outras palavras, ao construir o político
como personagem, os media tendem a incorporar valores constitutivos
do imaginário cultural popular que estariam na base da configuração de
abordagens estereotipadas sobre a política, como as que observaremos
adiante na análise de uma narrativa cinematográfica sobre a vida de um
político brasileiro em campanha eleitoral. No Brasil, como em qualquer
outro contexto, não se pode compreender a fabricação do político nos
media sem levar em consideração a forma como está estruturada a cultura política nacional. E sem perder de vista que essa mesma cultura,
que nada mais é que o conjunto de valores e crenças com os quais os
cidadãos interagem simbolicamente com a política, vê-se reforçada nas
narrativas mediáticas com grande regularidade, tanto nas informativas
quanto nas ficcionais.
Sobre a constituição da cultura política brasileira, os estudos de
José Álvaro Moisés (1992) a respeito do processo de democratização do país fornecem importantes pistas de análise para o objetivo
deste artigo de compreender o modo de figuração do político nos
media109. Recorrendo a sondagens realizadas no Brasil e em outros
A ideia de cultura política aqui empregada provém dos estudos de Moisés, que a
define como um consenso normativo mínimo sobre a democracia e as práticas políticas
e inclui [...] “entre outras coisas, a generalização de um conjunto de valores, orientações
e atitudes políticas entre os diferentes segmentos em que se divide o mercado político
e resulta tanto dos processos de socialização, como a experiência política concreta
dos membros da comunidade política” (Moisés, 1992: 7). Ora, para entendermos com
maior clareza os valores presentes na cultura política brasileira é fundamental levar
em consideração esses “processos de socialização”, bem como “a experiência concreta” dos brasileiros com a política, no último século, particularmente no período pós
1988, que marca a redemocratização do país. Dois exemplos que marcam esses dois
fatores constitutivos da cultura política: o primeiro presidente depois da ditadura, José
Sarney, não foi eleito diretamente, e Fernando Collor de Melo, o primeiro presidente
realmente eleito pelo voto popular, sofreu um processo de impeachment por denúncias
de corrupção, dois anos depois de ter ganhado a eleição como o “caçador de Marajás”,
ou seja, como aquele que lutaria contra os privilégios da classe dominante.
109
241
�países latino-americanos sobre a forma como as pessoas veem a democracia, o autor conclui que ainda vigoram, na mente dos cidadãos,
conceções autoritárias e clientelistas, como as que caracterizaram
parte da vida política do país durante considerável período de sua
história, no Império e na República.
Não é mero acaso que, durante as recentes manifestações contra
o governo da presidente Dilma Rousseff, pequenos grupos ecoem
palavras de ordem pedindo o retorno dos militares ao poder.
É fundamental recordar que até a redemocratização, no final dos
anos 1980, os brasileiros mantiveram contacto com a democracia
apenas entre os anos 1945 e 1964, isto é, entre o fim do Estado Novo
e o Golpe Militar que impôs ao país uma ditatura de duas décadas.
Antes disso, a república fora proclamada também por meio de um
golpe e, nos anos 1930, Getúlio Vargas comandou uma ditadura
de cariz populista. Esse processo histórico, portanto, não pode
ser olvidado no âmbito de uma reflexão que procura compreender
como os media constroem o político como personagem no interior
de suas narrativas.
A cultura política brasileira também é marcada por uma forte
personificação da atividade política e por um sentimento de desconfiança contínua em relação ao poder — dois valores que, atrelados aos demais, dariam tom ao delineamento das relações entre
cidadãos, políticos, instituições e o próprio regime democrático110.
No que ao primeiro valor respeita, há, de facto, no Brasil como em
outros países, uma tónica na figura individual do político, naquilo
que ele diz ou faz, nos aspectos mais interessantes da sua biografia,
A propósito, no VI Congresso de Pesquisadores em Comunicação e Política, na
cidade do Rio de Janeiro, Wilson Gomes (2015) identificou um paradoxo curioso:
como compreender os elevados índices de desconfiança nas instituições políticas
brasileiras, se o Brasil vive hoje o período mais duradouro de estabilidade democrática da sua história?
110
242
�vistos como grandes estratégias de imagem pelos profissionais do
marketing político111.
No que ao primeiro valor respeita, há, no Brasil, uma tônica muita
acentuada na figura individual do político, e menos no partido político
a que pertence. Trata-se de uma espécie de culto à personalidade,
naturalmente com menos intensidade do que aquele que se observa
num país vizinho como a Argentina, que possui mesmo uma ideologia chamada de peronismo, em referência a Juan Domingo Perón,
ex-presidente do país, fundador, em 1946, do Partido Justicialista
de la Republica Argentina, da ex-presidente Cristina Fernandéz de
Kirchner. No Brasil, a paixão pela dimensão individual do político
é visível, nos media, na recorrente importância dada a aspectos triviais e personalistas de sua vida, que aparecem estrategicamente ao
lado de declarações do político ou são narradas em episódios que
envolvem a sua atuação profissional.
Do ponto de vista da comunicação política, o valor da personalidade é igualmente muito explorado, mas como estratégia de promoção
de imagem. Aqui, o destaque a aspectos biográficos que façam com
que o público se identifique com o político, além de uma composição
que o coloca sempre como guardião da moralidade e da decência no
manejo da coisa pública são apenas dois dos exemplos mais emblemáticos do modo como a personalidade figura como valor essencial
na cultura política brasileira. Não é por acaso que a narrativa que
analisaremos a seguir se estrutura em torno da vida pública e privada
de um político-candidato à Presidência da República.
Relativamente ao valor da desconfiança, os brasileiros parecem
confiar cada vez menos nas instituições políticas da democracia,
como deixam perceber os resultados do Índice de Confiança Social
2015 — pesquisa realizada pelo Instituto IBOPE Inteligência, com
Em outro estudo, constatamos que o valor da personificação da vida política aparece com força ainda maior na cobertura jornalística de casos de corrupção política
(Araújo; Jorge, 2015).
111
243
�base numa amostra de 2.000 entrevistas —, segundo os quais instituições, atores políticos e processos eleitorais aparecem como os
maiores alvos da desconfiança pública: numa escala de 0 (menor
confiança) a 100 (maior confiança), as eleições e os sistema político recebem 33 pontos; a Presidente da República e o Congresso
Nacional, 22; e os Partidos Políticos, em último lugar, aparecem
com 17 pontos. Instituições fora do espectro político institucional,
ao revés, são as que mais merecem a confiança da população,
segundo o estudo: o primeiro lugar é ocupado pelo Corpo de
Bombeiros, que recebem 81 pontos, seguidos pela Igreja, 71, e as
Forças Armadas, com 63 pontos.
Interessante é observar, nesse sentido, a forma como esses valores predominantes na cultura política brasileira — mormente o
valor da desconfiança na política, central nesta reflexão — são
tecidos como fios narrativos constituidores da imagem do político
nas narrativas mediáticas. Num artigo já clássico entre os estudiosos
da personagem mediática, Mário Mesquita chama a atenção para o
facto de os media frequentemente apostarem na criação de personagens planas com forte tendência para a tipificação e, portanto,
para a estereotipia. De acordo ele, o resultado desse processo é a
construção de “uma mimesis rudimentar que facilita os efeitos de
identificação na medida em que reduz a complexidade dos seres
retratados” (Mesquita, 2002: 126).
É de notar que o autor dialoga diretamente com o conceito de
estereótipo — incluído no campo das ciências sociais pelas mãos
de Walter Lippmann, em Public Opinion (1922) — que nos parece
fundamental para compreender o processo de construção do político
como personagem. Com efeito, um dos aspectos mais importantes
da noção de estereótipo é a ideia de que ele essencializa e reduz a
complexidade de uma realidade. Em uma conferência sobre os perigos da história única, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie
(2009) recorda que o estereótipo nem sempre revela mentiras, mas
244
�sempre oculta verdades112. Salientamos novamente que não interessa
pensarmos em termos de verdade/mentira; ao contrário, importa
chamar a atenção para o caráter reducionista e descaracterizador da
complexidade humana e social presente nos processos de estereotipia,
instaurados durante a figuração de certas personagens, nomeadamente
as de tipo político, como a que a seguir analisaremos.
Não é, portanto, despropositado afirmar que a figuração do político nos media é realizada por meio de um processo de estereotipia que integra uma lógica mediática hegemônica de construção de
mensagens e sentidos, articulada no âmbito de uma teia discursiva
complexa, cuja constituição se dá por fatores de ordem sociocultural
e por dialogias estabelecidas entre os diferentes agentes discursivos,
jornalistas, fontes, leitores etc. Como acima explicitado, a simplificação e a superficialidade que presidem à mimetização de agentes
públicos, com existência ontológica, no discurso mediático, constituem as bases para o funcionamento desse processo de estereotipia poderoso, possuidor de efeitos ideológicos muito claros ante o
público: a figura do político, como representação de uma categoria
indispensável às democracias liberais de cariz representativo, emerge
envolta em pré-conceitos, ou seja, numa série de valores negativos
previamente estabelecidos — um ethos prévio, como antes se disse
— e constitutivos da cultura política nacional.
Destaque-se, todavia, que os media nem sempre atuam na fabricação direta dos estereótipos associados à política; estes são, porém,
absorvidos, proliferados e tendem a ser naturalizados no espaço público por meio e em função do discurso daqueles. Com efeito, com a
hegemonia que ainda detém em face de outras paisagens informativas,
os media absorvem valores e crenças partilhadas por grande parte do
público em relação aos políticos e à política e os reforça por meio de
A conferência pode ser consultada no seguinte endereço: http://goo.gl/krtdT1.
Consultado a 14 jan. 2015.
112
245
�narrativas informativas ou ficcionais113. Em função de uma reprodução
exaustiva por meio da enunciação mediática, essas visões essencialistas da realidade tendem a ser naturalizadas no palco da esfera
pública hodierna. Assim, adquirem o estatuto de espinha dorsal do
jogo político mediaticamente representado. Essa naturalização é, de
resto, traço bastante comum na relação dos cidadãos com a política:
tendemos a vê-la como naturalmente vil e degradante, e não como
“terreno de salvação”, isto é, de ação coletiva em torno do que é público e, sobretudo, como espaço de gestão de desejos conflitantes 114.
O processo de estereotipia instaurado pelos media encontra, desse
modo, menos ancoragem na criação de estereótipos — embora se
possa admitir algumas ocorrências, como veremos na análise a seguir
— que na absorção, proliferação e, principalmente, na naturalização
dessas marcas redutoras da complexidade do mundo, que funcionam
como sinais estigmatizantes da generalidade dos agentes públicos.
O entendimento da ideia de processo hegemônico nos media é fruto de uma releitura empreendida do conceito de hegemonia de Gramsci, que pensou o conceito como
processo simbólico de exercício do poder, não através do conjunto das instituições
políticas e dos órgãos de controle e vigilância, e, sim, através da cultura. Segundo o
teórico italiano, a hegemonia não é uma ação partidária, incrustada no aparelho de
Estado — diferentemente da ideia de “ideologia” de Althusser —, mas uma ação de
classe, ancorada na cultura. A partir desse entendimento é possível pensar os media
como instâncias portadoras de um forte poder hegemónico, capaz de fazer passar
modelos de entendimento do mundo, muitas vezes oriundos de discursos conservadores. O aspecto central da noção de hegemonia, portanto, [...] “não é o facto de
operar forçando as pessoas, contra a sua vontade, a conceder poder àqueles que já
são poderosos, mas sim o de funcionar obtendo o consentimento para formas de
perceber o mundo que, de facto, fazem sentido” (Hersey, 2004:129).
113
Com isso, damos erroneamente à política o mesmo entendimento que Aristóteles
deu aos fenómenos naturais, que são baseados pelo “princípio da necessidade”,
segundo o qual alguma coisa acontece porque tem necessariamente de acontecer.
Deixamos, então, de entender a política pela via do “princípio da contingência”.
Oposto ao primeiro, o princípio da contingência, que abarca vários aspectos da nossa
vida, define como contingentes aqueles fenómenos que são de uma maneira, mas que
poderiam ser de muitas outras. Ora, como a política se afasta cada vez mais do seu
verdadeiro modo de entendimento, — atividade a ser entendida pelo princípio da
contingência — passa ser vista numa ótica naturalista, o que, por óbvio, destrói o seu
sentido mais nobre de gestão de desejos em conflito. Há, portanto, o efeito ideológico
e perverso de enxergarmos a política como terreno naturalmente corrompido, pelo
qual os “homens de bem” nada podem fazer, a não ser afastar-se dela.
114
246
�Observar a relevância assumida pelo público — que contribui
para a codificação e atua na descodificação dos enunciados mediáticos — é exercício elucidativo do modus operandi desse processo de
estereotipia subjacente à figuração do político nos media. Quer no
polo da codificação quer no da descodificação (Hall, 2003), media
e público participam ativamente nessa enunciação constituidora de
uma mimesis pública, que só faz sentido porque ambos partilham
códigos culturalmente enraizados sobre a prática política.
Note-se, porém, que isso não significa concordância do público em
relação à mensagem que recebe — e que ajuda a configurar, podendo mesmo refutá-la no quadro de uma “leitura contra-hegemómica”
(Hall, 2003) —, mas, antes, que ele domina os signos necessários para
o seu acolhimento cognitivo. É exatamente isso que faz funcionar
o processo hegemónico mediático: se não houvesse, por exemplo,
a partilha simbólica e intersubjetiva de valores e crenças entre a
narrativa cinematográfica, que será por nós analisada, e o público,
relativamente ao político e à política, muito possivelmente o processo
de enunciação ver-se-ia comprometido; ainda que envolto em uma
estrutura comunicativa tão poderosa na criação de estereótipos como
a da comicidade e do humor na nossa atualidade115.
Esse modo de figuração do político na esfera pública mediática
de nossos dias também se relaciona com a tendência mediática para
adotar uma lógica de infoentretenimento116 no tratamento dado a
certos temas da política, como forma de atração das audiências, por
meio da construção de coberturas jornalísticas e de outros produtos
e processos mediáticos que seguem uma liturgia teatralizada, a embrulhar os acontecimentos, situando-os num paradigma novelesco,
Sobre a criação de estereótipos em produções humorísticas, analisamos a construção da personagem Gina, do Programa Café Central, da RTP 2 (Araújo, 2013).
115
Discutido por um conjunto de autores, o termo infoentretenimento (infotainment)
é geralmente associado à prática que conjuga informação com modos de narração e
efeitos poéticos que remetem para o campo do entretenimento.
116
247
�com regulares traços de espetacularidade e variados efeitos poéticos a compor a construção das narrativas sobre a política. Essa
tendência mediática parece enquadrar-se no quadro mais amplo das
transformações por que a civilização ocidental mais contemporânea
tem passado, aparentemente desejosa de doses cada vez maiores de
diversão e espetáculo. É nesse escopo que um autor como Mário
Vargas Llosa, na coletânea de ensaios A Civilização do Espetáculo,
situa a sua reflexão, para vaticinar, em relação à política, que:
Hoje em dia, em todas as pesquisas de opinião sobre política
uma maioria significativa de cidadãos opina que se trata de
atividade medíocre e suja, que repele os mais honestos e
capazes e recruta sobretudo nulidades e malandros que a
veem como uma maneira rápida de enriquecer. [...] A que se
deve o facto de o mundo inteiro ter chegado a pensar aquilo
que todos os ditadores sempre quiseram inculcar nos povos
que subjugam, ou seja, que a política é uma atividade vil?
(Llosa, 2013:120-121).
A resposta à intrigante pergunta de Vargas Llosa é dada pelo
próprio no decurso do mesmo texto, em que imputa, entre outras questões, parcela de responsabilidade aos media e a outras
indústrias culturais, incluindo o próprio cinema. Quando essas
instâncias criam narrativas que acabam por naturalizar conceções
estereotipadas acerca da vida política nacional, dão poucos contributos para a construção de uma democracia plena. Não utilizando
exatamente este termo, a reflexão do autor dialoga com o conceito
de mediatização da política, que mereceu a atenção de autores como
Pierre Bourdieu (1994; 2001; 2011) ou Manuel Castells (2009), ambos preocupados justamente com os efeitos que certas abordagens
mediáticas da política terão sobre ela própria no terreno em que
institucionalmente se realiza.
248
�Conquanto a mediatização da política, como a da justiça, seja tema
de enorme relevância para qualquer trabalho que deseja entender as
representações mediáticas da política, limitamo-nos a fazer referências a autores e textos hoje fundamentais para a compreensão de um
fenómeno que não se limita ao universo político — o que terá levado
um autor como Eliseo Verón, consciente da presença cada vez maior
do fenómeno nas sociedades ocidentais contemporâneas, a dedicar
parte significativa do seu trabalho intelectual à procura de pistas para
entender a mediatização (Verón, 2014; Hjarvard, 2012; Castells, 2009).
Torna-se imperioso ressaltar, de todo modo, em razão do que estamos
a discutir, que o processo de estereotipia, que marca uma certa representação da política e dos políticos, parece funcionar como uma das
pontas mais problemáticas do conjunto complexo de feixes narrativos,
retóricos, discursivos e estilísticos que compõem as processualidades
em torno das quais a mediatização da política se manifesta.
3. Metodologia de análise
O objeto de análise deste trabalho é o filme de comédia brasileiro,
O Candidato Honesto, produzido em 2014, por Roberto Santucci, que
conta a história de um político corrupto, candidato à Presidência da
República117. Parte-se do princípio de que “analisar um filme é sinónimo de decompor esse mesmo filme”, o que “implica duas etapas
importantes: em primeiro lugar decompor, ou seja, descrever e, em
seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses elementos
decompostos, ou seja, interpretar (Penafrina, 2009: 1).
Ora, tendo em consideração o objetivo deste texto, selecionar-se-á
desta narrativa uma categoria que se afigura crucial — a personagem —,
O filme está disponível no Youtube em: https://www.youtube.com/watch?v=95IJ-dKO3No
117
249
�quer porque o título assim o anuncia, já que se centra precisamente
num predicado de personagem, quer porque toda a narrativa se desenrola em torno da figura principal: o político João Ernesto Praxedes
que tem a ambição de se candidatar à Presidência da República.
O objetivo da análise é, então, o de explicar os procedimentos retórico-discursivos de caricaturização da personagem, propondo uma
leitura que se compagine com o enquadramento teórico explanado
nas partes precedentes. Recorde-se que se parte da desconfiança
como valor que deriva da cultura política brasileira e, de certo modo,
estrutura a interação dos cidadãos com a política, funcionando aqui
como uma metanarrativa, fundamental para a receção e para o estabelecimento de um protocolo de leitura (Motta, 2013) .
Embora não exista uma metodologia universalmente aceite para
se proceder à análise, selecionou-se um conjunto de categorias que
integram os principais procedimentos de construção de personagens
narrativas, contribuindo para a sua figuração. Tendo em conta o género de filme — comédia — e o objetivo da leitura aqui proposta —
demonstrar como a figura do político é, no espaço público, sujeita a
perspetivas de desconfiança —, parece importante cruzar quatro categorias de análise: a caricatura, a tipificação, a figuração e a metalepse.
A caricatura é um conceito correlato do de retrato, que exagera
ou distorce certos traços de uma figura, sejam eles físicos, sociais
ou comportamentais, com vista a criar efeitos grotescos, criticando
e satirizando instituições, classes, grupos, etc. Tem fortes ligações a
processos de estereotipia118, uma vez que se alimenta de um conjunto
de traços — geralmente hiperbolizados — que o público facilmente
identifica com os visados. Assim, parece incontornável utilizar, na
Ressalve-se a diferença entre tipo e estereótipo: os tipos sociais são conhecidos por
partilharem a mesma sociedade e realidade que os leitores, enquanto os estereótipos
são imagens pré-concebidas do desconhecido: “Stereotypes are often regarded as the
prototypical flat charcter (...) In fiction they differ, according to Dyer, to the extent
that social types can appear in almost any kind of plot, while stereotypes carry with
them an implicit narrative ( Jannidis, 2013:29).
118
250
�análise que aqui se propõe, uma categoria narrativa subsidiária — o
tipo — que se revela particularmente fecunda no que à figuração do
protagonista deste filme diz respeito:
(...) o tipo pode ser entendido como personagem-síntese entre
o individual e o coletivo, entre o concreto e o abstrato, tendo
em vista o intuito de ilustrar de uma forma representativa
certas dominantes (...) em conexão estreita com o mundo real
com que estabelece uma relação de índole mimética (Reis e
Lopes, 2003: 411)
Esta definição sumária de tipo, feita pelos autores do Dicionário
de Narratologia, aponta para três aspetos que se consideram muito
importantes na análise que aqui se constrói: por um lado, o caráter
estereotipado das personagens-tipo, capazes de um poder representativo indiscutível; por outro lado, a sua natureza mimética, que implica constantes procedimentos metalépticos com o mundo empírico,
dada a conectividade da personagem com o espaço/tempo em que
a ficção a coloca, e que tem necessariamente consequências na sua
leitura e receção; finalmente, o processo de redução da construção
do tipo, que deve privilegiar, sobretudo, um conjunto de atributos
facilmente identificáveis pelos leitores.
O conceito de figuração, mais amplo que o de construção, é absolutamente essencial na construção desta análise. Assumindo-se
que “a noção de figura não deve ser encarada como mero substituto
terminológico do conceito de personagem”, a figuração implica uma
série de dispositivos de elaboração: “um conjunto de processos constitutivos de entidades ficcionais de feição antropomórfica, conduzindo
à individualização de personagens em universos específicos, com os
quais interagem” (Reis, 2015: 122). A figuração depende de múltiplos
fatores, nomeadamente o medium por que a personagem é veiculada, na medida em que a tecnologia inerente a esse medium implica
251
�um conjunto de procedimentos e técnicas narrativas específicas que
contribuem para a representação da personagem.
A metalepse, conceito oriundo da retórica119mas explorado e adaptado à análise narrativa por Gérard Genette (Genette, 2004), revela-se
muito fértil na leitura do fazer personagem em narrativas multimédia,
nomeadamente naquelas, como é o caso do filme em questão, que
jogam com uma leitura do real, propondo, através de estratégias de
veridicção, a crítica a uma classe social, no caso, a classe política.
Consiste, segundo o autor francês, em uma transgressão deliberada
entre dois universos: o da narração e o da narrativa. Um dos autores
responsáveis pela exportação do conceito para outros media que
não a literatura, com particular enfoque em produtos multimédia,
foi Werner Wolf, para quem a metalepse é “uma transgressão intencional e paradoxal entre mundos ontologicamente distintos e níveis
representados em mundos possíveis” (Wolf, 2005: 91). Esta porosidade entre níveis e mundos — o da ficção e o da realidade — pode
ser suscitada quer do ponto de vista do produtor da narrativa, quer
do ponto de vista do leitor/espectador e pode ter efeitos diversificados: “The former, both as production (author’s metalepsis) and as
reception (reader immersion), tends toward aesthetic illusion whereas the latter (...) postulates a higher and purely fictitious reality”
(Pier, 2014). No caso em apreço — a figuração do protagonista de
O Candidato Honesto — o processo metaléptico é feito sobretudo
do lado da receção, já que a construção, composição e modelação
da personagem exigem uma atitude ativa e colaborativa do espectador, nomeadamente o seu conhecimento da cultura política brasileira
e a partilha dos valores que a estruturam. Caberá ao espectador as
inferências críticas que nunca são explicitadas ao longo da diegese.
“It is important to bear in mind that although metalepsis has its roots in ancient
rhetoric, narrative metalepsis is a recent concept in the history of poetics, with the
practice itself, under different denominations, or none at all, reachinh back to antiquity in both literary and visual forms” ( Pier, 2014: s.p.)
119
252
�Definidas sumariamente as categorias que serão utilizadas nesta
análise, importa explicitar a sua operatividade e definir o critérios
que presidiram à sua escolha. Tratando-se aqui de uma personagem
ficcional — porque integrada numa narrativa fílmica — que protagoniza
uma diegese com claros intuitos satíricos, deve procurar-se compreender de que modo ela é construída com um conjunto de atributos que
permitem lê-la como símbolo do grupo social alvo de crítica: a classe
dos políticos no Brasil. O mesmo é dizer que é fundamental entender
a sua dimensão histórico-social, a sua integração geocultural e a sua
incidência temática, que a tornam suscetível de fácil identificação pelo
espectador. Por outro lado, tendo em consideração o género em questão — um filme humorístico — parece fundamental compreender a
consumação do processo caricatural, feito através da hiperbolização de
marcas concretas — desde a indumentária, ao discurso ou às relações
com outras personagens — que pré-condicionam quer o processo de
figuração do protagonista, quer a sua leitura.
4. A figuração do político no filme O Candidato Honesto
Político: Parece que eu estou tendo negócio de crise de
consciência.
Assessor: Oh, João, político não tem isso não.
Político: O quê, crise?
Assessor. Não, consciência!
Diálogo extraído do filme O Candidato Honesto (2014,
Globo Filmes)
A análise de que doravante nos ocuparemos exige que descrevamos, ainda que de forma sucinta, o conteúdo do filme em questão.
O Candidato Honesto, com selo da Globo Filmes, conta, como se
253
�disse, a história de um político candidato à Presidência da República
que se encontra em plena campanha eleitoral. Para obter a simpatia
do eleitorado, a personagem principal, João Ernesto Praxedes — interpretado pelo ator Rodrigo Hassum — segue à risca as orientações
construídas como estratégias de propaganda por especialistas em
comunicação política. Nas várias cenas em que aparece em público,
o candidato adapta o seu discurso aos desejos da plateia que o ouve,
repetindo, em diversas ocasiões, que esta ou aquela comunidade,
este ou aquele ideal, serão a sua prioridade tão logo assuma o cargo
de presidente. Em outras ocasiões, mostra-se a preocupação dos diretores de campanha com a construção de uma imagem de homem
honesto, comprometido com a causa pública e com a defesa da ética
e da moralidade na vida política. Em uma das cenas de diálogo entre
João Ernesto, candidato do Partido da Ética Democrática Nacional,
e o principal assessor de campanha, a personagem teatraliza a frase
“Eu quero um Brasil melhor”, olhar no horizonte, seguida por uma
enorme gargalhada em tom de deboche. Antes de cada aparição pública, assessores sugerem a utilização de camisas amassadas como
forma de demonstrar aos eleitores que o candidato tem trabalhado
arduamente. Fora dos holofotes mediáticos, para os quais é vendida
a imagem de homem humilde e desapegado de grandes luxos, João
Ernesto passa os momentos de descanso, ao lado da mulher e dos
filhos, numa mansão luxuosa, afastado dos olhos públicos, aonde
chega de helicóptero e de onde ensaia discursos fajutos, enquanto
enverga uma faixa presidencial de imitação. Cenas assim proliferam
ao longo de toda a narrativa, demonstrando o que pode haver de
mais gravoso no mundo político: o recurso a práticas antirrepublicanas e antidemocráticas para se chegar ao Poder a qualquer custo.
O ponto nevrálgico da narrativa — aquilo que, em nossa opinião,
constitui a estratégica discursiva de maior vitalidade para a construção
de uma profunda ironia, com impacto direto na figuração da personagem — é o momento em que, inesperada e involuntariamente, João
254
�Ernesto perde a capacidade de mentir — algo que os produtores do
filme tentam fazer passar como improvável —, após promessa feita
à avó que, no leito de morte, apela para que ele adote uma postura
de homem honesto na política. Desprovida daquilo que parecia ser
condição para a orquestração de estratégias de comunicação política
eficazes, visto que, antes desse acontecimento, aparecia em primeiro
lugar nas sondagens eleitorais, com expressiva margem de manobra
em relação ao seu adversário, a personagem começa a atuar como
um ator que resolve descumprir o script previamente estabelecido
pelos diretores.
As consequências são retratadas ao longo de quase todo o filme,
em cenas que apelam ao riso dos espectadores, por retratarem, de
modo profundamente caricatural, o universo da política. A caricatura é aqui construída por meio de estratégias retórico-discursivas
que, quer no plano linguístico quer no plano imagético, distorcem e
hiperbolizam situações que, conquanto existam no mundo empírico,
podem não ser necessariamente a regra. Assim, desde a atuação no
âmbito familiar — instado a opinar sobre a roupa da esposa, João
Ernesto não titubeia em dizer que ela estava feia e mal vestida — até
à maneira de se relacionar com apoiantes de sua campanha — há
uma cena em que ele nega o dinheiro proveniente da doação de fiéis,
oferecido por um pastor evangélico que, na condição de parlamentar,
pleiteava, desde aquele momento, uma vaga de ministro em seu futuro governo — João Ernesto dava sinais de absoluto deslocamento
de uma identidade cirurgicamente construída por seus diretores
de campanha, em atitudes jamais pensadas, não fosse a perda das
capacidades de dissimular e mentir.
Desse modo, existe uma declaração tácita, por parte do enunciador
narrativo, de que a dissimulação e a mentira são valores constitutivos
do ethos político, que, para ser bem-sucedido, dever-se-ia estruturar
em torno deles. Por detrás desse protocolo de leitura possível, subjaz
certamente o reforço da desconfiança em relação à política — que,
255
�na qualidade de valor nuclear da cultura política brasileira, funciona,
na narrativa fílmica aqui analisada, como elemento metanarrativo
estruturante de um processo de estereotipia que se vai aprofundando à medida em que surgem outros elementos retórico-discursivos
de ordem mimética — porém hiperbolizados e, por isso, tendentes
a generalizações inoportunas — a aproximar o mundo possível da
ficção da dimensão ontológica do mundo empírico. No caso específico
de uma narrativa cómica, essa chave de interpretação é acionada e
posta em funcionamento no instante mesmo em que o espectador
— confrontado, no vídeo que publicita o filme, com a expressão
“acredite se puder”, em referência à impossibilidade da mentira por
parte de um político — sorri, com as cenas que visualiza, demonstrando, pois, que partilha dos valores e das ideias que configuram
os códigos interpretativos de leitura da narrativa, sugeridos pelo seu
enunciador. Dito de outro modo, o efeito cómico da narrativa fílmica,
fundamental para a figuração da personagem, só é conseguido pela
confluência de um conjunto de crenças e ideias sobre a classe política que estruturam a interação estabelecida simbolicamente entre
enunciador e espectador.
Enredado num esquema de corrupção denominado “mesadinha”
— que, metalepticamente, alude ao célebre escândalo do mensalão,
desbaratado em 2005, envolvendo o suborno de parlamentares em
troca de apoio político no Congresso Nacional —, João Ernesto decide confessar a culpa aos jornalistas, aos quais tentou detalhar o
modo como o esquema funcionava, mas acabou impedido, porque
a direção da campanha resolveu afastá-lo da convivência pública,
trancando-o em sua mansão, de forma a travar a queda a pique da
sua popularidade. Novamente o enunciador sugere que falar a verdade, em política, é exercício que não se compagina com o objetivo
da vitória nas urnas. Em outra cena, confrontado com a pergunta de
uma mulher que atua como sua amante, e que lhe pergunta quando
ele pretendia dispensá-la, João Ernesto foi taxativo: “Depois das
256
�eleições”. Elucidativo também da estratégia de caricaturização é o
momento em que, recorrendo a um pai de santo — figura de raiz
africana, muito popular na cultura brasileira —, para tentar reverter
a impossibilidade de dizer mentiras, João Ernesto trava um diálogo
nestes termos:
Pai de santo: Eu estou acostumado com as criaturas das trevas.
João Ernesto: Ah, o demônio.
Pai de santo: Não, os senadores.
A cena de diálogo é elucidativa do modo como a comicidade inerente ao filme é transformada em elemento nuclear de uma estrutura
comunicativa posta ao serviço da depreciação da classe política, como
se percebe na associação das expressões “criaturas das trevas” e
“senadores”. No decorrer da narrativa, outras cenas contribuem para
a construção de uma atmosfera caricatural que cola a figura do político ao estatuto de ser inescrupuloso e avesso a quaisquer atitudes
éticas, situando-o no campo dos vícios e dos luxos, da imoralidade e
da indecência, em que impera um completo desprezo pelas efetivas
demandas sociais e pela própria democracia.
Com base na descrição desse elenco de cenas e em consonância com
as categorias explanadas na metodologia, parece clara a instauração
de um processo de estereotipia que se estrutura em torno do valor da
desconfiança e se manifesta por meio da hiperbolização de diferentes
traços constitutivos da personagem, contribuindo para a sua figuração
e condicionando o campo interpretativo dos espectadores. As cenas
que referimos antes dão forma a um conjunto de procedimentos metalépticos que conectam diretamente a narrativa ficcional à dimensão
empírica do mundo real, umas das principais estratégias de construção
de personagens. Recorde-se, por exemplo, que o lançamento do filme
se deu no dia dois de outubro de 2014, quando o Brasil se encontrava
em plena campanha eleitoral, a poucos dias para a primeira volta das
257
�eleições que reelegeriam Dilma Rousseff como Presidente da República,
e que elegeriam deputados, senadores e os ocupantes dos poderes executivos e legislativos em todos os estados da Federação. Essa ligação
entre a personagem — um ser de papel, como diria Barthes —, com o
espaço/tempo em que a ficção a situa é conseguida pelos produtores
da narrativa cinematográfica justamente pela mimetização de episódios
ainda subsistentes na vida pública brasileira.
Conseguida por meio de um efeito de genericização do real, esses
procedimentos caricaturais e metalépticos tendem a retirar à realidade
e ao ator retratado a dimensão entrópica que demarca as existências
ontológicas, conduzindo a leituras que influenciam diretamente o
modo como os cidadãos se relacionam com a política e com os seus representantes. Quando situado, portanto, num contexto de construção
de personagens-tipo, mormente daquelas relacionadas com agentes
públicos, o efeito perverso desse tipo de estratégia é o de trazer no
bojo uma série de estereótipos que, associados mimeticamente ao
tipo retratado, reduzem a dimensão humana complexa de qualquer
ser humano a um conjunto de traços redutores de identificação, que
derivam de um processo arbitrário de seleções, com base em certos
critérios, dos quais a ideologia, enquanto sistema de crenças que
estrutura a nossa relação com o mundo, faz parte.
Como o que carateriza qualquer processo de estereotipia não
é a suposta mentira que transporta, mas a sua tendência para essencializar, hiperbolizar ou reduzir entendimentos sobre culturas,
acontecimentos e grupos sociais, o tipo de figuração que analisámos
neste texto possui a consequência de estimular o processo já acentuado de depreciação da atividade política nas democracias ocidentais
do nosso tempo, associando-se a outras constelações narrativas de
mediatização da política que, ficcionais ou não, possuem o mesmo
condão de estimular pensamentos segundo os quais o campo político não passa de um universo vil, degradante e alheio a desejos
de natureza ética e moral. Assim como a cobertura jornalística da
258
�corrupção política pode contribuir para minar as instituições e o
próprio regime democrático, quando realizada com o recurso a doses
expressivas de espetacularidade novelesca, também a representação
do ethos político, nos moldes do que observado neste filme, poderá
ir na mesma direção (Cunha e Serrano, 2014; Araújo e Prior, 2015).
Outro aspeto que importa salientar é o tipo de relacionamento que
a personagem estabelece com a imprensa, representada, no filme, por
um jornal, mas sobretudo pela figura da jornalista a quem coube, por
determinação do chefe de redação, acompanhar a campanha do candidato. Interessante é que, a despeito da enorme desconfiança de seus
colegas de redação em relação ao protagonista, a jornalista, cujo pai
havia sido beneficiado por políticas encabeçadas pelo candidato em
tempos pretéritos, acreditava na sua honestidade, até ao momento em
que, durante uma entrevista, João Ernesto confessa a sua participação
no esquema de corrupção sob investigação. O curioso é que, munida
de um conteúdo que poderia eliminar de vez as perspetivas do entrevistado de chegar ao poder, a jornalista se comove com a coragem do
candidato em dizer a verdade, resolvendo não publicar o que tinha
em mãos e pedindo demissão do jornal. Dias depois, no momento
em que soube que João Ernesto não iria ao último debate presidencial, deixando o campo livre para o adversário, que agora possuía a
maior intenção de votos, a jornalista procura-o na mansão onde estava preso, para convencê-lo a participar. Tendo-o convencido, os dois
protagonizam uma verdadeira odisseia para driblar os seguranças e
conseguirem chegar a tempo do final do debate. Quando o candidato
adversário — prestigiado da plateia pelos antigos assessores de João
Ernesto, que, depois de abandoná-lo, apostavam agora na candidatura adversária — já fazia as considerações finais, João Ernesto entra
inesperadamente no estúdio de televisão para, numa mensagem aos
eleitores, pedir desculpas pela má atuação enquanto homem público
e apelar a que eles escolhessem de forma consciente os seus representantes. De seguida, desiste da sua candidatura, deixando o terreno
259
�livre para o seu adversário, naquele momento, seguidor das mesmas
estratégias que tinham alçado João a ocupante do primeiro lugar nas
sondagens, antes do episódio que lhe tirou a capacidade de mentir.
Ora, se, por um lado, essa cena parece construir uma leitura
preliminar segundo a qual o arrependimento de João Ernesto representaria a ideia que de, na política, verdade, honradez e decência
são valores passíveis de existência, o ato de renúncia da personagem
pode conduzir o espetador a uma interpretação diferente: é que a
desistência da personagem funciona como uma declaração tácita de
que, uma vez arrependido e resolvido a agir de forma séria e ética
diante da população, o sistema político automaticamente o extirpa,
reafirmando-se como campo insuscetível de ser habitado por quem
possui tais qualidades. Aqui, como na maior parte das cenas, temos a
construção de uma estratégia que contribui para a figuração de João
Ernesto como ser portador de identidade desbotada, em face daquilo
que necessariamente lhe conferiria o estatuto de político de sucesso.
Assumindo-se, em suma, como personagem-síntese entre o individual e o coletivo, na aceção dada por Reis e Lopes (1994) — e
configurada em torno de traços estereotipados e, por isso, incapazes
de traduzir, no ser retratado no filme, a complexidade e a dimensão
plural própria da vida humana — a personagem é colocada no centro
de uma narrativa para cujo entendimento interessa a mobilização de
uma hermenêutica da suspeição, como diria Ricoeur (1965), e em
função da qual o principal efeito social é o de aprofundar o valor
da desconfiança desmedida em relação aos políticos e, por tabela, a
depreciação da atividade e da prática políticas de nossos dias.
5. Conclusões
Este trabalho aprofunda a convicção de vários autores, quer
do âmbito dos Estudos Narrativos quer do campo de Estudo dos
260
�Media, de que a narrativa é um poderoso terreno de exploração
empírica a partir do qual é possível compreender a sociedade que
nela se encontra retratada. Nesse contexto, a personagem, com toda
a sua riqueza significante, emerge como categoria particularmente
produtiva, na medida em que a sua figuração transporta sentidos
que extrapolam a própria diegese e para cujo entendimento são
necessários exercícios hermenêuticos que conjuguem saberes provenientes de diferentes áreas de conhecimento. Essa condição de
cognoscibilidade inerente ao estudo da figuração de personagens
é ainda mais verdadeira no caso particular das narrativas mediáticas, que funcionam como poderosas fabricantes de mitos contemporâneos, como alertou Barthes já em meados do século passado.
De facto, assumindo um claro estatuto semiológico (Hamon, 1977),
a personagem, em particular a mediática, acaba por se converter
numa estrutura comunicante que veicula ideias, crenças e ideologias, com as quais o leitor/espectador interage.
Como procurámos demonstrar anteriormente, as diferentes estratégias que incidiram na figuração da personagem João Ernesto
Praxedes, conferindo-lhe a condição de personagem-tipo, deixam
antever um inevitável e poderoso poder representativo da classe
política brasileira, que se manifestou mais claramente nas diversas
cenas em que o enunciador parecia colocar, no mesmo patamar,
os planos da ficção e da realidade, dando à personagem liberdade
para transitar metalepticamente entre planos. Esses movimentos de
ordem metaléptica, como lhes chamou Genette (2004), são os mais
elucidativos da existência de uma sobrevida da personagem, ou seja,
da capacidade que esta possui de continuar a existir fora do universo diegético, com diferentes impactos sociais, políticos e culturais,
alguns dos quais resumiremos neste espaço conclusivo.
Num país com baixos índices de educação política e uma cultura
democrática profundamente ténue, como é o caso brasileiro, a sobrevida da personagem de O Candidato Honesto possui ao menos dois
261
�efeitos principais: primeiro, o de reacender conceções míopes em
relação à política e ao seu funcionamento, por meio da associação
de condutas moral e legalmente reprováveis à generalidade da classe
política; em segundo lugar, essas mesmas abordagens possuem o
condão de interferir, ainda que de modo indireto, na qualidade da
relação que o cidadão-espectador-eleitor mantém com os agentes
e as instituições que fazem funcionar a política. Essa derradeira
influência fica muito evidente quando se percebe que os estereótipos que constroem a imagem da política se ancoram numa cultura
ainda hoje marcada por valores e crenças como a alta desconfiança,
o clientelismo ou o autoritarismo (Moisés, 1992).
Com efeito, a análise que desenvolvemos é elucidativa do modo
como as indústrias culturais constroem constelações semânticas
que aprofundam e naturalizam visões estereotipadas sobre o mundo empírico, intensificando, neste caso, o descrédito da atividade
política e conduzindo a opinião pública a uma postura próxima da
resignação em face de um sistema supostamente apodrecido e tendente a apodrecer quem dele se aproxima. Ao partilhar diariamente
narrativas que depreciam a política pela forma como a retratam, o
público é envolvido por uma atmosfera narcotizante — expressão
de Lazarsfeld e Merton (1978) — que retira de cena qualquer possibilidade de esclarecimento efetivo. Por outro lado, o consequente
processo de naturalização das práticas ilícitas como constitutivas do
ethos político contemporâneo favorece a criação de climas difusos
de indignação na esfera pública, muitas vezes parciais, porque focalizados em discursos condenatórios de partidos e atores políticos
específicos. Em outras palavras, se o processo de estereotipia a que
o político é submetido contribui para o alargamento dos estereótipos
a toda a classe política, também se pode afirmar que, em certas
ocasiões, determinados segmentos da política real podem ser mais
afetados do que outros pela veiculação de ideias simplistas nos
media, de acordo com as quais a corrupção política, por exemplo,
262
�seria solucionada com a simples extirpação de um ou outro político,
desse ou daquele partido do jogo do poder.
Como consequência, é de admitir-se que esse mesmo público,
mais ou menos narcotizado, seja levado a afastar-se do ecossistema
político, passando a vê-lo unicamente como espaço de perpetração
de práticas ilícitas protagonizadas por agentes que poderiam ser
substituídos por indivíduos alheios ao universo da política. Basta
recordarmos que os momentos de expressivo descontentamento público com as instituições políticas formais são quase sempre marcados
pela emergência de movimentos autodenominados de apolíticos e
apartidários que procuram deslegitimar o processo político. O mais
terrível e extremo dos exemplos talvez seja o nazismo, que derrubou
a República de Weimar, tendo justamente entre os seus argumentos
a ideia de que era necessário moralizar a atividade política, numa
ação que viesse de fora dela. O mesmo argumento serviu de base
para estimular o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954 — acusado por
Carlos Lacerda, baluarte da direita brasileira, de comandar um “mar
de lama” — e, dez anos mais tarde, em 1964, conduziu à derrubada do governo de João Goulart, com a instauração, em seguida, de
uma ditadura militar no Brasil. Em nossos dias, o marketing político
chega a valer-se do sentimento de desconfiança e de indignação
por parte da população, para elaborar estratégias de campanha que
depreciam a política: um de muitos exemplos é a letra de um single
de campanha do então candidato José Ivo Sartori ao governo do
Rio Grande do Sul: “acima da direita, acima da esquerda, acima de
qualquer lado (...) o meu partido é o Rio Grande”. Note-se como a
estratégia está justamente na tentativa de secundarizar ideologias,
como se essas pudessem estar à margem dos processos deliberativos
que caracterizam a atividade política.
Em completo descompasso com o que deveria ser o genuíno ethos
político, a política aprece representada por João Ernesto Praxedes
como como universo propício ao estreitamento do espaço público
263
�dos direitos e ao alargamento do campo dos interesses particulares
dos que assumem cargos e dos que contribuem para a eleição daqueles — caso das grandes empresas — que, por meio de doações
de campanha, realizam, na verdade, investimentos mais tarde recompensados pelos eleitos. Estreado num momento eleitoral real, O
Candidato Honesto certamente reavivou, na memória coletiva dos
eleitores, a ideia de que a política se limita a ser um terreno fértil
em atividade vil e degradante, povoado por agentes que antepõem
os seus interesses paroquiais e de seus partidos ao interesse público.
Se é verdade, portanto, como alertam alguns autores (Muñoz &
Rospir, 1995), que a política e a democracia hodiernas não existem fora
da arena mediática, parece razoável a afirmação de que, ao veicularem
tais discursos estereotipados — tendo o valor da desconfiança como
substrato narrativo central — os próprios media dão um contributo
tácito para a manutenção do status quo, tanto em relação às mazelas
que realmente existem na política, quanto no que respeita ao modo
com que o cidadão comum se relaciona com ela.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, B. B. (2013). “Discurso mediático e o conceito de estereótipo. A construção da
personagem Gina no programa Café Central”. In Silva, A. S. et al. Comunicação
Política e Económica. Dimensões cognitivas e discursivas. Braga: Publicações
da Universidade Católica Portuguesa, pp. 553-567.
ARAÚJO, B. B.; JORGE, T.M. (2015). “Discurso jornalístico e corrupção política: a
construção de uma cobertura legalista e personificada em Veja e CartaCapital”.
In Verso e Reverso, Unisinos.
BIGNELL, J. (1997). Media Semiotics. An Introduction. Manchester: Manchester
University Press.
BOURDIEU, P. (1994). “L’emprise du journalisme”. In Actes de la recherche en sciences
sociales, 101-102, pp. 3-9.
264
�BOURDIEU, P. (2001). Sobre a televisão. Oeiras: Celta.
BOURDIEU, P. (2011 [1989]). O Poder Simbólico. Lisboa: Difel.
CASTELLS, M. (2009) A Sociedade em Rede.Trad. Roneide Venâncio Majer; vol 1. São
Paulo: Ed. Paz e Terra.
CHARAUDEAU, D. (2000). Le discours d’information médiatique. La construction du
mirroir social. Paris: Nathan.
CORREIA, J. C. (s/d). “O poder do Jornalismo e a mediatização do espaço público”.
In: www.bocc.ubi.pt/pag/jcorreia-poder-jornalismo.pdf (Consultado em março
de 2013).
ECO, U. (2015). Número Zero. Lisboa: Gradiva.
FULTON, H. Et alii (2005). Narrative and Media. Cambridge: Cambridge University
Press.
GENETTE, G. (2004). Métalepse. Paris: Editions du Seuil.
HALL, S. (2003 [1980]). “Codificação/Descodificação”. In SOVIK, L. (org.), Da Diáspora:
Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: Humanitas, pp. 387-404.
HAMON, P. (1977). “Pour un statut sémiologique du personnage” in Roland Barthes
et alii, Poétique du récit, Paris: Seuils (Points), pp. 115-167.
HEIDBRINK, H. (2010), “Fictional Characters in Literary and Media Studies. A survey
of the Research”. Eder, J; Jannidis, F.; Schneider, R. (org). Charaters in Fictional
Worlds. Understanding Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media.
Berlim / Nova Iorque: De Gruyter, pp. 67-110.
HERSEY, J. (2004). Comunicação, Estudos Culturais e Media — conceitos-chave. Trad.
Fernanda Oliveira. Lisboa: Quimera.
HJARVARD, S. (2012). “Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança
social e cultural”. In Matrizes, v. 5, n. 2, jan-jun. 2012, São Paulo, pp. 53-91.
JANNIDIS, F. (2013). “Character”. In The Living Handbook of Narratology http://
www.lhn.uni-hamburg.de/article/character (Consultado a 3 de maio de 2016).
LAZARSFELD, P.; MERTON, P. (1978). “Comunicação de massa, gosto popular e ação
social organizada”. In Gabriel Cohn (org.). Comunicação e indústria cultural.
São Paulo: Companhia Editora Nacional (texto original de 1948).
LITS, M. (2000). “Information, médias et récit médiatique”. In La question du récit à
l’époque de la culture médiatique: mutations et ruptures, Deuxième colloque
265
�international du CRI, Montréal, 12-15 avril 2000. In: http://migre.me/tURwh.
(Consultado a 15-09-2013)
LITS, M. (2008). Du récit au récit médiatique. Bruxelles: De Boeck.
LLOSA, M. (2013). A Civilização do Espetáculo. Trad. Ivone Benedetti. Rio de Janeiro:
Objetiva.
MARION, P. (1997). “Narratologie Médiatique et médiagénie des récits”. Recherches
en Communication, N.º7, pp. 61- 88.
MESQUITA, M. (2003). “Personagem Jornalística: da Narratologia à Deontologia”.
O Quarto Equívoco. O poder dos media na Sociedade Contemporânea. Coimbra:
MinervaCoimbra.
MIGUEL, L. F. (2008). “A mídia e o declínio da confiança na política”. In Sociologias,
n. 19, jan-jun, Porto Alegre.
MOISÉS, J. A. (1992) “Democratização e Cultura Política de massas no Brasil”.
In Lua Nova, n. 26, 5-51.
MOTTA, L. G. (2013). Análise Critica da Narrativa. Brasília: Editora da UnB
MUÑOZ, A.; ROSPIR, J. I. (1995). Comunicación Política. Madrid: Editorial Universitas.
PEIXINHO, A. T. (2015). “Procedimentos retórico-narrativos de construção de personagens jornalísticas: o caso do jornal Expresso durante o verão de 2013”.
Revista de Estudos Literários, N.º3. Coimbra: CLP/IUC, pp. 323-347.
PENAFRIA, M. (2009). “Análise de Filmes – conceitos e metodologia(s)”. IN: VI
Congresso SOPCOM, Abril de 2009 www.bocc.ubi.pt (acedido em dezembro
de 2015).
PIER; J. (2014). “Metalepsis”. In: The Living Handbook of Narratology http://www.
lhn.uni-hamburg.de/article/metalepsis-revised-version-uploaded-12-may-2014#Genette72 (Consultado a 3 de maio de 2016).
REIS, C. (2015). Pessoas de Livro. Coimbra: IUC.
REIS, C.; LOPES, A. C. (2003). Dicionário de Narratologia. 7.ª ed. Coimbra: Almedina.
RICOEUR, P. (1965). De l’interpretation: essai sur Freud. Paris: Seuil, 1965.
TUCHMAN, G. (1980). Making News. A Study in the Construction of Reality. New York
and London, The Free Press.
TUCHMAN, G. (1999). “Contando estórias”. In: Traquina, N. (org.). Jornalismo: questões, teorias e estórias. 2.ª ed. Lisboa: Vega, pp. 258-262.
266
�VALLES CALATRAVA, J. (2008). Teoría de la narrativa. Una perspectiva sistemática.
Madrid: Iberoamericana.
VATTIMO, G. (1990). La société transparente. Paris: Desclée de Brouwer.
VERÓN, E. (2014). “Teoria da midiatização: uma perspectiva semioantropológica
e algumas de suas consequências”. In Matrizes, v. 8, n. 1, jan-jun. 2014, São
Paulo, pp. 13-19.
WOLF, W. (2005). “Metalepsis as a transgeneric and transmedial phenomenon: a case
study of the possibilities of ‘exporting’ narratological concepts”. In MEISTER,
J. C. (ed.). Narratology beyond literary critiscism: mediality, disciplinarity.
Berlin: de Gruyter, pp, 83-107.
267
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�DE HERÓI A ANTI-HERÓI:
A CARACTERIZAÇÃO DA PERSONAGEM JOSÉ DIRCEU
NA REVISTA VEJA
Aletheia Patrice Rodrigues Vieira
Universidade de Brasília
Liziane Soares Guazina
Universidade de Brasília
A construção das personagens da narrativa jornalística
Ao fazer cruzamentos com as narrativas literárias, Mesquita (2003)
enfatizou as relações entre o processo de construção das personagens
jornalísticas e a rotina profissional dos repórteres. Para a maioria
dos jornalistas, especialmente para aqueles que estão em atividade
nas redações, compreender que pessoas reais, retratadas em textos
noticiosos, são representações que têm por objetivo gerar efeitos de
sentido nos destinatários das mensagens e, portanto, constituem-se
figuras do discurso, como afirma Motta (2013), é a negação de valores-notícias como a objetividade, exatidão e isenção.
A ideia de que o jornalismo constrói personagens e de que o
jornalista conta estórias, conforme propõe Tuchman (1993), é, em
geral, vista com desconfiança pela comunidade jornalística, por se
269
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_10
�considerar que o objetivo do jornalismo é divulgar fatos reais, ouvindo todos os lados envolvidos e com descrição fiel dos acontecimentos que geraram a notícia. No entanto, ao se identificar elementos
narrativos nas matérias jornalísticas e as estratégias discursivas do
narrador que evidenciam suas intencionalidades, conforme propõe
Motta (2013), é possível observar mais amiúde as escolhas narrativas
dos jornalistas e de que forma eles moldam as representações sobre
o mundo da política.
Nosso objetivo neste artigo é identificar quais características, adjetivações e funções são atribuídas ao ex-ministro da Casa Civil José
Dirceu, enquanto personagem da narrativa jornalística da revista Veja
durante três momentos históricos diferentes. Como veremos mais
adiante, nossas análises serão realizadas a partir da Análise Crítica
da Narrativa proposta por Motta (2013), a partir de Campbell (1997)
e Propp (2001). Também discorremos brevemente sobre o escândalo
político-midiático (Thompson, 2002) em função do envolvimento
atribuído a Dirceu no Escândalo do Mensalão.
Escolhemos a revista Veja uma vez que, além de ser um dos
semanários mais conhecidos no Brasil, é também uma publicação
que tem acompanhado, de forma sistemática, a carreira pública de
José Dirceu, desde o período de atuação no movimento estudantil,
na década de 1960, passando por momentos de exercício de cargos
no período do Governo Luiz Inácio Lula da Silva, até a cobertura
sobre o chamado Escândalo do Mensalão e posterior julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal. Importante destacar que os textos
de Veja, muitas vezes, apresentam caracterização mais detalhada das
personagens da notícia e dos episódios relacionados a elas do que
a cobertura geral dos jornais.
Sendo assim, é possível identificar nos textos de Veja características, adjetivações e funções da personagem Dirceu em quatro
matérias que envolvem o ex-ministro em momentos distintos de sua
carreira política, desde 1968 até o ano de 2005, quando estourou
270
�o Escândalo do Mensalão. São elas: “Destruição e Morte: por quê?”
(edição 5/1968), “O Congresso Interrompido” (edição 6/1968),
“O homem que faz a cabeça de Lula” (edição 1770/2002) e “Ele assusta
o governo” (edição 1916/2005).
Partimos da hipótese de que a imagem de José Dirceu foi construída ao longo dos anos por Veja à semelhança do que descreve
Campbell (1997) como “ciclo do herói”; numa trajetória marcada por
fases, surpresas e reviravoltas. Porém, no lugar de herói, a revista
atribuiu a Dirceu características de anti-herói.
A vida de José Dirceu, que ganhou notoriedade em 1968 como
líder do movimento estudantil na ditadura militar, é marcada por
reviravoltas que são relatadas pela revista desde aquele ano, quando
coincidentemente foi criada. Passou de liderança estudantil a exilado
político, de articulador da campanha de Lula a acusado, durante o
Escândalo do Mensalão, de chefe de um esquema de compra de votos
no Congresso Nacional para aprovação de matérias de interesse do
governo de Luís Inácio Lula da Silva, ainda no primeiro mandato do
ex-presidente. Todos esses episódios biográficos de Dirceu foram
alvo de notícias em Veja.
Em 2005, Dirceu pediu demissão do cargo de ministro-chefe da
Casa Civil e, meses depois, teve o seu mandato de deputado federal
cassado pela Câmara dos Deputados. Em 2013, após ser condenado
pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa e formação de
quadrilha (o ex-ministro foi absolvido deste crime após julgamento
de recursos), José Dirceu foi preso e hoje cumpre a pena em regime
domiciliar. Não voltou à carreira política e nem a ocupar posições de
destaque no Partido dos Trabalhadores – PT, de que foi presidente e
atuou de forma decisiva na campanha que levou Lula à Presidência
da República em 2002.
Se a vida pública de José Dirceu é repleta de reviravoltas, a cobertura dedicada a ele pela revista Veja tem se concentrado em enfatizar,
muitas vezes, as características pessoais do ex-ministro, suas ações
271
�e rede de relações privadas e públicas. Para se compreender como
Veja define e desenha a personagem Dirceu, é necessário partir da
noção de que as notícias são narrativas factuais, que se propõem a
relatar os fatos de maneira mais próxima possível do real e “procura
estabelecer reações lógicas e cronológicas das coisas físicas e das
relações humanas reais ou fáticas” (Motta, 2013: 89).
As narrativas fáticas ou de ficção estão presentes na literatura, seja
em romances, contos, novelas, ou filmes, e geram efeito de verossimilhança (Gancho, 2002: 10). O leitor acredita no que lê, mesmo a
história sendo imaginária. No caso do jornalismo, há entre o narrador
e o destinatário um contrato cognitivo baseado na credibilidade que
delega ao jornal e ao jornalista-narrador a autoridade e legitimidade
para dizerem a verdade sobre fatos reais (Motta, 2013: 39).
A personagem é quem realiza a ação no curso das narrativas.
Segundo Gancho (2002), é a responsável pelo desempenho do enredo.
O protagonista é uma classificação de personagem, a exemplo de
José Dirceu nas matérias de Veja que serão analisadas, e de acordo
com Abdala Júnior (1995: 44), os conflitos se desenvolvem em torno
dele pois é “o ponto de referência para as alianças e confrontos entre
os personagens”.
A partir das funções (ou papel desempenhado pelas personagens, de acordo com Propp, 2001), é possível identificar quem são
os protagonistas e antagonistas e a estrutura utilizada nas matérias
jornalísticas — principalmente quando se trata de política, onde
o conflito é categoria estruturante da narrativa política (Guazina
& Motta, 2010).
Ao citar Carlos Reis (1995), Mesquita (2003: 131) aponta que
a personagem pode ser realçada durante determinado momento de
sua vida, mas isso pode ser modificado ao longo das emissões,
e ela assim desaparecer ou se tornar subalterna: “A personagem é
considerada um lugar ideologicamente marcado, área privilegiada
de investimento de valores e visões de mundo”.
272
�Mesquita (2003) aponta ainda que a criação de personagens é
uma atividade estruturante das práticas e do discurso jornalístico,
que se assemelha ao valor-notícia da personalização proposto por
Traquina (1993). Ele explica que as abordagens sobre personagens
podem ser operativas em áreas não-ficcionais, como a reportagem,
inclusive na caracterização de políticos.
Conforme o autor, as personagens jornalísticas são pessoas reais
inseridas na narrativa jornalística, principalmente quando assumem
situações de liderança ou de idolatria, reconstruídas aos olhos do
leitor: “a personagem existe no quadro de uma narrativa que torna
plausível sua representação” (Mesquita: 2003: 132). Mesquita considera
que essa representação é fragmentada e que os traços biográficos de
figuras públicas, como os políticos, são selecionados pelo jornalismo; isto é, não se conhece delas senão aquilo que a mídia diz a seu
respeito. Ele defende que a personagem jornalística é construída a
partir dos critérios de escolha do autor sobre o que é proposto pelo
real, quando ordena os dados de acordo com o objetivo da narrativa.
Mesquita (2003: 137) também faz um paralelo entre a construção
de personagens e a política. Segundo ele, as transformações das instituições públicas refletem nas mudanças estruturais das notícias e
reportagens: “a personagem jornalística é um elemento estruturante,
não só da narrativa midiática, mas também do próprio sistema político”. Aqui observamos a similaridade de ideias de Mesquita (2003)
e Thompson (2002), quando consideram que as opções eleitorais
têm sido baseadas no caráter de quem pretende alcançar um cargo
público, ou seja, dependem da pessoa do candidato, e não de “determinados temas e interesses” (Mesquita, 2003: 137).
Ainda de acordo com Mesquita (2003: 140), a construção da personagem jornalística começa com a negociação entre fonte e jornalista
ao longo da apuração e depende das informações que farão parte da
notícia: documentos, testemunho de pessoas, observação e interpretação dos gestos dos personagens, bem como seus comportamentos
273
�e obras. Para o autor, o que dá unidade, coerência interna e forma
final às personagens é a criatividade do jornalista.
Sendo assim, não seria possível acessar a verdade biográfica das
pessoas retratadas e/ou representadas nas matérias jornalísticas, uma
vez que as personagens presentes nos textos são, em parte, fruto da
subjetividade de quem escreve.
Por outro lado, Motta (2007: 153) destaca que a construção da
personagem não se dá apenas no texto, mas também fundamenta-se
na reconstrução/recombinação de elementos, muitas vezes contraditórios sobre as personagens por parte do leitor: “Os receptores (sic)
do jornalismo conhecem as figuras públicas através de fragmentos
que delas veicula o jornalismo”.
Porém, há de se levar em consideração que o que se conhece das
figuras públicas é também decorrente, na maior parte das vezes,
da cobertura jornalística. Como veremos a seguir, a construção de
personagens políticos ocorre num contexto de escândalos político-midiáticos nem sempre favorável aos políticos profissionais.
A reputação e o escândalo político-midiático
Nas sociedades democráticas contemporâneas, como é o caso do
Brasil, a mídia passou a ocupar um papel de destaque na cobrança
por honestidade e ética na política, principalmente por meio da
divulgação de fatos que, ao longo de diferentes coberturas, constituem-se em escândalos políticos.
Os meios de comunicação deram visibilidade aos fatos do dia a
dia relacionados à política e aos políticos que antes eram inacessíveis
ao grande público, diz Thompson (2002). De acordo com o autor, a
definição de escândalo inclui o fato de certos tipos de transgressões
serem realizados em sigilo e que, ao se tornarem públicos, “são
suficientemente sérios para provocar uma resposta rápida” (p.40).
274
�Na comunidade jornalística, o escândalo é um dos motivos que
favorece a busca pelo “furo”: “uma conquista que está associada ao
brilho profissional, razão justificada de vaidade pessoal e que fornece
prestígio” (Traquina, 1993: 55). Já para Waisbord (2000), as coberturas que envolvem a descoberta de atos de corrupção na política dão
mais prestígio ao jornalista do que denúncias de injustiças sociais.
Segundo ele, para alguns profissionais, é mais fácil apurar e escrever
sobre problemas evidentes do que sobre as entranhas do poder, que
quase sempre são inacessíveis caso não haja investigações.
Portanto, o sistema político-midiático molda, ao longo do tempo,
os critérios de confiança/desconfiança dos cidadãos na política. Diz
Thompson que, por meio da confiança, lidamos com a incerteza ou
risco das ações e decisões que dependem dos outros. Implica a quem
confia, pressupõe a possibilidade do desapontamento: “A confiança,
como a reputação, é um recurso que não se consome com o uso.
Pelo contrário, quanto mais ela é usada, maior será o estoque de
confiança” (Thompson, 2002: 303). Thompson reitera que, em alguns
casos, existe mais preocupação com a honestidade ou com a vida
privada do político do que com a sua capacidade técnica: “Podem
ser fonte de profundo desapontamento e assombro pois podemos
perceber que indivíduos não correspondem às expectativas que deles
tínhamos” (Thompson, 2002: 119).
Como os políticos, em geral, dependem da visibilidade midiática
para serem bem-sucedidos em suas carreiras, passam a enfrentar as
consequências da visibilidade midiática, entre elas, a vulnerabilidade
aos escândalos e as denúncias. A histórica baixa confiança nos políticos, aliada ao poder da mídia em tornar (in)visível o jogo político,
contribui para a manutenção da própria desconfiança da população
na política (Guazina, 2014).
Uma das principais características gerais dos escândalos, trazidas
por Thompson (2002: 40), que pode ser aplicada ao escândalo do
Mensalão e à situação vivenciada por José Dirceu ao longo da cobertura
275
�jornalística de Veja sobre o caso, é de que “a revelação e condenação
das ações e acontecimentos podem prejudicar a reputação dos indivíduos responsáveis por eles”. O autor explica que, ao longo de suas
carreiras, alguns políticos acumulam capital simbólico dentro dos
aspectos da ética e da honestidade e levam tempo para conquistar
esse patamar. O envolvimento em um escândalo de corrupção pode
destruir o poder, o capital simbólico e a reputação rapidamente.
Após contextualizarmos a construção da narrativa jornalística e
das personagens das notícias no contexto dos escândalos políticos,
vamos, a seguir, detalhar os aspectos metodológicos envolvidos na
pesquisa.
Aspectos Metodológicos
É parte da Análise Crítica da Narrativa, elaborada por Motta (2013),
a metodologia de identificação das características e funções dos
personagens em narrativas jornalísticas. Ao se utilizá-la, assume-se
que, a partir dessa identificação, o narrador pode traçar estratégias
argumentativas para gerar efeito de sentido; no caso do jornalismo, o
efeito de real, e assim convencer o destinatário da mensagem de que
as informações relatadas são verdadeiras. A descrição como recurso
de linguagem é, portanto, uma dessas estratégias.
A seguir, descreveremos as principais etapas de nosso processo
de aplicação da Análise Crítica da Narrativa para esta pesquisa.
Inicialmente, foi feita uma leitura geral das matérias para identificarmos como Veja se refere a José Dirceu em cada um dos momentos relatados nas matérias. Com base na análise de personagens
proposta por Gancho (2002), foram identificadas as funções de José
Dirceu em cada enredo (protagonista, antagonista ou secundário),
sua descrição como personagem redonda (por meio da classificação
das características físicas, psicológicas, sociais, ideológicas e morais)
276
�ou plana. Com a identificação das funções, foi possível traçar quais
juízos de valor a revista atribui ao ex-ministro.
A partir das primeiras observações, definimos a hipótese de que
a imagem de José Dirceu foi construída ao longo dos anos por Veja
de maneira semelhante ao que propõe Campbell (1997) como o
“Ciclo do Herói». Para o autor, o herói pode ser determinado pelas
seguintes características: alguém que se destaca, é mais forte de que
os outros seres ou possui poderes mágicos, capaz de salvar os fracos
e oprimidos. Porém, ao contrário de um herói, Veja atribui a Dirceu
características de anti-herói, conforme veremos a seguir.
A narrativa jornalística em torno de José Dirceu o apresenta como
um personagem que exerce determinadas funções de acordo com o
contexto histórico em que está inserido, principalmente, por ter tido
destaque na política brasileira em vários momentos de sua trajetória,
criando ao seu redor uma espécie de mito, o que é perceptível em
relação à leitura das quatro matérias que retornam a assuntos do
passado do personagem, já tratado em reportagens anteriores.
De acordo com Campbell, o ciclo do herói – semelhante aos resultados dos estudos de Propp – segue os seguintes padrões: nascimento,
chamado, jornada aliada a uma luta norteada por sacrifícios e amor,
capazes de revolucionar a vida do próprio herói e das pessoas a sua
volta. A jornada é marcada por dificuldades que são superadas.
Em linhas gerais, eis algumas das constatações de Propp (2001):
ao herói é feito o pedido para reparar um dano, ele aceita o desafio e decide ir; em seguida, ele é submetido ao ataque do inimigo
ou antagonista; depois reage a esse ataque quando recebe poderes
mágicos ou a ajuda de outros personagens para vencer o antagonista; mesmo após a vitória e o regresso, o herói sofre perseguições,
consegue se salvar e reinicia sua busca até reparar o dano e ser
reconhecido pelo feito.
O ciclo vivido pelo herói, de acordo com Campbell (1997) e suas
funções traçadas por Propp (2001), é composto basicamente pelas
277
�seguintes fases (adaptado por Motta, 2011: 185) e que foram associadas à trajetória de Dirceu ao longo das quatro matérias analisadas:
- Partida, também nomeada como “chamado da aventura”: é
quando o herói segue o destino até a missão que lhe foi dada
ou que ele assume pela necessidade de mudar alguma situação.
- Superação de dificuldades ao longo da missão: nesse momento
ele pode receber a ajuda de seres mágicos para então voltar e
completar a missão.
- Perseguição: consegue se salvar e reparar o dano.
- Retorno ou reintegração: dependendo de como a missão foi
conquistada pode representar glória ou destruição do herói.
O anti-heroísmo também reúne essas fases, portanto, também o
anti-herói pode passar por elas. Segundo Motta (2011), o anti-herói é
marcado pela personalidade contraditória, sendo necessárias várias
descrições psicológicas para que o leitor compreenda que também
não se trata de um vilão. O anti-herói toma decisões e age baseado
em suas condições físicas, pessoais e sociais, e abriga sentimentos
como a culpa, o medo, a revolta. Motta (2011) considerou essas caracterizações ao analisar o anti-heroismo do personagem João de Santo
Cristo, protagonista da música Faroeste Caboclo, da banda de rock
nacional Legião Urbana.
Caracterização de Dirceu em Veja: quatro momentos
A seguir, destacaremos em quadros as principais caracterizações,
adjetivações e funções da personagem Dirceu e os respectivos trechos
em que aparecem nas quatro matérias de Veja analisadas. Como será
possível observar, boa parte das caraterizações refere-se a aspectos
pessoais do ex-ministro.
278
�Como mencionamos anteriormente, em 1968, ele atuou como líder
estudantil em São Paulo e ganhou notoriedade com os protestos de
resistência dos estudantes à ditadura militar nas ruas. É nesse contexto
que estão inseridas: i) a matéria “Destruição e Morte: porquê?” (Veja,
edição 5/1968, p. 14-21), que tratam da “Batalha da Rua Maria Antônia”,
quando os estudantes do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (USP) se confrontaram fisicamente com
estudantes da Universidade Mackenzie, onde supostamente estavam
infiltrados líderes de organizações da extrema-direita, entre elas, o
Comando de Caça aos Comunistas (CCC); e a matéria: “O Congresso
Interrompido” (Veja, edição 6/1968) que relata como se deu a prisão
de José Dirceu e outros líderes estudantis após a polícia impedir a
realização do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes – UNE,
em que Dirceu era um dos candidatos à presidência.
Na edição 5/1968, as principais funções e ações atribuídas a Dirceu
ressaltadas são:
Quadro 1
Função
Destaque como líder
Ações atribuídas pela revista
“(José Dirceu e Luis Travassos) os dois líderes estudantis mais importantes do Estado de São Paulo” (p.19).
Determinado a lutar contra
as forças conservadoras da
direita
“Luis Travassos e Édson Soares, respectivamente,
presidente e vice-presidente da ex-UNE, somados
a José Dirceu, comandavam a resistência da
filosofia” (p.17).
Organizador das passeatas
e incentivador da violência
dos estudantes com
a polícia durante os
protestos.
“José Dirceu, presidente da ex-UEE, conhecido
como organizador, providenciava pedras, garrafas,
rojões (...) comandando uma passeata em que
foram incendiadas quatro viaturas policiais” (p.19).
Após a batalha da Maria
Antônia, demonstrava cansaço e fraqueza
“São bons líderes? – José Dirceu e Luís Travassos
eram dois líderes fracos e fadigados. Nenhum (...)
parecia ter forças políticas nem capacidade de
liderança suficientes para decidir por todos os
estudantes brasileiros” (p.19).
279
�Na mesma matéria, o repórter descreve também com riqueza de
detalhes o espaço físico e o ambiente tenso entre os estudantes,
diante dos confrontos por meio de ações de José Dirceu:
José Dirceu subiu em um monte de tijolos, cadeiras, corrimãos de escada e paralelepípedos, que serviam de barricada
e fez um comício relâmpago. ‘Não é mais possível mantermos militarmente a Faculdade, não nos interessa continuar
aqui lutando contra o CCC, a FAC e o MAC, esses ninhos de
gorilas. Um colega nosso foi morto. Vamos às ruas denunciar o massacre. A polícia e o exército de Sodré que fiquem
defendendo a fina flor dos fascistas. Viva a UNE, abaixo a
repressão. (Veja, edição 5/1968, p.19).
Na edição 6/1968, a principais características observadas foram:
Quadro 2
Funções
Ações atribuídas pela revista
Um dos culpados pela
desordem causada pelo
Movimento Estudantil
“Os rapazes e moças enrolados em cobertores
coloridos, no frio do começo da tarde de sábado
passado, não pareciam os perigosos líderes
estudantis do Brasil inteiro, presos durante o
30º Congresso da ex-UNE, em Ibiúna” (p.12).
Líder derrotado
“José Dirceu, ex-presidente da ex-UEE paulista.
Dirceu – cabelo comprido, barba por fazer, olhar
cansado” (p. 12).
Fugitivo da polícia
“Os três líderes estudantis ( José Dirceu, Luis
Travassos e Vladimir Palmeira) estavam com
prisão preventiva decretada, finalmente executada depois de muitas vezes terem enganado a
polícia” (p.12).
Pelo facto de as duas matérias terem sido em sequência, uma semana depois da outra, pode-se então considerar que, neste primeiro
280
�momento, Dirceu estaria passando pela primeira fase do ciclo do
herói, quando foi chamado a cumprir a missão de resistir à Ditadura,
mas esta foi interrompida quando foi preso.
Dentro da perspetiva de Gancho (2002), constata-se que José Dirceu
é uma personagem redonda na narrativa das duas edições de Veja
sobre o movimento estudantil publicadas em 1968 e também um dos
protagonistas das ações. No Quadro 3 abaixo, estão as características
predominantes nas duas edições, divididas em classificações, também
propostas por Gancho (2002):
Quadro 3
Características
Físicas
Cabelo e barba por fazer
Psicológicas
Cansado e fraco
Sociais
Líder Estudantil
Ideológicas
Um radical de esquerda
Morais
Perigoso, incentivador de violência e
fugitivo da polícia
A matéria “O homem que faz a cabeça de Lula” (Veja, edição
1770/2002, pp. 46-52) discorre sobre a possibilidade de ascensão de
José Dirceu ao poder por meio da eleição de Luís Inácio Lula da Silva
nas eleições presidenciais de 2002. Nela, é feito um resgate histórico
sobre o passado de José Dirceu, além de comparações e paralelos
às atitudes e características atribuídas a personagem no passado e
no presente. Podemos considerar que, ao fazer o cruzamento dessas
informações, a revista pretende mostrar se há coerência entre as ações
do ex-ministro durante a ditadura e no momento atual.
Veja anuncia também que ele pode ser um ministro estratégico
de um eventual governo Lula. Na época, Dirceu era deputado federal
pelo PT em São Paulo e presidente do partido. O texto é baseado
281
�em relatos históricos de José Dirceu — que foi entrevistado — e de
outras pessoas que conviveram com ele no passado e conviviam
no presente. No ciclo do herói, é possível afirmar que a matéria
corresponderia à superação das dificuldades — que começaram na
ditadura — e que Dirceu estaria prestes a completar sua missão, no
caso, levar o PT ao poder.
Neste momento, Veja o descreve como um personagem importante
para a história política do país, porém com o objetivo de desconstruir possíveis mitos heróicos. Um dos temas tocados em relação à
desconstrução da personagem é o exílio de José Dirceu em Cuba,
para onde foi após ter seu nome na lista de presos políticos que deveriam sair da prisão em troca do resgate do embaixador americano
Charles Elbrik, em 1969. A revista levanta questões sobre o treinamento guerrilheiro que ele teria feito no país, que poderia ser utilizado em uma eventual volta ao Brasil caso integrasse a luta armada.
Na matéria, o próprio Dirceu é citado como quem é contra esse método.
A vida real de José Dirceu é ainda mais espantosa de que as
histórias que se criaram a respeito dele e é possível reconhecer
no radical do passado muito dos traços do moderado de hoje
(...) ‘eu era contra o movimento estudantil mandar quadros
para a guerrilha’” (Veja, edição 1770/2002, p. 47).
Na edição, Veja destaca que, no passado, durante o movimento
estudantil, José Dirceu era cabeludo, rebelde, namorador, bonitão e
falante. Um jovem radical, conhecido pela capacidade de organização
e obsessão em controlar tudo, que comandou passeatas históricas e
era referência entre os estudantes de sua geração.
Além do exílio em Cuba, outro assunto que ganha destaque é a
clandestinidade. Após fazer plásticas no rosto, José Dirceu voltou ao
Brasil em 1976 com outra identidade e casou com a empresária Clara
Becker, que só descobriu quem o marido era, quando ele integrou
282
�a lista dos anistiados políticos da Ditadura em 1979, e precisou revelar o segredo.
Na edição 1770/2002, as principais funções e ações atribuídas a
Dirceu ressaltadas são:
Quadro 4
Funções
Ações atribuídas pela revista
Centralizador e controlador
“Na campanha petista à presidência
não se toma uma decisão sem o aval
de José Dirceu, que controla tudo com
mão de ferro” (p.46).
Se tornou um político da esquerda
moderada
“Um ano antes da aliança do PT
com o PL, José Dirceu já dizia, em
conversas reservadas com capitães de
indústrias, que o vice de Lula seria
um empresário, ato que simbolizaria a
união capital-trabalho” (p.46).
Assim como na ditadura, continua
sendo organizador
“É um leitor voraz de pesquisas e
planeja eventos da campanha (...) traça
organogramas e se gaba de administrar
o PT como uma empresa” (p.51)
É misterioso
Fez escolhas oportunas
Não teria amizades sólidas
“Da sua experiência na
clandestinidade, ele aprendeu a agir
nas sombras (...) tem uma agenda
repleta de encontros secretos” (p.51).
“Se não tivesse feito sua conversão a um
esquerdismo menos ortodoxo, não seria
o líder de um partido que agora disputa
a presidência da República” (p.52)
“O economista Paulo de Tarso
Venceslau, que saiu do PT em 1997
(...), solta a língua quando fala de José
Dirceu. ‘Ele tem fome de poder e seu
estilo é jogar uns contra os outros para
se manter por cima’” (p.51).
No Quadro 5 a seguir, com base na classificação de Gancho (2002),
destacamos as características mais marcantes de José Dirceu na matéria da edição 1770/2002:
283
�Quadro 5
Características
Características atribuídas pela revista
Físicas (Passado)
Cabeludo e bonito
Psicológicas
Centralizador e organizador
Sociais
Deputado Federal e presidente do PT
Ideológicas
Um esquerdista moderado
Morais
Age nas sombras e enganou sua
primeira mulher
Já a matéria “Ele assusta o governo” (Veja, edição 1916/2005,
p. 57-62), número em que Dirceu é capa, repercute as acusações de
Renilda Fernandes de Souza, mulher do publicitário Marcos Valério
(acusado de ser operador financeiro do esquema do Mensalão) em
depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPI dos
Correios. A Comissão tinha como objetivo investigar o caso no âmbito
do Congresso Nacional, e Renilda Fernandes de Souza teria testemunhado a presença de Dirceu em reuniões com o marido para tratar de
financiamentos para campanhas eleitorais e compra de apoio político.
Podemos observar no Quadro 6 abaixo as funções da personagem
Dirceu na matéria:
Quadro 6
Funções
Ações atribuídas pela revista
Acusado de articular o esquema do
mensalão
“Em depoimento a CPI dos Correios,
Renilda Santiago Fernandes de Souza,
mulher do publicitário Marcos Valério
disse que José Dirceu não só sabia
de tudo como ainda se reuniu com
representantes dos bancos envolvidos”
(p.57)
Frustrado
“O ex-ministro se considerava o
sucessor natural de Lula”,p.59
284
�Arquivo vivo da política
“Dirceu tem a memória boa e ruim do
governo Lula” p.58
Não queria ser acusado sozinho
“’Fiz tudo com o conhecimento e o aval
do presidente’, repete Dirceu, dando a
entender que, para se salvar, não hesitará
em chantagear o presidente Lula”, p.58
Ainda era preservado pelos colegas
de partido
Sentia que poderia ser traído
Humilhado pela forma como
foi demitido da Casa Civil
“Delúbio (Soares, tesoureiro do PT)
fez questão de preservar Dirceu em
seu depoimento à CPI, dizendo que o
ex-ministro não sabia nadica de nada
dos empréstimos bancários malandros
contraídos pelo PT” (p.58)
“Dirceu não tem dúvidas de que ele é
uma espécie de troféu para a oposição
e que pode ser vítima de uma conspiração de ex-aliados” (p.60)
“Horas após o famoso discurso de
Jefferson em que ele aconselha Dirceu
a deixar o governo, foi chamado ao
gabinete do presidente ‘acho melhor
você sair’, disse Lula, de maneira
brusca” (p.60).
A seguir, destacamos as principais características de Dirceu no
Quadro 7:
Quadro 7
Características
Características atribuídas pela revista
Físicas
Não aparecem
Psicológicas
Pragmático, Ressentido e humilhado
Sociais
Demitido da Casa Civil, prestes a perder o mandato de deputado
Ideológicas
Atende a interesses políticos
Morais
Acusado de chefiar um esquema de
corrupção
Entendemos que a matéria da edição 1916/2005 pode representar
o fechamento do ciclo anti-heróico de José Dirceu nas quatro matérias
285
�analisadas (outros fatos se sucederam após as primeiras acusações
contra Dirceu no escândalo do Mensalão) com o momento da possível
vitória ou destruição do personagem.
Considerações finais
A partir da análise das funções, ações atribuídas e características
de José Dirceu em quatro matérias de Veja, encontramos indícios de
que, no período analisado, ele cumpre, como personagem da revista Veja, uma saga anti-heróica, tendo em vista que é retratado sob
várias nuances, que ressaltam suas contradições inclusive de cunho
pessoal e psicológico, e a possibilidade de ser derrotado/destruído.
Ainda que nossos resultados sejam preliminares, é possível inferir
que a personagem José Dirceu descrita em Veja é alguém que desperta
desconfiança dos que estão a sua volta e se adequou ideologicamente
de acordo com o momento político que vivia. Suas principais características psicológicas, que, segundo a revista, se mantiveram desde
a ditadura militar, seriam frieza, pragmatismo, capacidade centralizadora e de fazer qualquer coisa para se manter no poder. Ao se
descrever o contexto em que o ex-ministro estaria em conflito com os
companheiros de partido em função das acusações de envolvimento
no Mensalão, Veja descreve, por exemplo, José Dirceu como alguém
que não seria amigo de ninguém e que estava em atrito com o então
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ao mesmo tempo, a revista apropria-se, mesmo que de forma
involuntária, das fases atribuídas por Campbell aos heróis das narrativas ficcionais. Se a caracterização e as ações atribuídas reforçam
aspectos negativos de Dirceu enquanto personagem de Veja, por
outro lado, a associação às fases do herói ajuda a explicar o destaque
da revista a Dirceu em diferentes momentos históricos e — por que
286
�não — o reconhecimento à liderança do ex-ministro enquanto ator
político da história recente.
De qualquer maneira, seja para enfatizar características desabonadoras, seja para contar as peripécias e reviravoltas da biografia de
Dirceu, ao enfatizar este personagem, Veja reforça a ideia de que o
jornalismo, ao reunir e combinar fragmentos da vida real, torna-se ele
mesmo o narrador que atribui valor de verdade às narrativas publicadas e importância às personagens políticas da contemporaneidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABDALA JUNIOR, B. (1995). Introdução à Analise de Narrativa. São Paulo: Scipione.
CAMPBELL, J.O. (1997). Herói de Mil Faces. São Paulo: Cultrix.
GANCHO, C. V. (2002). Como analisar narrativas. São Paulo: Editora Ática.
GUAZINA, L. (2014). “Quando cultura política e subcultura jornalística andam de
mãos dadas: a desconfiança na política em tempos de escândalos”. Trabalho
apresentado no 23º Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de
Pós-Graduação em Comunicação – Compós.
GUAZINA, L.; MOTTA, L. G. (2010). “O Conflito como categoria Estruturante da
Narrativa Política: o caso do Jornal Nacional”, in Brazilian Journalism Research,
v.6, pp.132-149.
MESQUITA, M. (2003). O quarto Equívoco – o poder dos media na sociedade contemporânea. Coimbra: MinervaCoimbra.
MOTTA, L. G. (2011). Análise Crítica da Narrativa. Brasília: Editora Universidade
de Brasília.
MOTTA, L. G. (2011). “A narrativa mediada e a permanência da tradição: percurso
de um anti-herói brasileiro”, in Estudos de Literatura Contemporânea, n.º 38,
julho/dezembro, pp.185-212.
PROPP, V. (2001). Morfologia do Conto Maravilhoso. São Paulo: CopyMarket.com.
THOMPSON, J. (2002). O Escândalo Político: poder e visibilidade na era da mídia.
Rio de Janeiro: Vozes.
287
�TUCHMAN, G. (1993). “A Objetividade como Ritual Estratégico: uma análise das
noções de objetividade dos jornalistas”, in TRAQUINA, N. (Org.). Jornalismo:
questões, Teorias e Histórias. Lisboa: Vega, pp. 74-90.
TUCHMAN, G. (1993). “Contando estórias”, in TRAQUINA, N. (Org.). Jornalismo:
questões, Teorias e Histórias. Lisboa: Vega, pp. 258-262.
TUCHMAN, G. (1978). Making News. A Study in the Construction of Reality. New
York: Free Press.
TRAQUINA, N. (Org.) (1993). Jornalismo: questões, Teorias e Histórias. Lisboa: Vega.
VEJA, Destruição e Morte: porquê?, edição 5, 1968.
—, O Congresso Interrompido, edição 6, 1968.
—, O homem que faz a cabeça de Lula, edição 1770, 2002.
—, Ele assusta o governo, edição 1916, 2005.
WAISBORD, S. (2000). Watchdog Journalism in South America: news, accountability
and democracy. New York: Columbia University Press.
288
�CAMINHOS NARRATIVOS:
UM PERSONAGEM: O BRASILEIRO
Célia Maria Ladeira Mota
Programa de Pós-graduação
Faculdade de Comunicação, UnB
Leylianne Alves Vieira
Programa de Pós-graduação
Faculdade de Comunicação, UnB
No livro Morfologia do Conto Maravilhoso, o autor, Vladimir Propp
(1970), nos dá uma definição simples e clara sobre o personagem e
sua função: é o ser que realiza uma ação que é a base da intriga de
um conto. Personagem é, assim, o ser humano em movimento, seja
na vida pessoal, individual, seja nas narrativas ficcionais ou nos relatos jornalísticos. Sua participação num relato viabiliza detalhes de
descrição física ou social e determina a interação com grupos sociais.
É a partir da vivência do personagem que os relatos ganham vida e se
tornam fonte para os narradores. O ponto de partida para a análise
de personagens é, portanto, o mundo da vida, uma expressão que
define a experiência vivida.
Neste artigo, analisamos a caracterização de um personagem como
é concebida em dois gêneros narrativos: o ficcional e o jornalístico.
Vamos observar como o brasileiro é representado em Macunaíma,
289
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_11
�na obra de Mário de Andrade, e na reportagem da revista Realidade
“O canavial esmaga o homem”, que conta a saga de Gregório, um
trabalhador de engenho. O foco é perceber as subjetividades dos
relatos e os contrastes entre a fantasia e a realidade e compreender
os significados construídos. São representações da identidade do
brasileiro que têm sua origem em duas matrizes culturais que herdamos dos portugueses: a aventura e o trabalho.
O caminho teórico é o da Análise Crítica da Narrativa, como
proposta por Motta, para quem “esta análise é um caminho rumo
ao significado e o significado é uma relação: não há significado sem
algum tipo de troca (Motta, 2013: 121). Investigando as jornadas dos
dois personagens e os acontecimentos nos quais se envolvem, de
acordo com o ciclo do herói proposto por Campbell (2007), a análise
estuda os significados que emergem de práticas culturais que têm
raízes históricas e que até hoje contribuem para uma certa ambiguidade na concepção do personagem brasileiro.
O personagem: um ator?
A vida nada mais é do que uma sombra, um pobre ator que se
pavoneia no palco, e então não é mais ouvido. É uma estória
contada por um idiota, cheia de som e fúria, que significa
nada. (Shakespeare, em Macbeth).
Ao se basear em personagens fictícios que reproduzem as relações de poder e as intrigas de cortes europeias do século XVII,
Shakespeare coloca considerações filosóficas nas falas dos atores. Seus
textos se dividem entre relatos de acontecimentos trágicos e falas,
monólogos e diálogos, que buscam oferecer um significado para os
fatos. Para Shakespeare, o drama, cheio de som e fúria, terminava
quase sempre com a morte. Suas concepções lembram Platão que,
290
�muitos anos antes, afirmara ser a obra dramática uma arte ilusória
que refletia o mundo de aparências à sua volta. O poeta, dizia Platão,
com sua arte ilusória diz o falso como verdade. Para Platão, por não
imitar a ideia, mas a aparência sensível, a criação mimética opera
por ilusões e se torna degradante. O termo grego mímesis tem sido
geralmente traduzido por ‘imitar’, e, por isso, nos termos de Platão,
o drama seria uma imitação pobre da realidade. O conceito dividiu
dois sistemas filosóficos gregos, o platônico e o aristotélico: seria
a mímesis uma simples cópia da realidade ou uma reapresentação
deste mundo exterior? Cópia ou imitação criativa?
Ricoeur (1994) nega a imitação e afirma que a narrativa é uma
releitura da vida, uma cópia criativa em torno de novos significados.
Seguindo Aristóteles em sua Arte Poética, o autor francês considera
que o objeto da mímesis é a ação humana e, assim, incorpora diferentes interpretações do real. Este ponto de vista adota a ideia de
verossimilhança entre seres ficcionais e o ser humano real, lembrando
Aristóteles que afirmava ser o objeto da poiesis imitar os humanos
em ação, fosse por uma narrativa dramática ou trágica, ou por uma
comédia. A mímesis corresponderia a uma atividade do imaginário
sobre o real, que, além de proporcionar prazer, também produz saber.
Como afirmou Aristóteles, “é mister ater-se sempre à verossimilhança, de modo que o personagem, em suas palavras e ações, esteja em
conformidade com o necessário e verossímil” (apud Ricoeur, 1994).
Com isso, o filósofo grego acreditava que a obra poética não era
uma simples cópia da aparência, mas uma criação sobre a vida real.
Esta criação se realiza a partir de procedimentos que relacionam
a realidade e a ficção. Para Aristóteles, a comédia e a tragédia eram
artes a imitar as ações humanas e o faziam pela linguagem, pelas
ações boas ou ruins e a construção narrativa (se drama ou comédia).
Esta liberdade criativa trabalha com os limites da verossimilhança,
ou seja, a obra ficcional tem de se basear em características e personagens do mundo real que sejam verossímeis, críveis.
291
�O personagem, de acordo com o papel que desempenha no enredo, pode ser protagonista, antagonista ou um personagem secundário, figurante (Gancho, 1991: 14-16). Quanto às descrições física e psicológica, os personagens podem ser planos ou redondos.
Os primeiros são aqueles “[...] caracterizados com um número pequeno de atributos, que os identifica facilmente perante o leitor; de um
modo geral são personagens pouco complexos” (Gancho, 1991:16).
Os mesmos podem ser caricaturas ou tipos. Já os personagens redondos são aqueles mais complexos, dispondo de uma variedade maior
de características: podem ser físicas, psicológicas, sociais, ideológicas ou morais, de acordo com a autora. Personagem, no campo da
literatura, é o ser ficcional responsável pelo desenrolar do enredo.
É considerado uma invenção, uma construção literária, ou um ‘ser de
papel’. Entretanto, negar a relação entre personagem e pessoa real seria absurdo: os personagens representam pessoas, como acontece nas
narrativas jornalísticas. Nestas, seres humanos reais se envolvem em
acontecimentos que mudam a rotina de vida, são transformadores em
maior ou menor grau e criam novos significados para as ações sociais.
Estas transformações operam tanto nas narrativas ficcionais ou nas
fáticas pela linguagem, que é um processo de representação do real.
A representação
A tragédia só imita a realidade porque a recria através de
um mythos, de uma fábula, que atinge sua mais profunda
essência. (Ricoeur, 1994).
Como processo, a representação é um trabalho ativo, que implica
selecionar signos, códigos, fazê-los interagir, e é a partir desta prática que atribuímos valores e significados às nossas práticas sociais.
Como lembra Montoro, a representação é uma prática concreta de
292
�significação. “O trabalho de uma prática representacional consiste
em tentar fixar os significados, na tentativa de privilegiar um ponto
de vista” (Montoro, 2006: 22).
Mas se a representação tende a fixar significados, estes sofrem
um processo de negociação na medida em que o texto interage com
a experiência cultural e pessoal do leitor. Foi Barthes quem primeiro estabeleceu um modelo sistemático pelo qual se poderia analisar
este processo de negociação de significados. Para ele, existem duas
ordens de significação. A primeira é a denotação e descreve a relação
entre significante e significado no interior do signo e do signo com o
seu referente na realidade externa. A denotação é o sentido primeiro
e mais óbvio de um texto, seja ele escrito, falado ou imagético, em
filme ou fotografia.
A segunda ordem de significação é a conotação. Segundo Barthes
(1971), ela descreve a interação que ocorre quando o signo encontra
os sentimentos e emoções dos usuários, assim como os valores da
sua cultura. Barthes afirma que numa fotografia a diferença entre
conotação e denotação é clara. A denotação é a reprodução mecânica
no filme de um objeto para o qual a câmera aponta. Já a conotação
é a parte humana do processo; é a seleção do que incluir no enquadramento, que foco, que ângulo de câmera, que tipo de filme usar,
se colorido ou preto e branco. Denotação é o que é fotografado.
Conotação é como é fotografado.
Outro conceito que, segundo Barthes, explica como o signo trabalha
é o de mito. Um mito é uma estória ou narrativa pela qual uma cultura
explica ou compreende algum aspecto da realidade ou da natureza.
Os mitos primitivos falavam de vida e morte, homens e deuses, o bem
e o mal. Já os mitos modernos tentam explicar a masculinidade e a
feminilidade, a família, a ciência. Barthes pensa no mito como uma
cadeia de conceitos relacionados. Se a conotação é a segunda ordem
de significante, o mito é a segunda ordem do significado. O mito é o
significado cultural que é ativado pelo signo, mas que pré-existe ao
293
�signo. Atualmente, um mito frequente nos relatos fílmicos é a construção do personagem como uma epopeia de herói. Um mito que está
presente também em algumas narrativas jornalísticas.
O herói e sua jornada vêm a ser o que o antropólogo Joseph
Campbell chamou de monomito, um conceito que explica como o
personagem percorre um ciclo completo para cumprir uma missão
ou tarefa. Como conceito de Narratologia, o termo apareceu pela
primeira vez em 1949, no livro de Campbell O Herói de Mil Faces.
Campbell descreve as narrativas de Gautama Buddha, Moisés e Cristo
em termos de monomito e afirma que mitos clássicos de muitas culturas seguem um padrão básico. Campbell define este padrão narrativo
como a Jornada do Herói (2007), cujos estágios são:
Mundo Comum – o mundo normal do herói antes da história começar;
• O Chamado da Aventura – um problema se apresenta ao herói:
um desafio ou a aventura;
• Reticência do Herói ou Recusa do Chamado – o herói recusa ou
demora a aceitar o desafio ou aventura, geralmente porque
tem medo;
• Encontro com o mentor ou Ajuda Sobrenatural;
• Cruzamento do Primeiro Portal – o herói abandona o mundo
comum para entrar no mundo especial ou mágico;
• Provações, aliados e inimigos;
• Aproximação – o herói tem êxitos durante as provações;
• Provação difícil ou traumática – a maior crise da aventura, de
vida ou morte;
• Recompensa – o herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu
medo e agora ganha uma recompensa;
• O Caminho de Volta – o herói deve voltar para o mundo comum.
A força dramática de um enredo está na busca de realização de
um desejo do personagem, herói ou não, e na oposição das forças
294
�de antagonismo que dificultam ou impedem que ele alcance aquilo
que quer. Na análise, o ponto de partida é caracterizar o protagonista da história, considerando as relações que mantém com outros
personagens. Todos têm a função, no enredo, de criar fios narrativos
que movimentam a intriga. O protagonista é o personagem mais
bem desenvolvido na história. Ele é o centro nervoso da trama que
sustenta o eixo narrativo. Todos os eventos, personagens e elementos
da história giram ao seu redor. Já o antagonista é o personagem (que
pode também ser um objeto, animal, monstro, espírito, instituição,
grupo social, limitação de ordem física, psicológica, social ou cultural) que traz ou representa uma ameaça, obstáculo, dificuldade ou
impedimento ao que o protagonista deseja conquistar. Muitas vezes,
o protagonista pode ser levado pelos acontecimentos, como se estes
fossem a mão do destino.
O acontecimento e a narrativa
O acontecimento é da ordem do inesperado, do novo ou do
inédito, e introduz uma descontinuidade, reportando-se à
noção fenomenológica do presente, como “o hoje em função
do qual há um amanhã e um ontem” (Ricoeur, 2014: 158)
Como lembra a pesquisadora Vera Veiga França, da UFMG, o acontecimento é um conceito que tem presença importante nos campos
da história e da filosofia, mas só recentemente ele vem ocupando
espaço nos estudos de Comunicação, especialmente na Teoria do
Jornalismo, em que aparece como sinônimo do fato ou para distinguir a noticiabilidade de ocorrências do cotidiano. Uma linha
mais recente de pesquisa vem abordando o acontecimento como
uma transformação que ocorre no domínio da experiência humana
e que tem a capacidade de interferir no quadro da normalidade.
295
�É “a ocorrência desencadeadora de sentidos” (Quéré, 2012) cuja
complexidade extrapola a narrativa factual ou jornalística.
Ao desorganizar o presente, o acontecimento instala uma
temporalidade estendida, convoca um passado com o qual
possa estabelecer ligações, anuncia futuros possíveis... Ele nos
serve para perceber a ruptura, o alcance, a potencialidade,
enfim, abertos por certos fatos. (França, 2012: 48).
O Jornalismo vive no ritmo dos acontecimentos, que nos permitem ler o mundo a partir dos fatos e dos sentidos que eles desencadeiam. Como Adriano Rodrigues costuma afirmar, “é acontecimento tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história dentre
uma diversidade aleatória de fatos virtuais” (Rodrigues, 1993: 27).
Os acontecimentos vão sendo construídos pela linguagem, pela narrativa factual e também pela narrativa ficcional, que nos fornecem uma
dimensão simbólica, de significação nova sobre o real. “Produzem
a compreensão de um estado de coisas reconstituídas em tramas e
narrativas, nas quais aparecem os atores que desempenham papéis”
(Quéré, 2012: 68).
É importante a distinção que Sodré faz entre fato e acontecimento
(Sodré, 2009: 33). Enquanto o acontecimento se pauta pela atualidade, o fato, mesmo inscrito na história, é uma elaboração intelectual.
Por sua vez, Mouillaud afirma que “o acontecimento é a sombra
projetada de um conceito construído pelo sistema da informação, o
conceito do fato” (Mouillaud, 2012: 51). Assim, a informação jornalística parte de objetos tidos primeiro como factuais para obter, por
intermédio do acontecimento, alguma clareza sobre o fato social e
histórico. “É, portanto, uma atividade que transcende a mera distribuição de relatos sobre a realidade. Visto como uma narrativa, o
relato jornalístico envolve enredos, conflitos e personagens para se
desenvolver” (Mota, 2012: 16).
296
�Para uma maior compreensão desta concepção, um bom exemplo
de meta-acontecimento é o “11 de setembro”. Para além das imagens
televisivas que noticiaram a ocorrência, é o próprio discurso do
fato que emerge como notável. Os eventos desencadearam enormes
dimensões sociais e políticas que ainda não se esgotaram. O “11 de
setembro” se tornou tema de memória coletiva, a ser relembrado
a cada ano, transformado em efeméride pela grande mídia, o que
contribui para atualizar e desdobrar os sentidos, conferindo uma
maior compreensão do ocorrido.
A concepção de acontecimento para além da narrativa jornalística
e mesmo da narrativa ficcional permite perceber sua abrangência
como transformação da vida de muitas pessoas envolvidas, das mortes
ocorridas, e do seu poder de continuar provocando sentidos novos
em outras ocorrências. Outro exemplo claro do conceito foi a catástrofe conhecida como tsunami, que atingiu o sudeste da Ásia em
2004, e que ficou para sempre na memória coletiva não só dos povos
asiáticos, mas de toda a humanidade. O acontecimento tem, nesta
perspetiva, um antes e um depois do fato que se tornou conhecido
pelas narrativas midiáticas. Ele será lembrado por muitos anos não
só pelos que viveram a tragédia daqueles dias, mas por todos os que
possam temer sua repetição.
É, portanto, pela vivência de acontecimentos grandes ou triviais
que se estabelecem as interações sociais, expondo identidades e
deslocando os participantes do fato para as funções de protagonistas
ou antagonistas nas narrativas que se seguirão. O acontecimento tem
relação direta com os personagens envolvidos numa experiência.
Como destaca Quéré, “o verdadeiro acontecimento não é unicamente
da ordem do que ocorre, do que se passa e se produz, mas também do
que acontece a alguém” (Quéré, 2005: 61). Ou seja, o acontecimento
é um fenômeno que afeta e transforma aqueles que o vivem. É o que
resulta da própria transformação dos sujeitos. E, em consequência,
da própria transformação da comunidade a que pertence o indivíduo,
297
�permitindo que novos significados sejam partilhados. É pelo acontecimento que a narrativa instala os conflitos entre os personagens.
Narrativas e significações
Narrar é uma forma de dar sentido à vida. Na verdade, as
narrativas são mais que representações: são estruturas que
preenchem de sentido a experiência e instituem significação
à vida humana. Narrando, construímos nosso passado, nosso
presente e nosso futuro. (Motta, 2013: 18).
Duas narrativas fazem parte do material empírico selecionado
para a análise da construção de significados a partir dos personagens
e dos acontecimentos em que se envolvem. A primeira narrativa é
ficcional e trata de um personagem que foi concebido nos primeiros anos do século XX, quando começa a se forjar a ideologia de
um Brasil fruto de uma mestiçagem de três raças. Macunaíma, de
Mário de Andrade, é o personagem ficcional onde vamos procurar compreender os traços de brasilidade pela análise da narrativa.
O segundo texto a ser analisado nos apresenta um personagem de
um relato jornalístico, baseado num ser real, também fruto da selva,
o trabalhador do canavial. A reportagem analisada é “O canavial
esmaga o homem”, da antiga revista Realidade. Qual dos dois se
assemelha mais ao personagem de que fala Campbell, ao descrever
as jornadas de busca e realização que consagram os heróis?
A análise crítica da narrativa supõe três planos: plano da expressão, plano da história ou estória e plano da meta-narrativa. O plano
da expressão é o plano da linguagem, o da superfície do texto, por
meio do qual o enunciado é construído pelo narrador. Tanto para o
texto ficcional como para o factual, a análise textual permite examinar
figuras de linguagem, caminhos de representação de personagens
298
�e de suas ações, e recursos narrativos que ajudam a perceber a intencionalidade do narrador e suas estratégias persuasivas. É neste
plano também que se identificam os protagonistas e antagonistas, as
situações de conflito e as intrigas que permitem a evolução das ações.
Nesta análise privilegiamos as representações dos personagens, de
que forma são descritos e apresentados pelo texto.
O plano da estória, ou da história como preferem alguns, é o
plano da significação ou do conteúdo propriamente dito. Neste plano, a mimese, como a define Ricoeur (1994), permite representar
acontecimentos e fatos da vida do personagem, situações em que
ele se envolve, numa operação textual de imitação criativa da vida
real no caso de narrativa fática, ou da vida imaginada, no caso da
narrativa ficcional. Estes acontecimentos revelam os significados que
os personagens constroem sobre si mesmos, a partir da atividade
criativa do narrador.
O terceiro plano da meta-narrativa, conforme acentua Motta,
é o plano da estrutura profunda, que evoca imaginários culturais.
É o conflito que tece a trama através do relato de incidentes, rupturas, descontinuidades. A meta-narrativa é quase sempre não dita,
mas contradita. É uma verdade ou um imaginário que se constrói em
torno de um tema e que volta à memória sempre que o tema se torna
objeto de algum relato, especialmente jornalístico. A meta-narrativa
se vale de acontecimentos anteriores, que provocaram significados
diferentes, de fundo cultural, para retomar estes sentidos em novo
texto. A análise da meta-narrativa é um movimento de sair do texto,
do plano da expressão, para buscar os fios narrativos que trazem os
sentidos que se fixaram na memória coletiva.
Na ficção, como no relato jornalístico, a análise da meta-narrativa permite res-significar os novos acontecimentos à luz de fatos
anteriores. Para os que seguem o antropólogo Joseph Campbell, o
plano da meta-narrativa permite analisar as jornadas de um herói,
tendo como pano de fundo as oposições entre o bem e o mal, a vida
299
�e a morte, diferentes valores culturais presentes em comunidades
diversas, além dos mitos em geral.
Nesta análise, os dois personagens serão examinados a partir de
uma perspetiva de identidade e a construção de brasilidade de cada
um deles, levando em conta os cenários onde os acontecimentos
descritos ocorrem, ficcionais ou reais, e o tempo histórico em que
suas estórias são narradas.
Macunaíma: herói da brasilidade
No caminho pelo Araguaia o exército de passarinhos saúda
o herói, que volta a assumir o título de Imperador do Mato-Virgem. Um dia um homem passou pelo Uraricoera, agora uma
terra desabitada. Uma voz chegou aos seus ouvidos. Tratava-se
do aruaí para quem Macunaíma contara sua história. A ave
reproduziu toda essa saga para o viajante e depois partiu para
Lisboa. O ouvinte era o escritor, Mário de Andrade, que retratou
essas aventuras nesse livro. (Epílogo de Macunaíma, 2008).
Com o romance O Guarani, de José de Alencar, a brasilidade se
tornou, pela primeira vez, tema da literatura brasileira, quando o movimento romântico construiu um ser nacional fruto da união entre índios
e brancos, deixando o negro naquele momento identificado apenas com
a força de trabalho e, portanto, sem direito à cidadania. Foi a partir do
movimento abolicionista e das transformações sociais e políticas por que
passava o Brasil no começo do século XX que o negro seria integrado
às preocupações nacionais e se tornaria personagem de uma literatura
mais realista. É nesse momento também que surge o mito das três raças,
uma epopeia de um Brasil-cadinho que é forjado nas selvas tropicais.
Como nas sociedades primitivas, o mito é cosmológico, no entender de Ortiz (1987: 38) que o considera a origem do moderno Estado
300
�brasileiro, ponto de partida de uma visão mítica que antecede a própria realidade. A partir das primeiras décadas do século XX, o Brasil
passa de uma economia escravagista para outra de tipo capitalista,
saindo ainda de uma organização política monárquica para a adoção
do sistema republicano. Começa um processo de industrialização e
urbanização, novas cidades surgem e uma classe média se desenvolve. O Brasil entra na era moderna. Se o modernismo é considerado
por muitos como um ponto de referência, é porque “este movimento
cultural trouxe consigo uma consciência histórica que até então se encontrava de maneira esparsa na sociedade” (Ortiz, 1987: 40). É naquele
momento que Gilberto Freyre reedita a temática racial para constituí-la
em objeto privilegiado de estudo, uma chave para a compreensão do
Brasil. Freyre transforma a negatividade do mestiço, afirmada até então,
em uma positividade que vai redesenhar os contornos da identidade
brasileira. “O que era mestiço torna-se nacional”, na expressão usada
por Ortiz. Os modernistas do século XX propõem devorar a cultura
europeia, numa antropofagia cultural que busca acabar com a importação de práticas artísticas e literárias da velha Europa. “Esta postura
vai permitir aos modernistas a busca de expressão da brasilidade,
pintando o homem brasileiro das cidades e do sertão, assim como as
paisagens proletárias de São Paulo” (Mota, 2014:10).
Um personagem surge então naquele caldo de cultura. Aproximando
o folclore, os rituais populares e as lendas indígenas, Mário de Andrade,
paulista, culto e viajado, concebe Macunaíma, um ser da floresta
primitiva e que vai morar na cidade grande, experimentando a contradição que significava viver no Brasil em 1930. No texto, etnia e
cultura aparecem como sinônimos e, às vezes, como antônimos. Em
Macunaíma, Mário de Andrade proclama a síntese nacional, isto é, a
presença frente a frente das três etnias que formam o povo brasileiro.
Macunaíma surge, assim, como um personagem que vai ser objeto de
uma inclusão cultural precoce para a época, um retrato do brasileiro
que mistura qualidades e defeitos e experimenta de tudo um pouco.
301
�Em 17 capítulos, o livro apresenta a saga de um brasileiro que descobre o Brasil, suas crenças e ideias, numa aventura mista de jornada
de herói, como a define Campbell. Macunaíma nasce e já manifesta
sua principal característica: a preguiça. O herói vive às margens do
mítico rio Uraricoera com sua mãe e seus irmãos, Maanape e Jiguê,
numa tribo amazônica. Após a morte da mãe, os três irmãos partem
em busca de aventuras. Macunaíma encontra Ci, Mãe do Mato, rainha das Icamiabas. Depois de dominá-la, com a ajuda dos irmãos,
faz dela sua mulher, tornando-se assim imperador do Mato Virgem.
O herói tem um filho com Ci e esse morre, ela morre também e é
transformada em estrela. Antes de morrer dá a Macunaíma um amuleto, a muiraquitã (pedra verde em forma de sáurio), que ele perde e
que vai parar nas mãos do mascate peruano Venceslau Pietro Pietra,
o gigante Piaimã, comedor de gente. Como o gigante mora em São
Paulo, Macunaíma e seus irmãos vão para lá, na tentativa de recuperar a muiraquitã. Após falhar com o plano de se vestir de francesa
para seduzir o gigante e recuperar a pedra, Macunaíma foge para o
Rio de Janeiro. Lá encontra Vei, a deusa sol, e promete casamento a
uma de suas filhas, mas namora uma portuguesa e enfurece a deusa.
Depois de muitas aventuras por todo o Brasil, na tentativa de reaver
a sua pedra, o herói a resgata e regressa para a sua tribo. Ao fim
da narrativa, vem a vingança de Vei: ela manda um forte calor, que
estimula a sensualidade do herói e o lança nos braços de uma uiara
traiçoeira, que o mutila e faz com que ele perca de novo – dessa vez
irremediavelmente – a muiraquitã. Cansado de tudo, Macunaíma vai
para o céu transformado na Constelação da Ursa Maior.
Como o próprio Mário declarou, ele teve muitas intenções ao
escrever Macunaíma, tratando de diversos problemas brasileiros:
a falta de definição de um caráter nacional, a cultura submissa e
dividida do Brasil, o descaso para com as nossas tradições, a importação de modelos socioculturais e econômicos, a partir de uma visão
antropofágica em moda na década de 1930. Uma preocupação de
302
�Mário de Andrade parece evidente: buscar uma identidade cultural
brasileira. Esta cultura nacional seria formada pelas diversas culturas
populares existentes. Na visão de Mário de Andrade, o Brasil englobaria numa só as representações culturais das regiões do país. Por
isso Macunaíma vive lendas, folclores, costumes, falares diversos e
mistura crenças religiosas, como explica o escritor:
Um dos meus interesses foi desrespeitar lendariamente a
geografia e a fauna e flora geográficas. Assim desregionalizava o
mais possível a criação ao mesmo tempo que conseguia o mérito
de conceber literariamente o Brasil como entidade homogênea
– um conceito étnico nacional e geográfico (Andrade, 2008).
A narrativa é construída na terceira pessoa pelo narrador, o próprio escritor. A história se passa no século XX, mas o tempo mítico
predomina, pois, os mitos e lendas não se enquadram na cronologia
tradicional. Este espaço mítico é reforçado pelas mudanças de cenário da narrativa, que transporta Macunaíma para várias regiões do
país num piscar de olhos. Da selva amazônica sai para São Paulo,
onde descobre as máquinas. As palavras iniciais da trama já tentam
construir um perfil sociológico do personagem: ‘Macunaíma nasceu
negro e feio. Foi parido pela índia Tapanhumas no rio Uraricoera.
Ele permaneceu seis anos sem falar, por pura preguiça. Se o incitavam a falar exclamava: – Ai! Que preguiça!... e não dizia mais nada’.
Ao completar seis anos, o herói ganhou água em um chocalho e a
partir daí passou a falar sem problemas. Foi para a mata e virou príncipe. Na maioridade, Macunaíma teve uma ideia. Ele iludiu sua mãe,
pediu que ela cerrasse os olhos e, quando ela os abriu de novo, os
dois estavam na outra margem do rio, rodeados de alimentos fartos.
Mas a índia quis levar uma parte da refeição para os outros filhos.
O protagonista ficou com raiva e os transportou mais uma vez para
a velha casa. Voltaram a sentir fome.
303
�No capítulo dois, o autor oferece uma primeira representação
de Macunaíma como brasileiro. O texto fala que a avó do menino
pegou uma gamela cheia de caldo envenenado de aipim e jogou
a lavagem no piá. Macunaíma se afastou, mas só conseguiu livrar
a cabeça, todo o resto do corpo se molhou. “Porém a cabeça não
molhada ficou prá sempre rombuda e com carinha enjoativa de piá”.
Para o escritor, o episódio caracteriza o personagem como uma
representação do país, um gigante que ainda pensa como criança.
Da Mãe do Mato, Macunaíma ganha um muiraquitã, uma pedra
verde. É seu talismã que perde e vai procurar em São Paulo. Antes
da viagem, a primeira metamorfose: ele toma banho em uma água
mágica e sua pele fica branca, os olhos azuis e os cabelos loiros.
Seu irmão tenta se banhar na mesma água, mas só consegue um
tom de bronze para a pele. Mais uma representação simbólica da
mistura de etnias do brasileiro que produz uma grande variedade
de cores de pele.
Em São Paulo, o herói encontra seu antagonista, o gigante Piaimã,
encarnação do mercador peruano Pietro Pietra, que havia roubado
seu muiraquitã. Piaimã come as pessoas e vive com a Caapora,
mais uma lenda incorporada à narrativa. Para se livrar do gigante,
Macunaíma vai para o Rio de Janeiro, onde frequenta a macumba
da Tia Ciata. Nos capítulos seguintes, Macunaíma inventa histórias
de caçadas fartas ao se frustrar em uma tentativa de apanhar uma
caça melhor no Bosque da Saúde. Todos descobrem a mentira,
confessada por ele mesmo. Então ele vai pescar no Tietê e cai na
rede de Ceiuci, esposa de Piaimã. Ele é deixado na sala da casa do
gigante enquanto a mulher vai preparar tudo para assá-lo. Mas a
filha caçula de Ceiuci o encontra e o esconde no quarto dela, onde
os dois começam a brincar. No fim da história ele teve de fugir da
mãe. Nessa fuga passa por inúmeras aventuras e por boa parte do
país. No fim o tuiuiú virou avião e o trouxe de volta para São Paulo.
A filha caçula do gigante se transforma em cometa.
304
�Tanto no plano da expressão como no plano da estória, o livro
envolve o personagem no universo mítico do Brasil, usando não
só nomes indígenas como cenas de caçadas no mato e alimentos
típicos de várias regiões. No plano da meta-narrativa, a representação de Macunaíma tem sido interpretada como símbolo do
homem brasileiro, que teria sua natureza psicológico-cultural
identificada no subtítulo dado ao livro: ‘sem nenhum caráter’. Para
alguns autores, a expressão significaria apenas ‘sem características próprias’, sem identidade definida, como, ao que parece, era
a ideia de Mário de Andrade. Se de um lado há uma imagem de
‘mau-caráter’, pelas travessuras e brigas em que Macunaíma se
mete, por outro há uma leitura do personagem como ‘matreiro,
esperto, um brasileiro que sempre tem seu jeitinho’. Um malandro ou um herói?
Como define Da Matta, o malandro é aquele que escolhe ficar
no meio do caminho juntando, de modo quase sempre humano, a
lei impessoal e a amizade e a relação pessoal. Esta malandragem
parece caracterizar o personagem Macunaíma, que é capaz de
proezas incríveis e aventuras míticas, mulherengo e preguiçoso,
mas que vence o gigante adversário ao final e recupera sua pedra
mágica, a muiraquitã. Viajante da floresta para a cidade grande,
dando um jeito de sobreviver em ambas, Macunaíma não tem apenas o gosto da trapaça, mas revela um jeito de ser e de sobreviver
que caracteriza o brasileiro, que vive num sistema em que a casa
nem sempre fala com a rua e as leis formais da vida pública nada
têm a ver com as boas regras da moralidade costumeira. “Num
mundo tão profundamente dividido, a malandragem e o ‘jeitinho’
promovem uma esperança de tudo juntar numa totalidade harmoniosa e concreta. Antes de ser um acidente ou mero aspecto da
vida social brasileira, coisa sem consequência, a malandragem é
um modo possível de ser” (Da Matta, 1986: 105).
305
�O herói invisível
Farofa, taquinho de carne há 54 anos. É só. Asneira dizer que
come. A gente enche a barriga, mas a danada da fome volta
logo. Sou cabra bom. Não tenho vexame de dizer (Gregório,
in: Realidade, 1970).
Nem jeitinho, nem ritual mágico e nem a ajuda da Mãe do Mato
foram capazes de encher de comida o prato de Gregório. Não há
milagres na história de um personagem real, um brasileiro como
tantos outros, lutando para sobreviver em condições precárias. Com
54 anos e apenas três dentes, Gregório é o personagem principal da
reportagem “O canavial esmaga o homem”, tema da edição 46 da
revista Realidade, em janeiro de 1970. A reportagem faz parte de uma
série de artigos da revista, publicada entre 1969 e 1973, que retratou
os brasileiros de diferentes rincões do Brasil. Estes brasileiros foram
os personagens reais, embora invisíveis, de narrativas construídas
durante os anos de milagre econômico da ditadura militar.
Utilizando técnicas literárias, os repórteres Jorge Andrade e Jean
Solari são os narradores de um texto que destaca a pobreza, a dificuldade para obter alimentos, a incerteza sobre o futuro, recriando
a realidade de um Brasil pouco conhecido naquele momento histórico e que, para muitos, continua invisível até hoje. Eles viajaram
para o estado do Pernambuco em busca dos engenhos de rapadura,
dos canaviais e dos homens que são os responsáveis por manterem
o canavial em atividade: o trabalhador do engenho. O canavial é
apresentado ao leitor como um personagem vivo, que vai tomando
os espaços naturais, crescendo muito rapidamente e modificando a
paisagem. A cana também é dotada de armas naturais, que maltratam
os trabalhadores de engenho: as folhas são como navalhas.
No plano de expressão da narrativa o canavial é representado
como um mar verde que aprisiona homens, mulheres, crianças e
306
�idosos. Quem olha a partir de um prisma externo, enxerga apenas
as folhas que se mexem com o vento. Quem está ali dentro vê a sua
própria história ligada ao canavial. Podemos observar isso quando
o narrador nos apresenta o personagem principal desta narrativa,
Gregório. Assim mesmo, sem sobrenome. Um homem humilde, analfabeto, envelhecido, que se levanta todos os dias às três horas da
madrugada, pega suas armas e vai para o canavial. É lá que busca o
sustento, a paga que permitirá o acesso ao alimento.
O canavial passa a ser descrito como o antagonista, devido aos
riscos que significa para os trabalhadores. Ele representa o perigo
que o herói vai ter de enfrentar na luta diária. Além da própria cana,
que solta pelos que entram na pele como espinhos, também existem
perigos naturais, como é o caso das cobras escondidas nas touceiras
de cana. Se os espinhos são a representação de um obstáculo conhecido, as cobras são o perigo desconhecido, porque o homem não tem
como prever onde elas estão ou quando o atacarão.
A construção do ambiente pela narrativa inclui os elementos naturais da região e até os sons que inundam o local. Após relatar que
a cana expulsou todos os animais, ocupou espaços que antes eram
tomados por outra vegetação e incluiu os ambientes de convívio do
homem, uma frase descreve o cenário da região: ali “há um mar
verde que, quando ondula batido pelo vento, produz um som seco e
áspero” (Andrade, 1970: 34). Após a apresentação do espaço físico,
tomado pelo canavial, a narrativa se dedica ao personagem, Gregório,
descrito como um ser humano que gosta de sonhar.
A narrativa introduz Gregório durante a madrugada, com ele ainda
deitado. O narrador mescla as informações referentes ao canavial com
dados que traçam as características físicas e sociais daquele espaço.
“Na noite que custava a passar, Gregório olhou à sua volta, medindo
as paredes do quarto: 3 por 2 metros” (Andrade, 1970: 34). Neste
quarto dormem Gregório, sua mulher Dalvanise, Matilde e Madalena,
filhas pequenas. Na sala ainda dormem Severino e Joaquim, também
307
�filhos. Gregório teve sete filhos, dos quais cinco ainda moram com
ele. Quanto às crianças, o mais velho daqueles já foi convocado a
trabalhar como adulto no canavial:
Severino, de oito anos, não ia ao corte de cana naquele dia:
estava com o peito cheio. Cabrinha macho, esse! Com a ajuda
dele, tinha cortado tonelada e meia de cana por dia durante
a semana. Gregório sentiu frio e encolheu o corpo: acha que
é falta de sangue. É por isso que o corpo não se esquenta
(Andrade, 1970: 34).
Ao sair para trabalhar, Gregório pensa na semana seguinte, quando
será lua cheia. Durante estes períodos, quando a noite é bem iluminada, os homens trabalham por mais tempo, recebem mais dinheiro. A narrativa introduz o imaginário do personagem, informando
que é pensando em um presente para Dalvanise que ele dá início
a sua caminhada de oito quilômetros até o local do corte da cana.
Caminhando, ele reflete sobre a influência do canavial sobre a vida
de todos, até dos que ali não residem. O texto busca elementos que
equiparem o trabalhador à cana. Após um dia de trabalho, ambos
tornam-se bagaço, restos. O dono do engenho é representado apenas
pelo seu carro. Assim como as máquinas do engenho, a ‘máquina’ do
dono causa emoções positivas ao trabalhador. Ao ver o carro, o texto
reforça o imaginário do personagem, que se lembra do pagamento
no dia seguinte. Na jornada do herói é um dia especial, porque é
sempre seguido por uma visita ao bar para aliviar a tensão do dia a
dia e esquecer as dificuldades da vida.
Não são homens, mulheres e crianças vivendo onde gostariam.
Estão ali porque não têm outra condição de trabalho. A
alimentação não corresponde ao esforço que despendem: a
farofa e o ‘taquinho’ de bacalhau mal dão para se manterem
308
�de pé. Aguentam-se porque comem a própria cana, que é rica
em glicose e sacarose (Andrade, 1970: 37).
A narrativa jornalística usa recursos metafóricos, falando em luta,
combate, para dramatizar a vida das pessoas, que estão presas a um
destino no qual o caminho é sempre o mesmo: ir para o canavial durante a madrugada e voltar de lá no final da tarde. O canavial é queimado
com o intuito de tornar o corte da cana menos perigoso. Em meio a
todas as dificuldades do ambiente e do contexto, o que sufoca e faz o
homem chorar é a fumaça. Por ser forte e corajoso, não admite para
si mesmo reclamar daquele estilo de vida. Mas o corpo fala mais alto,
no momento em que o força a chorar em meio à fumaça. É a forma
que o sofrimento usa para se expressar. O corpo reclama, expressa
os sentimentos do homem, que não consegue verbalizá-los por medo
de mostrar fraqueza. Com toda a dificuldade, o personagem cumpre a
sua jornada e chega ao alto do morro, vence a batalha diária, derrota
o canavial, consegue seu objetivo inicial. Apesar de ganhar aquela
batalha, o homem arqueja, está ‘morto’, porém de cansaço. Ambos
estão mortos, o homem e a cana, cada um a sua maneira. E o herói
volta a casa para recomeçar tudo outra vez no dia seguinte.
A partir da estrutura do texto, seguindo o personagem ao longo
de um dia de trabalho, os repórteres levam para perto do leitor a
imagem do trabalhador do engenho. A humanização do personagem
permite que o leitor se identifique com ele, compreenda suas aflições
e compartilhe o cenário no qual acontecem as cenas da luta. A reportagem da revista Realidade apresenta sem retoques a dura vida dos
trabalhadores do canavial, esmagados por problemas como falta de
educação, de saúde, explorados como mão de obra barata, vivendo
no limite da sobrevivência. São personagens invisíveis recuperados
pela revista Realidade para relatar como viviam milhões de brasileiros
naquele momento histórico em que o milagre econômico mostrava
um país em desenvolvimento que não incluía todos os seus cidadãos.
309
�A perspetiva adotada aqui é a de encarar o trabalho da revista
Realidade, como da mídia jornalística em geral, como uma prática de
memória, conforme propõe Babo-Lança (2012) que estuda as relações
entre o acontecimento narrado na mídia e a memória coletiva. No
caso da reportagem da revista Realidade aqui analisada, temos um
exercício de memória a partir do acontecimento jornalístico que, embora narrado em 1970, se constituiu como um documento histórico,
e, por isso, detém um duplo valor, de inscrição e de narrativa que
reconstrói o passado. Ao reavivar a memória, o texto reapresenta
os significados construídos nos idos de 1970 e permite reavaliar
sua importância para o presente e para a busca da compreensão do
personagem em estudo, o brasileiro, incorporando-o a uma meta-narrativa cultural que tem raízes profundas.
Considerações finais
Ao colocar em confronto duas narrativas, a ficcional, apresentando
Macunaíma como uma síntese do caráter do brasileiro, e a jornalística, mostrando a dura realidade de um trabalhador de engenho,
esta análise procurou contribuir para a percepção da ambiguidade
que caracteriza o significado de ser brasileiro. Esta dicotomia tem
base em dois princípios que se opõem desde os tempos coloniais. A
reflexão é de Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil,
quando examina no segundo capítulo a diferença entre o trabalho e
a aventura. Holanda (1988) assinala que esses dois princípios regularam diversamente as atividades dos portugueses que participaram da
grande aventura de posse das terras brasileiras no período colonial.
Para o aventureiro, o ideal é colher o fruto sem plantar a
árvore. Vive dos espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos
horizontes distantes. O trabalhador, ao contrário, é aquele
310
�que enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo
a alcançar. (Holanda, 1988:13).
Segundo o autor, o que o português vinha buscar nas terras
do novo mundo era, sem dúvida, a riqueza, mas riqueza que custa
ousadia, não riqueza que custa trabalho. O princípio que, desde os
tempos mais remotos da colonização, norteou a criação da riqueza no
país valia especialmente para a produção agrária “onde todos queriam extrair do solo excessivos benefícios, sem grandes sacrifícios”.
E o autor destaca: “não foi a rigor uma civilização agrícola o que os
portugueses instauraram no Brasil; foi, sem dúvida, uma civilização
de raízes rurais” (Holanda, 1988: 21).
No entanto, se o gosto pela aventura levou os portugueses a se
embrenharem cada vez mais em regiões distantes, alargando a posse
sobre as terras antes fixadas pelo Tratado de Tordesilhas, sem dúvida
foi a necessidade de trabalhar e fazer a terra render seus frutos que
permitiu a fixação agrária. O personagem Gregório, da reportagem
da revista Realidade, é com certeza um retrato dos portugueses que
para o Brasil vieram como colonos, para trabalhar na lavoura da cana
de açúcar. Ele descende dos portugueses, dos índios e também dos
africanos que, juntos, enfrentaram a dura tarefa de trabalhar nos
engenhos. A matriz cultural está presente nesses heróis invisíveis,
que têm a cultura e a ética do trabalho, a fixação na terra apesar das
dificuldades e da miséria reinante. São heróis que também sonham,
mas permanecem presos ao seu canavial, que lhes dá magro sustento.
Vivem alheios às inovações tecnológicas e usam a mesma foice para
cortar a cana que foi usada pelos seus ancestrais.
Como exemplo da outra matriz cultural portuguesa, a da aventura,
temos a narrativa de Macunaíma, o herói que sai para o mundo em
busca de uma pedra mágica, que busca a realização fácil, que apela
para o jeitinho sempre que se vê em dificuldades. Muitas vezes desperta tarde demais dos seus sonhos. Para Da Matta, o jeitinho pode
311
�ser um atalho para realizar mais rápido um desejo. “Que modo é
este?” pergunta Da Matta. E ele mesmo responde: “é, sobretudo, um
modo simpático, desesperado ou humano de relacionar o impessoal
com o pessoal. É um modo pacífico e até mesmo legítimo de resolver
problemas”. (Da Matta, 1986: 99).
Vivendo a realidade da luta pela sobrevivência diária, reproduzida pela reportagem de Realidade, sonhando com a possibilidade de
aventuras em terras brasileiras como as vividas por Macunaíma, o
brasileiro hoje é o protagonista de uma construção identitária que
ainda se divide entre o real e o sonho. Mas, cada vez mais, a realidade
se impõe e o brasileiro vai descobrindo que não existe mágica, nem
Muiraquitã, nem mãe do Mato capaz de transformar as condições de
vida do país, da noite para o dia. É um processo que desmistifica
as narrativas lendárias e leva o personagem a enfrentar a vida com
o trabalho duro que marcou a história do país em quinhentos anos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, J. (1970). O canavial esmaga o homem. São Paulo: Realidade.
ANDRADE, M. (2008). Macunaíma. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
BABO-LANÇA, I. (2012). “Acontecimento e Memória”. In FRANÇA, V. V. e OLIVEIRA,
L. Acontecimento: reverberações. Belo Horizonte: Autêntica.
BARTHES, R. (1971). Análise Estrutural da Narrativa. Petrópolis, R/J: Editora Vozes.
BUARQUE DE HOLANDA, S. (1988). Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio
Editora.
CAMPBELL, J. (2007). O herói de mil faces. São Paulo: Editora Pensamento.
DAMATTA, R. (1986). O que faz o brasil Brasil? Rio de Janeiro: Rocco.
FRANÇA, V. V. (2012). “O acontecimento para além do acontecimento: uma ferramenta heurística”. In FRANÇA, V. V. E OLIVEIRA, L. (Orgs.). Acontecimento:
Reverberações. Belo Horizonte: Autêntica.
GANCHO, C. V. (1991). Como Analisar Narrativas. São Paulo: Editora Ática.
312
�MONTORO, T. e CALDAS, R. (Orgs.) (2006). De olho na imagem. Brasília: Fundação
Astrojildo Pereira e Editorial Abaré.
MOTA, C. M. (Org.) (2012). Narrativas Midiáticas. Florianópolis: Insular.
MOTA, C. M. e ALMEIDA, P. (2014). “Jornalismo e redes sociais: identidade e cidadania”, in Revista eletrônica Eco-Pós. Rio de Janeiro: Editora da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
MOTTA, L. G. (2005). Narratologia: teoria e análise da narrativa jornalística. Brasília:
Casa das Musas.
MOTTA, L. G. (2013). Análise Crítica da Narrativa. Brasília: Editora Universidade
de Brasília.
MOUILLAUD, M.; PORTO, S. (Org.) (2012). O jornal: da forma ao sentido. 3ª. ed.
Brasília: Editora Universidade de Brasília.
ORTIZ, R. (1987). Cultura brasileira e identidade nacional. 3.ª Ed., São Paulo: Editora
Brasiliense.
PROPP, V.; MELETINSKII, E. M. (1970). Morphologie du conte: suivi de Les transformations des contes merveilleux et de L’estude structurale et typologique du
conte. Paris: Seuil.
QUÉRÉ, L. (2005). “Entre facto e sentido: a dualidade do acontecimento”, in Trajectos:
revista de Comunicação, Cultura e Educação. Lisboa, n.6, pp.59-76.
QUÉRÉ, L. (2012). “A dupla vida do acontecimento: por um realismo pragmatista”,
in FRANÇA, V. V. E OLIVEIRA, L. (Orgs.). Acontecimento: Reverberações. Belo
Horizonte: Autêntica.
RICOEUR, P. (1994). Tempo e Narrativa. Campinas: Editora Papirus.
RICOEUR, P. (2014). A Memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora
Unicamp.
RODRIGUES, A. D. (1993). “O Acontecimento”, in TRAQUINA, N. (Org.) Jornalismo:
questões, teorias e “estórias”. Lisboa: Vega.
SODRÉ, M. (2009). A narração do fato. Petrópolis: Editora Vozes.
313
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�A NARRATIVA NOS MEDIA DIGITAIS
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�ERA PÓS-PC:
A NOVA TESSITURA DA NARRATIVA
JORNALÍSTICA NA WEB
João Canavilhas
Universidade da Beira Interior / Labcom.IFP
Alciane Baccin
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ivan Satuf
Universidade da Beira Interior/ Labcom.IFP
Introdução
A popularização dos dispositivos móveis de comunicação ligados a redes de alta velocidade alterou a forma como se faz e
consome informação jornalística. Neste trabalho analisam-se as
novas narrativas desenvolvidas para dispositivos móveis, tendo
como referências as noções de “tessitura da narrativa” e de “ecossistema mediático”.
Se em Portugal a palavra tessitura está associada à música, sendo
utilizada para descrever a organização entre os elementos de uma
composição, no Brasil refere-se ao ato de produzir tapeçaria numa
tela ou o resultado final deste trabalho.
317
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_12
�Embora aplicada em campos diferentes, há um denominador comum
aos dois significados – as ligações – por isso pode dizer-se que a tessitura, quando aplicada à narrativa, se refere ao conjunto de ações que
ligam elementos num determinado suporte. Numa perspetiva histórica,
o jornalismo online sempre esteve vinculado ao computador pessoal
(PC). Os conteúdos eram desenvolvidos tendo em consideração os seus
limites e potencialidades, mas também as condições de receção que eram
razoavelmente conhecidas em termos de espaço e tempo de consumo.
A emergência dos dispositivos móveis fez o termo “online” deixar de ser sinónimo de PC. A narrativa deixou de estar confinada a
um suporte específico e espalhou-se por outras plataformas, como
smartphones, tablets ou relógios inteligentes, que reconfiguraram as
relações espácio-temporais. Esta mudança obriga a pensar em mudanças estruturais na narrativa e na forma como ela se reconfigura
dentro de um novo ecossistema mediático. As alterações impõem a
necessidade de procurar novas categorias para pensar a narrativa jornalística online num ambiente marcado pela diversidade de suportes.
Com essa finalidade, este trabalho organiza-se em quatro partes.
As duas primeiras apresentam a perspetiva ecossistémica dos meios
de comunicação e a forma como a evolução do jornalismo na web
acompanhou o surgimento de novos elementos tecnológicos. A terceira
parte analisa o conceito de tessitura da narrativa para propor a sua
integração na nova realidade comunicacional. A última parte apresenta cinco categorias associadas à narrativa online contemporânea:
base-de-dados, continuum multimédia, contextualização, imersão e
paralaxe/verticalização.
Transformações no ecossistema mediático
A popularização dos computadores pessoais, juntamente com a emergência da World Wide Web nos anos 1990, expandiram a comunicação
318
�online para além dos círculos restritos de especialistas. Gradualmente,
a internet passou a fazer parte do quotidiano das pessoas comuns,
quer no ambiente doméstico quer no local de trabalho.
No período inicial de expansão da web, todos os conceitos estavam
fortemente vinculados aos PC: expressões como “interação mediada
por computador” ou “comunicação mediada por computador” passaram a ser utilizadas com frequência nos debates sobre as novas
práticas sociais (Turkle, 1995; Primo, 2007). A transição entre a vida
“on” e “offline” só era possível com o uso do computador pessoal,
uma máquina geralmente composta pela integração de CPU120, monitor, teclado e rato.
A expansão das redes wi-fi de alta velocidade e o surgimento de
dispositivos móveis de comunicação alterou decisivamente o panorama
da internet no decorrer da primeira década do século XXI. Estes novos
aparelhos, com dimensões reduzidas e capacidades computacionais,
quebraram a tradicional ligação do consumo online a espaços pré-estabelecidos onde geralmente se colocava o computador pessoal. Hoje
não é preciso ter um PC para aceder à Internet e distribuir informação
online. Smartphones e tablets criaram um ambiente imersivo que esbate
as fronteiras entre o online e o offline. As barreiras tendem a desaparecer numa era em que os meios são ubíquos e estão permanentemente
ligados à rede (Deuze, 2012), e a ubiquidade tornou-se mesmo num
conceito-chave para entender a comunicação numa era em que as tecnologias estão omnipresentes e facilitam a mobilidade do consumidor.
Neste contexto, vale a pena referir a “falácia da caixa-preta”:
segundo Jenkins (2006), todo o fluxo mediático passa por um só
dispositivo capaz de substituir todos os restantes meios de comunicação. Esta falácia, inicialmente associada aos computadores, está
hoje cada vez mais associada às tecnologias móveis, principalmente
CPU é a sigla em inglês para Central Processing Unit ou Unidade Central de Processamento, em português.
120
319
�aos smartphones. O erro central está no facto de analisar a inovação
na perspetiva da substituição, considerando que os novos meios
integram as funções dos seus antecessores e, por consequência,
aniquilam os velhos media.
O desenvolvimento tecnológico não pode ser compreendido como
um processo linear caracterizado pela mera substituição de um meio
de comunicação por outro, mas como uma intensificação das interações entre meios. Nesta perspetiva, as diferentes formas mediáticas
estabelecem relações entre si e a sua adaptação aos novos cenários
comunicacionais é uma condição fundamental para a sua sobrevivência. Fidler (1997: 29) recorre às noções de “coexistência e “coevolução”
para descrever um complexo sistema adaptativo no qual “à medida
que novas formas emergem e se desenvolvem, influenciam, com o
passar do tempo e em variados graus, o desenvolvimento de todas
as outras formas existentes”121.
Bolter e Grusin (2000) desenvolveram o conceito de “remediação”
como resposta à abordagem linear do desenvolvimento das tecnologias de comunicação. “O que há de novo sobre os novos meios de
comunicação vem das maneiras específicas como estes remodelam
os media mais antigos e das maneiras como os media mais antigos se remodelam para responder aos desafios dos novos media”122
(Bolter & Grusin, 2000: 15). Scolari (2013) chama a este processo
“simulação”, sublinhando que, enquanto o novo meio tenta criar o
seu próprio nicho, o meio antigo luta para sobreviver, usando ambos
a mesma estratégia: imitar (ou simular) as características dos meios
que o rodeiam.
Original: “As each new form emerges and develops, it influences, over time and
to varying degrees, the development of every other existing form.”
121
Original: What is new about new media comes from the particular ways in which
they refashion older media and the ways in which older media refashion themselves
to answer the challenges of new media.”
122
320
�Coexistência, coevolução, remediação e simulação são conceitos
que têm uma estreita relação com a Medium Theory, corrente que
influenciou os estudos comunicacionais a partir dos anos 1950 e
cujos principais expoentes foram Harold Innis e Marshall McLuhan
(Meyrowitz, 1994). Innis (2011) propõe uma abordagem “concorrencial” entre os suportes de comunicação que permite observar a intrincada relação entre o substrato físico de cada meio e a perspetiva
comunicacional responsável por influenciar a forma como as pessoas
comunicam. Defender que os meios concorrem uns com os outros
significa assumir a perspetiva relacional em detrimento de modelos
de análise que tendem a tratar cada tecnologia de comunicação como
uma forma única e alheia ao que o rodeia.
McLuhan (1990: 71) segue o mesmo raciocínio, mas em vez de
concorrência, preferiu usar o termo “hibridização”, processo em que
“todos os meios andam aos pares, um atuando como ‘conteúdo’ do
outro”. O cinema, por exemplo, não é um meio autónomo, pois meios
anteriores, como a literatura, o teatro e a música, agem como seus
conteúdos. Se os meios de comunicação, de facto, funcionam como
um sistema de acoplagem, os estudos em comunicação devem optar
pela lógica da interdependência dos meios em vez de promoverem
análises isoladas.
Neil Postman seguiu a linha de raciocínio de Innis e McLuhan para
fundar as bases sobre as quais se ergueu o campo conhecido como
Media Ecology. As formulações iniciais estimularam a compreensão
das tecnologias comunicacionais a partir da metáfora ecológica importada da biologia. Assim, os meios em constante interação formam
um “ecossistema mediático” complexo e em constante transformação. Cada novo meio é descrito como uma “espécie” emergente que
se relaciona com outras formas – novas e antigas – numa tentativa
conjunta de reestabelecer o equilíbrio de todo o sistema.
A comunicação contemporânea é marcada, portanto, pela divergência do hardware e a simultânea convergência dos conteúdos (Jenkins,
321
�2006), ou seja, há mais aparelhos que servem como pontos de passagem nas trocas comunicacionais e a vida online é marcada pela manipulação constante das diferentes tecnologias de conexão. Canavilhas
(2011) sugere que os conteúdos devem ter em consideração um elevado
grau de contextualização resultante da personalização do consumo e
da mobilidade, capacidade proporcionada pelas redes digitais.
As duas mudanças principais nos fatores contextuais são uma
consequência da entrada da internet e dos dispositivos móveis
no ecossistema mediático: falamos da individualização do
consumo e da mobilidade. Através de computadores pessoais,
plataformas de jogos, PDA ou telefones móveis, os consumidores mudaram os seus padrões de consumo mediático, que
passaram de contextos grupais a contextos individuais, e de
espaços pré-determinados a qualquer lugar onde há uma rede
móvel.123 (Canavilhas, 2011: 19).
Neste novo ambiente fortemente marcado pela ubiquidade, mobilidade e consumo individual, consequência da popularização dos
dispositivos móveis ligados a redes de alta velocidade, o surgimento
de novas narrativas online acaba por ser uma consequência natural.
Evolução da narrativa jornalística na web
Há mais de 20 anos, momento em que o jornalismo começou a crescer na internet, surgiu um desafio: como consolidar um novo meio que
Original: “Los dos cambios principales en los factores contextuales son una consecuencia de la entrada de Internet y de los móviles en el ecosistema mediático: hablamos
de la individualización del consumo y de la movilidad. A través de ordenadores personales, plataformas de juegos, PDAs o teléfonos móviles, los consumidores cambiaron
sus patrones de consumo mediático, que han pasado de contextos grupales a contextos
individuales, y de espacios predeterminados a cualquier lugar donde haya una red móvil.”
123
322
�parecia juntar os meios anteriores? As primeiras iniciativas jornalísticas
na internet não trouxeram nenhuma novidade, mas a dinâmica própria
da web não tardou: desde maio de 1993, momento em que apareceu
o primeiro jornal com versão online (San Jose Mercury News)124 até
ao atentado contra as Torres Gémeas, em 11 de setembro de 2001,
passaram menos de 10 anos, mas foi o suficiente para o jornalismo
se estabelecer definitivamente no ambiente web (Katz, 2001; Zelizer,
Allan, 2002; Ferrari, 2003; Malini, 2009; Migowski, 2013).
Ao longo das últimas décadas, o jornalismo na web tem estado
em constante transformação nos campos da produção, distribuição e
consumo. Dentro da produção, este trabalho centra-se especificamente
nas adaptações verificadas no campo da narrativa jornalística. Desde
os primeiros anos, são muitas as etapas percorridas pelo jornalismo
na Web na tentativa de desenvolver produtos adequados ao meio,
procurando desta forma comunicar de maneira mais eficiente com o
público. Essas etapas foram estudadas por vários investigadores como
Cabrera Gonzalez (2000), Pavlik125 (2005), Pryor126 (2002), Palacios
(2002), Mielniczuk (2003), Barbosa (2007, 2013) que procuraram traçar
um percurso do jornalismo na web. Embora com algumas diferenças
de pormenor, as propostas têm muitos pontos em comum: neste trabalho parte-se da proposta de três gerações do jornalismo na web
O autor admite que outros jornais possam ter surgido antes na internet, mas o
San Jose Mercury News foi o primeiro a colocar todo o conteúdo da edição online.
124
John Pavlik (2005) propõe uma sistematização em três fases do jornalismo na
web, tendo como foco a produção de conteúdos. Na primeira, predominam os sites
jornalísticos que publicam material editorial produzido para outros meios, os quais
o autor denomina de “modelo-mãe”. Na segunda fase, dá ênfase aos conteúdos originais produzidos para o online, com o uso de links. Já a terceira fase caracteriza-se
pela produção de conteúdos noticiosos originais e que utilizam recursos multimédia,
pensados e desenvolvidos especificamente para o novo meio – a web, proporcionando
o jornalismo contextualizado no qual se experimentam novas formas de storytelling.
125
Pryor (2002) destaca a existência de três vagas: a primeira vaga (a partir de 1982)
caracteriza-se pela utilização do videotexto para a disseminação de informações;
a segunda (1993) com o surgimento da web e dos primeiros fornecedores de acesso
à Internet (ISP); a terceira (2001) distingue-se pelo desenvolvimento, especialização
e sofisticação das empresas, da tecnologia disponível e dos profissionais.
126
323
�elaborada por Mielniczuk (2003), acrescentando-se as duas propostas
por Barbosa (2007, 2013).
Primeira Geração (fase da transposição): o conteúdo jornalístico dos webjornais é uma cópia do conteúdo do jornal em papel.
A publicação segue a lógica do impresso, com atualização a cada 24
horas. Para Mielniczuk (2003: 32), foi “muito interessante observar
as primeiras experiências realizadas: o que era chamado então de
‘jornal online’, na web, não passava da transposição de uma ou duas
das principais matérias de algumas editorias”. Como nesta fase não
há nenhuma preocupação em explorar as potencialidades do novo
meio, o modelo narrativo é igual ao do jornalismo impresso: a única
preocupação é ter uma presença no ambiente web.
Segunda Geração (fase da metáfora): os produtos ainda lembram o jornalismo impresso, mas começam a surgir experiências
hipertextuais e atualizações mais frequentes, afastando-se assim do
modelo de 24 horas do papel. Mielniczuk (2003) também se refere
ao uso do correio eletrónico como possibilidade de interação entre
jornalistas e leitores e de chats ou fóruns de debates para interação
entre os próprios leitores. Segundo a autora, “ao mesmo tempo em
que se ancoram no modelo do jornal impresso, as publicações para
a web começam a explorar as potencialidades do novo ambiente, tais
como links com chamadas para notícias de factos que acontecem no
período entre as edições” (Mielniczuk, 2003: 34).
Terceira Geração (fase do webjornalismo): as potencialidades
do jornalismo na web começam a ser exploradas de maneira mais
efetiva, em parte graças à melhoria das condições tecnológicas para
produção e disseminação dos conteúdos jornalísticos. Inicia-se um
período em que as instituições jornalísticas vislumbram a possibilidade de oferecerem um produto diferente do que é oferecido pelo
impresso. De acordo com Mielniczuk (2003: 36), “nos produtos jornalísticos dessa etapa, é possível observar tentativas de, efetivamente,
explorar e aplicar as potencialidades oferecidas pela web para fins
324
�jornalísticos”. Nesta geração surgem novas narrativas jornalísticas
graças ao aproveitamento de características do jornalismo na web,
como a multimedialidade, a interatividade, a hipertextualidade, a
atualização contínua, a memória e a personalização (Bardoel & Deuze,
2001; Palacios, 2002; Canavilhas, 2014).
Quarta Geração (fase Jornalismo Digital em Bases-de-Dados):
o desenvolvimento do jornalismo na web assenta na exploração das
bases-de-dados, que passam a influenciar o processo jornalístico na
produção, edição, formato de produtos, construção de narrativas hipermédia, experimentação com novos géneros jornalísticos e visualização das informações. Segundo Barbosa, o recurso às bases-de-dados
condicionou sempre a inovação “seja atendendo aos propósitos de
armazenamento das informações para recuperação e compartilhamento
(…) seja para atender às necessidades colocadas para a publicação das
edições digitais dos jornais.” (Barbosa, 2007: 124)
Estas possibilidades de utilização das bases-de-dados também
foram salientadas por Manovich (2006): segundo o autor, são elas
que sustentam a construção de narrativas diversificadas no ambiente
digital. É ainda nesta geração que a utilização das bases-de-dados
apresenta convergência nos modelos narrativos e que as inovações
tecnológicas, tanto na produção como na distribuição dos conteúdos jornalísticos, proporcionam o aparecimento de “formatos e/ou
géneros emergentes próprios do meio digital” (Larrondo, Mielniczuk
& Barbosa, 2008).
Quinta Geração (fase da medialidade127 e das bases-de-dados):
as bases-de-dados tornam-se ainda mais presentes no processo de
estruturação do jornalismo na web e na convergência dos meios.
O Jornalismo Guiado por Dados ou Data Journalism (Barbosa &
Torres, 2013) e os meios móveis surgem como agentes impulsionadores da inovação, “no qual a emergência dos chamados aplicativos
127
Centralidade dos meios na comunicação e nas experiências humanas.
325
�jornalísticos autóctones para tablets são produtos paradigmáticos”
(Barbosa, 2013). As características do paradigma do jornalismo de
bases-de-dados são a medialidade (pela via da convergência), horizontalidade (no processamento dos fluxos de informações entre
as plataformas), continuum multimédia (integração de processos e
produtos), meios móveis, aplicações (apps) e produtos autóctones.
Pelo menos 5 das mais de 20 funcionalidades das bases-de-dados
referem-se às narrativas jornalísticas:
1) integrar os processos de apuração, composição, documentação e edição dos conteúdos; 2) orientar e apoiar o processo
de apuração, coleta, e contextualização dos conteúdos; 3)
regular o sistema de categorização e qualificação das distintas
fontes jornalísticas, indicando a relevância delas; 4) habilitar
o uso de metadados para análise de informações e extração
de conhecimento, por meio de técnicas estatísticas ou métodos de visualização e exploração como o data mining7.
Também assegurando a aplicação da técnica do tagging8; e
5) garantir a flexibilidade combinatória e o relacionamento
entre os conteúdos (Barbosa & Torres, 2013: 154).
A massificação dos dispositivos móveis gerou um novo processo de
compreensão jornalística, isto é, os tablets e smartphones obrigaram a
uma reconfiguração dos processos jornalísticos nas redes digitais. Para
Barbosa (2013: 33), “o cenário atual é de atuação conjunta, integrada,
entre os meios, conformando processos e produtos” e os bancos de
dados, a medialidade e o continuum multimédia passam a ser determinantes e reconfiguradores das formas de narrar no jornalismo online.
As sistematizações propostas por Mielniczuk (2003) – da primeira à terceira geração – e por Barbosa (2007, 2013) – na quarta e na
quinta gerações – podem coexistir num mesmo site jornalístico, pois
não se referem a processos datados e estanques.
326
�Tecendo a estrutura da narrativa jornalística na web
A analogia entre o “ato de tecer um tecido” e a “tessitura da
narrativa jornalística” foi feita anteriormente pelos investigadores
Cremilda Medina e Paulo Roberto Leandro num livro de 1973 intitulado
“A arte de tecer o presente: jornalismo interpretativo”. Ao discutirem
uma teoria da interpretação, os autores salientam que não basta informar, é preciso contextualizar. A simplificação do ato de informar
pode transformar o jornalismo num mero ato burocrático pelo que
só a contextualização permite uma narrativa criativa e inovadora.
Mas como ocorre essa tessitura da narrativa jornalística neste novo
ecossistema marcado pela mobilidade e pela ubiquidade?
Considerando-se que a tessitura da narrativa se refere ao conjunto
de ações que ligam vários elementos, construindo um tecido narrativo
entre os suportes, pretende-se demonstrar que o jornalismo na web
tem criado formas inovadoras para aproveitar as possibilidades que
os novos meios proporcionam aos jornalistas.
Tal como foi anteriormente referido, o jornalismo na web começou
por estar ligado ao computador. Por isso, a tessitura da narrativa
nas primeiras gerações do jornalismo na web foi pensada dentro
dos limites impostos pelos computadores pessoais, fossem eles portáteis ou de secretária. Considerando a emergência de um novo
ecossistema mediático, e as características detalhadas por Barbosa
(2013) na quinta geração do jornalismo na web, coloca-se o desafio
da superação, isto é, de pensar a tessitura sobre uma trama que se
adapte aos dispositivos móveis.
Antes disso é preciso refletir sobre o momento em que ocorreram as
mudanças na estrutura da narrativa jornalística na web. É justamente na
terceira geração do jornalismo na web (Mielniczuk, 2003) que o hipertexto passa a ser um elemento preponderante na construção da notícia,
tornando-se no elemento central da narrativa. Essa geração coincide
com a terceira fase do jornalismo na web identificada igualmente por
327
�Pavlik (2005) e Cabrera Gonzalez (2000), destacando-se a importância
das experimentações com novas formas de narrar factos (storytelling).
Este momento é marcante porque até esse momento usava-se a narrativa
da imprensa tradicional resumida a “textos que informam, mas não
empolgam, muito menos motivam. Não mobilizam a adesão e participação dos leitores ou conseguem resultados pífios” (Lima, 2014: 123).
Esta transposição de conteúdos do impresso, o chamado shovelware,
é apontado ainda hoje como uma das razões para a crise do jornalismo, ao ter causado um empobrecimento da narrativa e frustrado as
expectativas dos leitores em relação ao potencial do meio (Neveu, 2014).
Com o hipertexto abriram-se novas possibilidades de inovação
narrativa para o jornalismo feito na web. A hipertextualidade (Landow,
1997, 2009; Mielniczuk, 2003; Canavilhas, 2014b; Mielniczuk et al.,
2015) é uma das características fundamentais na exploração do potencial oferecido pela web. Ao proporcionar a ligação entre blocos
de informações por meio de links, o hipertexto permite ao utilizador um consumo noticioso personalizado com um simples clique.
Este poder conferido ao utilizador desencadeia ações que permitem
uma maior e mais profunda interação com a plataforma. A hipertextualidade, em conjunto com a multimedialidade e a interatividade,
facilitam a produção de narrativas convergentes e imersivas que,
aliadas à memória e à personalização, permitem ainda incrementar
a contextualização dos factos, valorizando elementos que fortalecem
as narrativas de aprofundamento
Investigadores de diversas áreas, como as artes (Manovich, 2006),
a literatura (Murray, 2003; Ryan, 2004), o entretenimento ( Jenkins,
2006) ou os jogos (Brown, Cairns, 2004), defendem a necessidade
de se criarem estórias utilizando meios diferenciados e tecnologias
contemporâneas. No jornalismo estas iniciativas têm sido desenvolvidas a título experimental, algumas das quais com grande êxito. É
o caso da reportagem “Snow Fall” do The New York Times, publicada
em 2012, que foi considerada um modelo desta estrutura narrativa
328
�pela estória relatada, mas sobretudo porque as modalidades comunicativas128 (Canavilhas & Baccin, 2015) foram bem integradas na
narrativa e contribuíram para a contextualização do acontecimento. O sucesso foi tão grande que os jornalistas norte-americanos,
quando na posse de uma boa estória, passaram a perguntar: can we
“snowfall” this? (Dowling & Vogan, 2014; Sullivan, 2013). Canavilhas
(2014a) faz uma análise de 1155 comentários dos leitores de Snow
Fall e constata que 798 fazem referência às características da reportagem, destes 98% avaliaram positivamente o trabalho e destacaram
a qualidade e originalidade da narrativa multimediática. “Mais do
que uma metamorfose ou uma remediação, este trabalho é um bom
exemplo de diferenciação do webjornalismo em relação aos jornalismos dos meios anteriores, sendo bem visíveis alguns elementos de
rutura” (Canavilhas, 2014 a: 126). Os elementos que causaram uma
rutura com os modelos narrativos anteriores foram a verticalização
da narrativa, a autonomização do vídeo em formato sincrónico e a
forma como os conteúdos multimédia são integrados no texto. No
entanto, o autor sublinha que esta linguagem se aplica sobretudo a
géneros longos, como a reportagem. O jornalismo long form (Sharp,
2013; Longhi, 2014, 2015; Tenore, 2014) é uma evolução da narrativa
jornalística web e com ela “surge um ponto de virada em relação aos
produtos na forma de especiais multimídia que dominaram até então,
nos quais o texto, geralmente longo, era tratado e disponibilizado
na forma de fragmentos” (Longhi, 2014: 912). A autora acrescenta
que o jornalismo long form também se caracteriza por narrativas
textuais mais consistentes e formas inovadoras relativas ao design,
à navegação e à imersão do utilizador.
“Por modalidades comunicativas entendem-se todos os recursos utilizados para
facilitar e melhorar a compreensão dos acontecimentos relatados nas reportagens,
podendo ser texto escrito, áudio, vídeo, fotografias, animações ou infográficos” (Canavilhas & Baccin, 2015). Esta expressão, adaptada da obra de John Pavlik (2005),
salienta que o relato interativo inclui uma ampla gama de modalidades de comunicação, como o texto, as imagens, os vídeos e os gráficos.
128
329
�As potencialidades do tecido hipernarrativo
No atual ecossistema mediático, a narrativa jornalística deve assumir formas inovadoras e explorar todas as suas potencialidades.
Numa sociedade complexa, os acontecimentos não se desenrolam de
maneira isolada e, por isso, requerem narrativas ampliadas, rigorosas
e contrastadas que só encontram resposta num “jornalismo sistema”:
apostar em um jornalismo sistema é desenvolver um jornalismo
que não desuna os acontecimentos; que os contemple e os
articule em um contexto determinado e que estabeleça uma
gama de interações com os recetores que possa contribuir
com a construção do sentido e a compreensão da realidade
(Fontcuberta & Borrat, 2006: 41).
De acordo com este modelo de jornalismo, a hipernarrativa129 no
webjornalismo de quinta geração procura ligar os conteúdos, articulá-los e explicá-los, integrando os factos num determinado contexto
que facilita a sua compreensão. A hipernarrativa tem suficiente flexibilidade para estabelecer variações no desenho da informação sem
que se percam os significados. Por isso, neste trabalho é analisada
a construção da hipernarrativa e são destacadas algumas potencialidades que ela apresenta, nomeadamente bases-de-dados, continuum
multimédia, contextualização, imersão e verticalização.
Bases-de-dados: Segundo Barbosa (2004), são entendidas como
uma metáfora do jornalismo da web, pois elas representam a forma cultural simbólica que diferencia o online do impresso. Neste
Para Manovich (2006), as bases-de-dados são responsáveis por uma nova definição
de narrativa, a hipernarrativa, que resulta da soma das trajetórias efetuadas através
das bases-de-dados. Adota-se este termo porque se identifica a base-de-dados como
uma potencialidade da narrativa no ambiente online.
129
330
�trabalho usa-se igualmente esta potencialidade como metáfora de
um jornalismo caracterizado pela organização complexa que inclui
os processos de armazenamento, disponibilização, apresentação e
consulta dinâmica da informação. A utilização de bases-de-dados e
de modelos inovadores de visualização da informação possibilita o
surgimento de novas formas de narrar os factos e de formatos noticiosos mais dinâmicos. Para Machado, a “narrativa, em vez de uma
sucessão de ações, configura-se cada vez mais como uma viagem
através do espaço constituído pelos conjuntos estruturados de itens
organizados na forma base de dados e torna-se um conjunto contínuo de ações narrativas e explorações” (2006: 50). De acordo com o
autor, o fluxo dos novos modelos de narrativa jornalística incorpora
e depende diretamente da intervenção do utilizador/leitor.
Bradshaw (2012) procurar diferenciar o jornalismo de dados (data
journalism) do jornalismo tradicional. Segundo este autor, a resposta pode estar nas novas possibilidades resultantes da união entre o
tradicional «faro jornalístico» e a capacidade de contar uma estória
envolvente recorrendo aos muitos dados existentes sobre cada tema.
Um bom exemplo do recurso às bases-de-dados é a reportagem
“Bicho de Sete Cabeças130” (Fig. 1), da Agência Pública, publicada
em 16 de abril de 2014. A reportagem refere-se às transferências
de recursos federais para a educação nas cidades que receberam
jogos do Campeonato Mundial de Futebol no Brasil, em 2014. De
acordo com os jornalistas, que tiveram acesso aos dados da Matriz
de Responsabilidades do “Ministério do Esporte” e ao “Portal da
Transparência”, mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU),
os números dos dois órgãos Federais são divergentes. Na reportagem, as bases-de-dados fornecem informação para a reportagem e
contribuem para a estrutura da narrativa, pois os leitores podem ter
acesso direto aos dados. A reportagem descobriu que não existe uma
130
http://apublica.org/2014/04/bicho-de-sete-cabecas/
331
�Fig. 1 – Exemplo da potencialidade “bases-de-dados” na narrativa
Fonte: http://apublica.org/2014/04/bicho-de-sete-cabecas/
base-de-dados única nem uma norma nacional para contabilizar as
transferências de verbas Federais para educação. O trabalho mostra a
saga que é encontrar dados fidedignos e a dificuldade para entender
este “bicho de sete cabeças”.
Contextualização: Os meios online têm um grande potencial de
contextualização ao possibilitarem o aprofundamento do tema e o
estabelecimento de relações entre temáticas, por não terem limites
de tempo/espaço. De acordo com Pavlik (2005), o jornalismo contextualizado reúne cinco aspetos: a) a ampliação das modalidades
de comunicação (texto, áudio, vídeo, fotos, gráficos, animação); b)
o hipermédia (que permite situar a notícia em contextos históricos, políticos e culturais muito mais ricos); c) a participação cada
vez maior dos leitores/utilizadores, que necessitam interagir com
332
�a máquina (“uma das maneiras de aumentar a participação é o
relato imersivo131”) (Pavlik, 2005: 48); d) os conteúdos mais dinâmicos (conteúdos informativos mais fluidos); e) a personalização
da informação (cada leitor/utilizador pode filtrar a informação que
quiser e ampliar as informações que a reportagem lhe oferece). No
webjornalismo, “todas as modalidades da comunicação humana se
encontram à nossa disposição para contar estórias da forma mais
atrativa, interativa e o mais possível de acordo com seu pedido132 ”
(Pavlik, 2005: 44).
De acordo com os cinco aspetos apontados pelo autor, a contextualização só é possível graças às bases-de-dados que permitem a
ampliação das modalidades de comunicação, o hipermédia, a participação de leitores/utilizadores, os conteúdos informativos mais
fluidos e a personalização da informação. Outra grande contribuição
das bases-de-dados para a contextualização é a possibilidade de
memória, que torna possível a integração de outros produtos jornalísticos ou documentos.
Vários aspetos do jornalismo contextualizado podem ser identificados na reportagem “The new cold war” (Fig. 2) sobre a exploração de
petróleo no Alaska, publicada no jornal The Guardian, em junho de
2015. O trabalho utiliza todas as modalidades comunicativas (texto,
vídeo, áudio, fotografias, infográficos), situa a informação no texto
social, ambiental e político, o relato é imersivo e os conteúdos são
fluidos e dinâmicos. A reportagem aborda a concessão dada pelo
governo norte-americano à Shell para explorar uma das maiores
reservas de petróleo do mundo, as consequências ambientais e a
possível extinção da população local.
131
Original: “Una de las maneras para aumentar la participación es el relato inmersivo”.
Original: “todas las modalidades de la comunicación humana se encuentran a
nuestra disposición para contar las historias más atractiva, interactiva, a petición y
a medida posible”.
132
333
�Fig. 2 – Exemplo da potencialidade “contextualização” na narrativa
Fonte: http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/
2015/jun/16/drilling-oil-gas-arctic-alaska
Imersão: A imersão relaciona-se com a contextualização porque
é ela que permite a sensação de estar imerso. Com a humanização
das narrativas, o leitor é convidado para uma imersão que pode ocorrer em vários sentidos (simbólica, psicológica, racional, emocional).
O leitor “é estimulado a captar a realidade e senti-la, porque o grande
propósito condutor é dar-lhe elementos para compreender a situação
abordada de uma maneira muito mais rica e infinitamente menos
rasa do que o texto meramente informativo é capaz de oferecer”
(Lima, 2014: 121).
A partir do conceito de imersão nos jogos, Nonny de la Peña
(2010) acredita que o jornalismo de imersão é um novo género que
utiliza plataformas de jogos e ambientes virtuais para transmitir
334
�Fig. 3 – Exemplo da potencialidade “imersão” na narrativa
Fonte: www.clarin.com/la-sala
notícias, documentários e estórias de não-ficção. “A ideia fundamental do jornalismo de imersão é possibilitar que o usuário
realmente entre no cenário que praticamente recria a notícia e a
experimente” (Mielniczuk, 2015: 134).
Um exemplo de imersão é a reportagem “La sala del juicio” (Fig. 3),
publicada em dezembro de 2010 pelo jornal argentino El Clarín.
A reportagem reconstrói virtualmente, 25 anos depois, o histórico
julgamento dos militares envolvidos na ditadura argentina. O leitor
da reportagem pode movimentar-se dentro da sala do tribunal, escolher qual o ângulo de visão da sala, clicar nas imagens de cada
personagem do julgamento para obter mais informações e ainda
selecionar sons sobre os depoimentos.
335
�Fig. 4 – Exemplo da potencialidade “continuum multimédia” na narrativa
Fonte: http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/folhacoptero/
336
�Continuum multimédia: A quinta geração do jornalismo digital
desenvolve-se num cenário de convergência jornalística, no qual “a
lógica não é de dependência, competição ou de oposição entre os
meios e seus conteúdos em diferentes suportes, característica de
etapas anteriores do jornalismo” (Barbosa, 2013: 33). A convergência
possibilita o continuum multimédia, pois é por meio dela que a narrativa se expande nos vários meios, possibilitando uma melhor compreensão do contexto narrativo. Os vários meios atuam em conjunto,
integrando processos e produtos nos quais os fluxos de produção,
edição e distribuição dos conteúdos são horizontais e expansíveis.
O jornal Folha de S. Paulo criou, em 2013, o “Folhacóptero” (Fig. 4)
para explicar a construção da usina de Belo Monte, no Estado do Pará
(Brasil). Na reportagem existe um ícone que permite fazer o download
da aplicação e voar sobre a informação. Depois dessa reportagem, que
foi a primeira da série “Tudo Sobre”, a Folha já utilizou esta técnica
noutras narrativas jornalísticas. A aplicação permite uma imersão
mais profunda na narrativa, transportando o leitor/utilizador para
o ambiente da reportagem. Neste caso, a imersão é potencializada
pelo continuum multimédia.
Paralaxe/Verticalização: Até à publicação de Snow Fall, o design e a estrutura visual das narrativas seguiam a lógica dos meios
anteriores, com a justaposição de textos, imagens e sons e seções
fragmentadas. Snow Fall inova com a introdução da verticalização
da narrativa. De acordo com Barbosa, Normande e Almeida (2014:
11), “podemos verificar uma grande diferenciação das narrativas até
então publicadas na web: a dimensão das páginas a partir do design
verticalizado, mais comum nos produtos autóctones, com aproximadamente 604 pixels de altura”. Canavilhas (2014 a) alarga a discussão desta potencialidade para lá da simples arquitetura da notícia,
chamando “reportagem paralaxe” às narrativas que, para além de
utilizarem a tecnologia parallax scrolling, apresentam “navegação
337
�Fig. 5 – Exemplo da potencialidade paralaxe/verticalização da narrativa
Fonte: http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/uma-decada-apos-o-fim-dos-sete-palmos-de-terra-que-morte-e-esta-1697938
verticalizada e intuitiva, em conjunto com a plena integração de conteúdos multimédia” tornando “a leitura mais imersiva e envolvente,
não requerendo ao utilizador conhecimentos de informática muito
profundos” (2014a: 123).
Essa potencialidade rompe com um modelo até aqui convencional
nas narrativas web e imprime um design pensado para os dispositivos
móveis. O modelo paralaxe/vertical passou a ser adotado por jornais
de todo o mundo, que encontraram em Snow Fall um exemplo a ser
seguido. Barbosa, Normande e Almeida acrescentam ainda que “a
inovação trazida, inicialmente, por ‘Snow Fall’ e, posteriormente, pelas
narrativas que se seguiram resulta do emprego das bases de dados e
de suas funcionalidades no jornalismo em redes digitais” (2014: 17).
A narrativa paralaxe/vertical tornou-se num formato modelo
para grandes reportagens. O jornal Público utiliza-o para abordar
temas variados: na reportagem sobre os 10 anos de encerramento da série da HBO, “Sete Palmos de Terra”, o jornal publicou a
reportagem “Os cadáveres da nossa televisão” (Fig. 5), abordando
338
�as mortes que aconteceram no final da série e relembrando partes
emocionantes dos episódios. A narrativa é totalmente vertical e à
medida que o leitor/utilizador utiliza o scroll, os vídeos começam
automaticamente.
Estes cinco exemplos mostram que as tessituras narrativas no
novo ecossistema mediático se afastam definitivamente dos modelos
tradicionais anteriores, tornando-se mais envolventes, imersivos e
contextualizados. Deve ser referido que as categorias aqui apresentadas não esgotam as novas possibilidades de apresentação de conteúdos jornalísticos. Em todo o mundo são feitas experiências com
narrativas desenvolvidas especificamente para dispositivos móveis
(Canavilhas & Satuf, 2013; Bertocchi, Camargo & Silveira, 2015) que
em breve poderão vir a ter uma utilização mais alargada e intensa,
tal como aconteceu com as potencialidades estudadas.
Considerações finais
A popularização dos dispositivos móveis e as mudanças verificadas
nos hábitos de consumo obrigaram o jornalismo a procurar narrativas que explorem o potencial deste novo ecossistema mediático. As
cinco categorias aqui descritas – bases-de-dados, continuum multimédia, imersão, contextualização e paralaxe/verticalização – são
exemplos de respostas a um ecossistema marcado pela ubiquidade
e pela mobilidade.
Neste ecossistema, a produção de conteúdos exige criatividade e
conhecimentos técnicos que permitam elaborar hipernarrativas capazes de atrair a atenção do leitor/utilizador. O jornalista, tal como
um alfaiate, deve ser capaz de costurar com perfeição os diversos
elementos que fluem rapidamente de um meio para o outro, elaborando uma boa tessitura da narrativa.
339
�REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBOSA, S. (2004). “Banco de dados como metáfora para o jornalismo digital de
terceira geração”, in VI Lusocom, III Sopcom, II Ibérico, 2004, Covilhã. Ciências
da Comunicação em Congresso na Covilhã. III Sopcom, VI Lusocom, II Ibérico,
UBI. Covilhã – Portugal: Universidade da Beira Interior. Available from: <http://
www.bocc.ubi.pt/pag/barbosa-suzana-banco-dados-metafora-para-jornalismo-digital-terceira-geracao.pdf> Accessed: 26 jun 2015
BARBOSA, S. (2007). Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD) – Um paradigma
para produtos jornalísticos digitais dinâmicos. (Tese de Doutorado). PósCOM/
UFBA. Available from: http://migre.me/hkrS4 Accessed: 15 de jul. de 2013.
BARBOSA, S. (2008). “Modelo JDBD e o ciberjornalismo de quarta geração”. Paper
apresentado no GT 7 – Cibercultura y Tendencias de la Prensa en Internet,
do III Congreso Internacional de Periodismo en la Red. Foro Web 2.0: Blogs,
Wikis, Redes Sociales y e-Participación, Facultad de Periodismo, Universidad
Complutense de Madrid (Espanha), 23 e 24 de Abril de 2008.
BARBOSA, S. (2013). “Jornalismo convergente e continuum multimídia na quinta
geração do jornalismo nas redes digitais”, in CANAVILHAS, J. (Org.). Notícias
e mobilidade: o jornalismo na era dos dispositivos móveis. Covilhã, PT:
Livros LabCom, pp. 33-54. Available from: http://migre.me/hUrFq. Accessed:
07 set. 2013.
BARBOSA, S.; NORMANDE, N.; ALMEIDA, Y. (2014). “Produção horizontal e narrativas verticais: novos padrões para as narrativas jornalísticas”. Trabalho
apresentado ao Grupo de Trabalho Estudos de Jornalismo do XXIII Encontro
Anual da Compós, na Universidade Federal do Pará, Belém, de 27 a 30 de
maio de 2014.
BARBOSA, S. A.; TORRES, V. (2013) “O paradigma ‘Jornalismo Digital em Base de
Dados’: modos de narrar, formatos e visualização para conteúdos”, in Galaxia,
N.º 25, São Paulo, pp. 152-164.
BARDOEL, J.; DEUZE, M. (2001). “Network Journalism: Converging Competences of
Media Professionals and Professionalism”, in Australian Journalism Review
23 (2), pp.91-103.
340
�BERTOCCHI, D., CAMARGOS, I.O., & SILVEIRA, S.C. (2015). “Possibilidades narrativas
em dispositivos móveis” in CANAVILHAS, J.; SATUF, I. (Orgs.). Jornalismo para
dispositivos móveis: produção, distribuição e consumo. Covilhã: Livros LabCom.
BOLTER, J. D., & GRUSIN, R. (2000). Remediation: understanding new media. Cambridge,
MA: MIT Press.
BRADSHAW, P.; R. L (2012). The Online Journalism Handbook. Skills to survive in
the digital age. Harlow: Pearson.
BROWN, E., & CAIRNS, P. (2004). “A grounded investigation of game immersion”,
in CHI’04 – Conference on Human Factors in Computing Systems, Viena/Nova
York: ACM Press.
CABRERA GONZÁLEZ, M. A. (2000). “Convivencia de la prensa escrita y la prensa on line en su transición hacia el modelo de comunicación multimédia”,
Available from: <http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/74-Comu/7-4-01.htm> Accessed 15 Mai 2013
CANAVILHAS, J. (2014 a). “A reportagem paralaxe como marca de diferenciação
da web”, in REQUEIJO REY, P. y GAONA PISONERO, C. (2014). Contenidos
innovadores en la Universidad Actual. Madrid: McGraw-Hill Education,
pp. 119-129.
CANAVILHAS, J. (2014 b). “Hipertextualidade: novas arquiteturas noticiosas”, in
CANAVILHAS, J. (Org.) Webjornalismo: 7 caraterísticas que marcam a diferença. Covilhã: Livros LabCom, pp. 3-24.
CANAVILHAS, J. (2011). “El nuevo ecosistema mediático”, in Index.comunicación,
1, pp. 13-24.
CANAVILHAS, J. & BACCIN, A. (2015). “Contextualização de reportagens hipermídia:
narrativa e imersão” in Brazilian Journalism Research, v.11, n. 1.
CANAVILHAS, J., & SATUF, I. (2013). “Jornalismo em transição do papel para o tablet...
ao final da tarde”, in FIDALGO, A. & CANAVILHAS, J. (Eds.). Comunicação
digital: 10 anos de investigação. Coimbra: MinervaCoimbra, pp. 35-60.
DE LA PEÑA, N.; WEIL, P.; LLOBERA, J.; GIANNOPOULOS, E.; POMÉS, A.; SPANLANG,
B.; SLATER, M. (2010). “Immersive Journalism: Immersive Virtual Reality for
the First-Person Experience of News”, in Presence, 19 (4), pp. 291– 301.
DEUZE, M. (2012). Media life. Cambridge: Polity Press.
341
�DOWLING, D.; VOGAN, T. (2014). “Can we ‘Snowfall’ this? Digital longform and the
race for the tablet market”, in Digital Journalism. Epub: 25 mai 2015. DOI:10.
1080/21670811.2014.930250.
FERRARI, P. (2003). Jornalismo digital. São Paulo: Contexto.
FIDLER, R. (1997). Mediamorphosis: understanding new media. Thousand Oaks:
Pine Forge Press.
FONTCUBERTA, M., & BORRAT, H. (2006). Periódicos: sistemas complejos, narradores
em interacción. Buenos Aires: La Crujía.
GARRISON, B. (2009). “Online Newspaper”, in SALWEN, M.; GARRISON, B.; DRISCOLL, P.
(Orgs.). Online News and the Public. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 3-46.
INNIS, H. (2011). O viés da comunicação (L.C. Martino, Trad.). Petrópolis, Brasil:
Vozes. (Original publicado em 1951)
JACOBSON, S.; MARINO, J.; GUTSCHE JR, R. (2015). “The digital animation of literary
journalism”, in Journalism (online). doi:10.1177/1464884914568079
JENKINS, H. (2006). Convergence culture: where old and new media collide. New
York: New York University Press.
KATZ, J. (2001). Net: Now Our Most Serious News Medium? Slashot 2001. Available
from: <http://features.slashdot.org/story/01/10/05/1643224/net-now-our-most-serious-news-medium>
LANDOW, G. (1997). Teoría del hipertexto. Barcelona: Paidós.
LANDOW, G. (2009). Hipertexto 3.0: teoría crítica y nuevos medios en la era de la
globalización. Barcelona: Paidós.
LARRONDO, A.; MIELNICZUK, L.; BARBOSA, S. (2008) “Narrativa jornalística e base
de dados: discussão preliminar sobre gêneros textuais no ciberjornalismo de
quarta geração”, in Anais VI Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
(SBPJor). São Bernardo do Campo/SP.
LIMA, E. (2014). “Storytelling em plataforma impressa e digital: contribuição potencial
do jornalismo literário”, in Revista Organicom, 11: 20, pp. 118-127.
LONGHI, R. (2014). “O turning point da grande reportagem multimídia”, in Revista
FAMECOS (Online), v. 21, n. 3, pp. 897-917.
LONGHI, R. (2015). “O lugar do long form no jornalismo online. Qualidade versus quantidade e algumas considerações sobre o consumo”, in 24º Encontro
342
�Nacional da Compós – Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação
em Comunicação, Brasília, Universidade de Brasília. Available from: <http://
www.compos.org.br/biblioteca/compos-2015-3c242f70-9168-4dfd-ba4c-0b444ac7347b_2852.pdf> Accessed: 25 jun 2015
MACHADO, E. (2006). O Jornalismo Digital em Base de Dados. Florianópolis: Calandra.
MALINI, F. (2009). “Por uma genealogia da Blogosfera: considerações históricas
(1997-2001)”, in Lugar Comum, n. 23-24.
MANOVICH, L. (2006). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen
en la era digital. Barcelona: Paidós Comunicación.
MCLUHAN, M. (1990). Os meios de comunicação como extensões do homem (understanding media) (D. Pignatari, Trad.). São Paulo, Brasil: Cultrix. (Original
publicado em 1964)
MEDINA, C.; LEANDRO, P. (1973). A arte de tecer o presente: (jornalismo interpretativo). São Paulo: Média.
MEY ROW ITZ, J. (1994). “Medium theor y”, in CROW LEY, D. & MICHELL, D.
(Eds.). Communication Theory Today. Cambridge: Stanford University Press,
pp. 50-77.
MIELNICZUK, L. (2003). Jornalismo na Web: uma contribuição para o estudo do
formato da notícia na escrita hipertextual. (Tese de doutorado). FACOM/
UFBA, Salvador. Available from: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/6057>
Accessed 03 abr. 2012.
MIELNICZUK, L.; BACCIN, A.; SOUSA, M.; LEÃO, C. (2015). “A reportagem hipermídia
em revistas digitais móveis”, in CANAVILHAS, J.; SATUF, I. (Org.). Jornalismo
para dispositivos móveis: produção, distribuição e consumo. Covilhã: Livros
LabCom.
MIGOWSKI, A. (2013). Memórias coletivas na comunicação mediada por computador
: uma análise à luz do acontecimento de 11 de setembro de 2001 em seu décimo
aniversário. (Dissertação de mestrado). Porto Alegre, FABICO/UFRGS. Available
from: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/76136/000892128.pdf?sequence=1 Accessed: 06 jun 2015
MURRAY, J. (2003). Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. (E K
Daher & M F Cuzziol, Trad.). São Paulo: Itaú Cultural: Unesp.
343
�NEVEU, E. (2014). “Revisiting Narrative Journalism as One of The Futures of Journalism”,
in Journalism Studies, 15:5, 533-542, doi: 10.1080/1461670X.2014.885683
PALACIOS, M. (2002). Jornalismo online, informação e memória: apontamentos para
debate. Available from: http://www.facom.ufba.br/jol/producao.htm.>. Accessed
em 12 mai 2013.
PAVLIK, J. (2005). El periodismo y los nuevos medios de comunicación. Barcelona:
Paidós.
PRIMO, A. (2007). Interação mediada por computador. Porto Alegre: Sulina.
PRYOR, L. (2002). The third wave of online journalism. Online Journalism Review.
Available from: <http://www.ojr.org/ojr/future/1019174689.php>. Accessed 08
out. 2013.
RYAN, M-L. (2004). La narración como realidad virtual: la inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos. Barcelona: Paidós.
SHARP, N. (2013). The future of longform. The Columbia Journalism Review, 9
December. Available from: <http://www.cjr.org/behind_the_news/longform_
conference.php> Accessed 14 mai 2015.
SCOLARI, C. (2013). “Media evolution: emergence, dominance, survival, and extinction in the media ecology”, in International Journal of Communication,
7, pp. 1418–1441.
SULLIVAN, M (2013). Who gets to ‘Snow Fall’ or ‘Jockey’ at the Times and why? New
York Times, 20 August 2013. Available from: <http://publiceditor.blogs.nytimes.com/2013/08/20/who-getsto-snow-fall-or-jockey-at-the-times-and-why/>
Accessed: 14 mai 2015.
TENORE, M. (2014). “Longform journalism morphs in print as it finds a new home
online”. Available from: http://migre.me/oJkre. Accessed 15 jun 2015.
TURKLE, S. (1995). Life on the screen : identity in the age of the Internet. New York:
Simon & Schuster.
ZELIZER, B.; ALLAN, S. (2002). Journalism After September 11. London: Routledge.
344
�ENTRE TEXTÕES E ESCRITÕES:
A NARRATIVA PROJETADA
Daniela Maduro
Centro de Literatura Portuguesa / FLUC
Os escrileitores
A World Wide Web trouxe consigo inúmeras formas de publicação. Foi no meio digital que o autor veio a assumir a função
de blogger ou de gestor de conteúdos. A sua presença é hoje
constatada em várias plataformas onde os seus textos podem ser
publicados instantaneamente. Para além disso, a junção entre a
tecnologia móvel e os media sociais criou a possibilidade de conectividade permanente. A audiência encontra-se hoje à distância
de um dígito.
Marie-Laure Ryan, em Avatars of Story (2006), referiu-se a uma
abordagem prática à narrativa digital. Esta teria em conta “a importância das histórias na vida das pessoas” (RYAN, 2006: xiii) e
veria a World Wide Web como um veículo para a transmissão de
narrativas, quer estas fossem publicadas em blogs, em chatrooms ou
até num anúncio publicitário. É neste contexto que surge o termo
wreader, o leitor que também assume funções de escritor. Esta palavra refere-se hoje à comunidade que lê e publica textos através dos
345
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_13
�seus ecrãs mas, na literatura eletrónica133, o termo wreader 134 viria
a representar um leitor livre da hegemonia autoral. Em meados dos
anos noventa, Pedro Barbosa, pioneiro em Portugal na produção de
literatura combinatória através do computador, referia-se igualmente
à existência de um escrileitor “que pratica a leitura pela escrita e
a escrita pela leitura numa nova simbiose interactiva” (Barbosa,
1996: 11). Pedro Barbosa criou o programa de geração automática
de textos intitulado Sintext, juntamente com Abílio Cavalheiro135.
De acordo com Barbosa, este programa permitiria criar o seguinte
tipo de texto: “o texto surge aqui como uma estrutura geradora de
sentidos, ou como texto em processo, e não como meio de comunicação intersubjectiva entre autor e fruidor” (Barbosa, 1996: 11.).
O texto surgiria, assim, não como um produto finalizado gerado
por um autor, mas como uma matriz de significados.
Para além de reunirem pessoas com interesses em comum, os
media sociais estão a ser utilizados para criação artística e literária136.
A plataforma Facebook, por exemplo, permite a publicação de breves
comentários sobre o quotidiano ou partilha instantânea de notícias
ou curiosidades, mas também terá motivado a criação de diferentes
formas literárias. Um exemplo disso são os microcontos (também
intitulados minicontos ou nanocontos) constituídos por uma ou duas
linhas, através das quais os leitores partilham pequenas histórias.
Esta é uma área em franca expansão e, dada a sua hibridez e dependência da tecnologia
– o que permite a criação de novos tipos de textos, mas destina outros à obsolescência –,
tornar-se difícil defini-la com precisão. N. Katherine Hayles sugeriu a seguinte definição
de literatura eletrónica: “Electronic literature, generally considered to exclude print literature that has been digitized, is by contrast ‘digital born’, a first-generation digital object
created on a computer and (usually) meant to be read on a computer” (Hayles, 2008: 3).
133
George Landow usou este termo no texto “What’s a critic to do? Critical theory in
the age of hypertext” (1994) (Schäfer, 2007: 144)
134
Mais tarde, Barbosa viria a colaborar com José Manuel Torres para criar uma versão web deste programa, o Sintext-Web (2000). Seis poemas criados por Barbosa e
organizados por Rui Torres foram publicados no terceiro volume da ELO Collection
sob o título Ciberliterature. Estes podem ser lidos em: http://collection.eliterature.
org/3/work.html?work=cyberliterature.
135
136
Joseph Tabbi refere-se a blogs como “objetos de conhecimento” (Tabbi, 2010: 4).
346
�A página Flash-Fiction137, por exemplo, declara que o seu propósito
é oferecer aos escritores uma frase inicial de onde poderão partir
as suas histórias. A página portuguesa Micro Contos138 tem mais de
24.000 subscritores e descreve-se como um “contador de pequenas
histórias”. As pequenas narrativas introduzidas pelos escrileitores
vêm normalmente acompanhadas de fotografias. Após a inserção de
um texto sob a forma de comentário, os leitores podem responder,
partilhar ou atribuir um “like”, interagindo assim com o autor.
No volume II da Electronic Literature Collection, disponível online, é possível encontrar uma obra que também utiliza a plataforma
Facebook como ferramenta criativa. The Fugue Book (2008) usa a
informação pessoal contida nesta página, bem como o e-mail do
leitor, para criar uma narrativa acerca de questões de privacidade
e identidade. A caixa de correio do leitor começa por ser invadida
por e-mails de diferentes personagens. Enquanto o leitor lê a obra,
é recolhida informação pessoal dos seus amigos na plataforma do
Facebook. O conjunto de dados reunido permite que as personagens
ajam como se mantivessem uma relação de amizade com este. The
Fugue Book é um exercício irónico sobre questões de identidade,
que usa plataformas como wikis, fóruns, histórias eróticas, blogs e
outros media sociais para formular uma narrativa. De acordo com
o autor, o leitor poderá fugir de tudo, mas não poderá fugir de si
próprio: “The Fugue fa participar els teus amics en la ficció. Els teus
amics no es comportaran igual que ho fan a The Fugue (o potser
A página em questão pode ser consultada em: https://www.facebook.com/pages/
Flash-Fiction-Chronicles/111807932198001?fref=ts. Existe uma outra página onde é explicada
a origem do termo: https://www.facebook.com/pages/Flash=-fiction107726225923884/?frefts&rf=177360282408549#.
137
A página pode ser consultada em: https://www.facebook.com/microcontos. Recentemente foi publicado um livro com o conteúdo desta página, o que comprova que o
formato impresso e formato digital, frequentemente considerados como oponentes,
podem, na verdade, coexistir e persistir.
138
347
�sí, encara que no t’ho sembli). Si vols, podràs fugir d’ells. Fins i tot
podràs fugir de The Fugue, però no podràs fugir de tu mateix”139.
Para além do Facebook, existem outras plataformas que possibilitam a publicação instantânea de um texto. Muitos dos processos
de escrita adotados recordam práticas literárias e artísticas criadas
antes da emergência do computador. Estes denunciam igualmente
que o desejo de intensificar o papel participativo do leitor é uma
tendência que antecede a adoção do computador enquanto recurso
para criação literária. Bryan Alexander, num livro dedicado à “digital
storytelling”, referiu-se às Wikis como um instrumento de escrita
colaborativa e defendeu que estas podem assumir a forma do jogo
surrealista “cadáver esquisito”. Este é o processo de composição usado
para produzir o romance exquisite_code (2010). Durante cinco dias,
um grupo de escritores sentou-se a uma mesa para escrever ao longo
de oito horas. Uma audiência assistia à escrita deste romance. Este
detalhe torna esta atividade numa performance, bem como anula
a fixidez associada à escrita. exquisite_code contraria a noção de
escrita e leitura como atividades solitárias. Segundo Mark Marino,
“exquisite_code rompe com a noção romântica de um texto criado
por um único autor” (Marino, 2013: 285).
Ao longo da escrita do romance exquisite_code (2010), existe um
narrador (proctor 140) que lê em voz alta o resultado da experiência.
Esta é descrita da seguinte forma:
Reading the text, then, becomes a game of trying to detect
the signatures of the particular collaborators in the mash,
“The Fugue faz com que os teus amigos participem na ficção. Os teus amigos podem não se comportar como o fazem no The Fugue (ou talvez possa assim parecer).
Se tu quiseres, podes evitá-los. Tu podes até escapar do The Fugue, mas não podes
escapar de ti mesmo”.
139
Este é também aquele que determina que método de programação deve ser seguido
pelos escritores. Para além de funcionar como um sistema autoral, Marino refere que
este é uma metonímia do código usado para construir exquisit_code.
140
348
�as evidenced by repeating themes, diction, and punctuation,
as well as deducing the process, how each passage grew
out of the dynamics of the group and the randomly selected
prompts. (Marino, 2013: 285).
Sendo assim, a leitura desta obra não se encontra dependente da
coerência ou linearidade do texto, mas do rastreamento de detalhes
significativos produzidos ao longo do processo de escrita colaborativa. A obra é constituída pela cadeia de código de Markov, uma
adaptação algorítmica dos cut ups de William Burroughs e SMS. Este
romance pode ainda ser impresso on demand. Na sua versão impressa,
vêm incluídas as linhas de código que foram produzidas durante a
performance de exquisite_code. Para além de ler o resultado da experiência, o leitor é também convidado a interpretar o código. Toda
a performance foi filmada, pelo que o leitor poderá ainda visualizar
todo o processo de construção de exquisite_code. Sendo assim, esta
obra reúne diversas formas de representação e transforma o ato de
contar histórias numa experiência híbrida, tecida por várias mãos.
O podcast é outra das formas de narrar uma história descrita por
Alexander. Para este autor, esta forma de publicação reúne vários
tipos de media (ou práticas de storytelling):
Listening to a voice or voices tell a story (…) is an ancient
human experience, hearkening back to the oral tradition.
(…) the podcaster’s voice resembles other speaking voices
familiar to audiences of different ages and media experience:
the radio announcer, the newsreel narrator, the TV anchor,
even the ham radio operator. Further, we may also know that
telling voice from audiobooks (formerly “books on tape”).
We already knew aural performance before downloading the
first mp3 into RSS or iTunes. In this way, podcasts are deeply
historical, even nostalgic. (Alexander, 2011: 77)
349
�A categoria Web Video centra-se na imagem em movimento e é
resumida por Alexander aos vídeos publicados no YouTube. Nesta
plataforma, o autor pode manter um canal próprio e construir um
reportório. Pode ainda entrar em contacto com a audiência através
do painel de comentários. Comum a todas estas formas de publicação ou práticas de storytelling é o facto de não existir o editor como
intermediário entre o leitor e o autor. A aproximação entre ambos
faz com que — tal como é sugerido por Alexander no excerto acima
citado — o autor se assemelhe ao contador de histórias da tradição
oral. Em ambiente digital, a comunicação pode tornar-se bidirecional. Adicionalmente, leitor e autor podem trocar de papéis entre si.
Bryan Alexander afirma que a “digital storytelling” terá surgido
com as primeiras experiências com o computador. Segundo o mesmo
autor, a história desta prática poderá ter começado de duas formas:
(…) we could begin with a game called Spacewar, an early
storytelling engine that dates back to the 1960s. If we think
of world-building as storytelling, the first virtual worlds in
the early internet age — all text based! — appeared in the late
1970s, with the first MUDs (Multi-User Dimensions or Multi-User Dungeons)” (Alexander, 2011: 17).
De acordo com Alexander, a atividade de contar histórias através do computador está relacionada com a emergência dos jogos
de computador e mundos virtuais. No final dos anos oitenta, Roy
Ascott sublinhava a chegada de uma nova ordem na arte, a ordem da
interatividade e da ‘autoria dispersa’. Anunciava igualmente a emergência de um novo cânone: o “cânone do imaterial e participatório”
(Ascott, 2002: 339). A telematics seria um conjunto de comunicações
estabelecidas entre utilizadores ou instituições dispersas, através
do computador. Ascott considerava que esta envolvia a interação
entre seres humanos e “entre a mente humana e sistemas artificiais
350
�de inteligência e perceção” (2002: 334). Na sua descrição de telemática, Ascott mencionava a existência de uma “síntese entre artes”
em ambientes interativos. Referia-se igualmente a uma obra de arte
total constituída por dados ou uma Gesamtdatenwerk que transformava o observador em participante. Na Gesamtdatenwerk, cabia ao
utilizador negociar o significado, o que fazia com que a criatividade
residisse, não só no trabalho do artista, mas também na perceção da
obra de arte. O “significado” seria assim transformado no produto
da interação entre obra e observador. Por este motivo, estaria “num
fluxo constante, de mudança e transformação interminável” (2002:
336). Na relação de “simbiose entre humano e máquina” a perceção
humana seria para Ascott o produto de negociação. Porque estavam
interligados através da rede, os utilizadores tornavam-se em participantes numa “acupunctura global” que constrói “um fluxo de data
mundial” (2002: 342). Ascott referia-se a uma arte à escala planetária
formada através de um “telematic embrace” (2002: 344). A adoção do
computador teria, assim, como objetivo conferir ao leitor um papel
mais dinâmico e pertinente na receção ou produção da obra de arte.
Walter Benjamin havia referido, no seu texto sobre a obra de
arte na época da sua possibilidade de reprodução técnica, que o
leitor pretendia tornar-se em autor (Benjamin, 2003: 29). Benjamin
referia-se a artigos de opinião publicados em jornais. Desde as suas
primeiras manifestações, a literatura eletrónica tem vindo a ampliar
as funções do leitor. A impressão que estas surgem intensificadas
perante um computador é produzida pelas características intrínsecas
do meio — tais como o célere processamento de informação e a lata
capacidade de armazenamento de dados — que cooperam entre si
para surpreender o leitor com um vasto número de respostas textuais.
Porém, como demonstrarei, um texto digital interativo não se resume
à capacidade de oferecer ao leitor um maior poder de intervenção.
A interatividade não deve ser representada por um conjunto de tarefas
oferecidas ao “escrileitor”, nem pela oportunidade de participar na
351
�construção do texto. Neste artigo, esta será descrita como um elemento expressivo e figurativo manifestado por textos que apresentam
uma dinâmica particular.
Ergodicidade e narratividade
Em 2001, Rita Raley descrevia o funcionamento do hipertexto
da seguinte forma: “hypertext works by connection, assemblage,
and combination — by connecting content blocks, phrases, phrase
regimes, nodes, computers, programs, and lines of code. It is not
about signification but mapping: not ordering, tracing, and fixing,
but transmission, relay, and movement” (Raley, 2001). O hipertexto
seria um texto dividido em lexias interligadas de forma associativa
e acedidas aleatoriamente. Já as hiperficções eletrónicas nasciam do
aproveitamento dos recursos tecnológicos para concretizar o texto
em aberto, fragmentado, rizomático e livre de uma sequência pré-determinada pelo autor. Estas características seriam catalisadas pelo
recurso à intervenção do leitor na montagem do texto141. Segundo
Alice Bell, os primeiros teóricos dedicados ao estudo e produção de
ficções hipertextuais reconheciam que a multilinearidade poderia
provocar “confusão e desorientação”, mas que estas poderiam ser
contornadas se o leitor continuasse a ler “até que as suas curiosidades pessoais” fossem satisfeitas (Bell, 2009: 14). Bell refere que, na
segunda fase da ficção hipertextual, a questão da multilinearidade
e da incoerência ao nível estrutural é revista da seguinte forma:
“the structure of the text, and the reader’s role within it, represent
a means of prohibiting her or him from fully engaging with the
Alice Bell refere que esta seria uma falácia mantida na fase inicial da ficção hipertextual: “Overall, while hypertext fiction does offer choice, the reader’s degree of
control, which was envisaged by many first-wave theorists, is inflated and readers are
erroneously attributed with unrealistic powers in their actual capacity to manipulate
and operate within the text” (Bell, 2009: 12).
141
352
�narratives that hypertext novels contain” (2009: 15). Sendo assim,
a tónica seria colocada na resistência exercida pelo texto, e não no
grau de liberdade, escolha ou participação oferecida ao leitor. Porém,
a possibilidade de interatividade – um termo problemático, mas que
continua a permear textos teóricos142 — e a multilinearidade permaneceram como características fundamentais da literatura eletrónica.
Para além da abordagem prática acima descrita, Marie-Laure Ryan
referiu-se igualmente à abordagem expansionista. Esta abordagem
vê a narrativa como um conceito mutável, que difere de cultura para
cultura e que evolui de acordo com as inovações tecnológicas (Ryan,
2006: xv). Já a abordagem metafórica procura inspiração em conceitos da narratologia para desenhar e promover aplicações que não
são originalmente criadas para contar histórias (2006: xiv). Este é o
caso de inúmeras narrativas criadas dentro da literatura eletrónica.
No entanto, alguns textos produzidos através do computador, dado
o seu carácter experimental, interativo ou híbrido, tornam difícil a
sua categorização como textos literários ou, mais concretamente,
narrativos. Reis referiu-se a “textos narrativos” situados em “vários
contextos comunicativos”, que recorrem “a diferentes suportes expressivos” e que “apontam para a possibilidade de se estudar a narratividade como processo geral que é comum a todas as narrativas e
não apenas exclusivo das literárias” (Reis, 1997: 344). De facto, uma
narrativa pode estender-se a várias formas de representação e pode
assumir vários perfis. A possibilidade de existência de vários tipos
de narrativa exige uma abordagem expansionista.
Markku Eskelinen afirmou que existem textos ergódicos (ou cibertextos) cuja abordagem é permanentemente adiada pelos estudos literários, por ausência de instrumentos de análise adequados.
Este termo tem vindo a ser considerado como demasiado abrangente e, por este
motivo, improfícuo enquanto conceito teórico (Aarseth, Eskelinen). Embora Aarseth tenha rejeitado este termo, o conceito “interatividade” será aqui utilizado como
distinto, mas inseparável, do fenómeno de ergodicidade identificado por este autor.
142
353
�O adjetivo “ergódico” foi sugerido por Espen Aarseth para descrever todos os textos (impressos ou digitais) que exijam do leitor um
“esforço não-trivial” para percorrer o texto (Aarseth, 1997: 1). Isto
significa que o leitor tem de levar a cabo um conjunto de escolhas
para completar uma sessão de leitura. Todavia, segundo Eskelinen, o
conjunto de escolhas formulado pelo leitor institui um conflito entre
camadas ergódicas e narrativas. A teoria do cibertexto vê um texto
como uma máquina concreta de produção e consumo de sinais e o
medium como operador dessa cadeia de sinais. Esta cadeia divide-se
entre textões (cadeia de sinais que compõem o texto) e escritões (cadeia de sinais, tal como são apresentados ao leitor/utilizador). Dada
a sua volatilidade, os textos ergódicos inviabilizam uma abordagem
de uma narrativa baseada na sucessão de eventos ou na existência
de um narrador. Eskelinen acredita que a componente ergódica e a
componente narrativa podem surgir como conciliadas: “We already
know that the ergodic side can coexist and be combined with traditional text types (argument, description and narrative)” (Eskelinen,
2012: 88). Porém, a conceção de texto como um todo inabalável e a
ideia de narrativa como uma sequência lógica de eventos continuam
a representar um obstáculo para a definição destes objetos textuais
como literários.
Ryan referiu-se ao texto eletrónico como uma “massa indefinida”
e não como um objeto discreto e por isso defende que “não é necessário ler a totalidade do texto” (Ryan, 2001: 47). Os textos aqui
apresentados podem ser definidos como uma “massa indefinida”
que, no entanto, apresentam características literárias e elementos
narrativos143. Eles efetuam um aproveitamento expressivo do meio,
Em todos os textos pertencentes à literatura eletrónica é possível rastrear categorias
e procedimentos desenvolvidos dentro da literatura. Porém, a literatura eletrónica
também faz uso de recursos expressivos produzidos dentro das artes visuais, performativas ou jogos de computador. A hibridez manifestada por muitas obras de literatura eletrónica, onde a primazia não é dada à palavra, impede a sua definição como
parte da literatura, porque esta encontra-se profundamente ligada ao texto verbal.
143
354
�veiculam mensagens e catalisam a emergência de significado(s). Eles
não são um leque de oportunidades de interação, mas um vasto
território onde o significado prospera e desafios teóricos surgem a
todo o momento.
No caso dos textos interativos, é normalmente definido que a
quantidade de tarefas propostas ao leitor interrompe a perceção de
uma narrativa. Porém, para Ryan, isto não significa que a narratologia
deva ser abandonada:
I regard narratology as an unfinished project, and if classical
narratology fails the test of interactive textuality, this does
not necessarily mean that interactive textuality fails the test
of narrativity. It rather means that narratology must expand
beyond its original territory. (…) the development of a digital
narratology will be a long-term collaborative project, and I
can only sketch here what I consider to be its most urgent
concerns. (Ryan, 2006: 98)
O aparecimento de novos tipos de textos144 força os limites do
conceito de literatura. Face à emergência destes textos ou de novas
tecnologias de escrita e leitura, Eskelinen constata, tal como Ryan, que
existe a necessidade de expandir a ação da narratologia. Carlos Reis
referiu-se ao campo literário como um “vasto domínio de fronteiras
algo fluídas” (Reis, 1997: 21). Os conceitos criados dentro dos estudos
literários estão em permanente mutação. A definição de narrativa não
se encontra circunscrita. Como frisarei nas próximas linhas, este é
Scott Rettberg identificou os seguintes (novos) textos na área da literatura eletrónica: “hypertext fiction (both early works published on CD and published on the Web),
literary text installations and CAVE works, ludic works that involve the conventions
of games, kinetic poetry, interactive fiction, interactive drama, email narrative, visual
poetry and works that reference the concrete poetry tradition, works that harvest
and integrate texts from the web, poetry generators, a locative narrative, and works
that emphasize aspects of user interaction” (Rettberg, 2013: 25).
144
355
�um conceito flexível, que pode ser adaptado a diferentes contextos
e tipos de texto, e não apenas a uma sequência coerente de eventos
narrados que culminam num desfecho.
Significado emergente
O funcionamento do computador tem um impacto na forma como
os textos são apresentados ao leitor. O meio, ou o formato em que o
texto é apresentado, não surge apenas como um suporte que canaliza
a informação, mas como um elemento que contribui decisivamente
para a formulação de significado. Segundo Wolfgang Iser, os textos
ficcionais têm uma “conectividade” que é interrompida por espaços
em branco. Estes são preenchidos pelo leitor através de “decisões
seletivas” e correspondem a inúmeras possibilidades de sentido (Iser,
1994: 286). É através do estabelecimento de associações, ou “alien
associations” (Pater, 1994 apud Iser: 206), e da exploração da possibilidade de sentido que o leitor compreende um texto. Num texto
digital ou num cibertexto, o leitor tem de lidar com a imprevisibilidade dos textões. Estes são invocados por si, mas o leitor não chega
a conhecer esta cadeia de sinais. Quando surgem no ecrã, os textões
já foram transformados em escritões. Esta característica mantém um
texto digital num estado permanentemente potencial.
Segundo Zumthor, os espaços em branco “constituem um espaço
de liberdade ilusório” que apenas pode ser ocupado temporalmente.
Para Zumthor, o sentido tem uma “existência transitória e ficcional”
(Zumthor, 2007: 54). Para além disso, cada leitor pode “concretizar”
o mundo ficcional de diferentes formas. Ryan identificou a hipótese de existir um texto diferente para cada leitor: “filling in of gaps
and places of indeterminacy that can take a highly personal form,
since every reader completes the text on the basis of a different life
experience and internalized knowledge” (Ryan, 2001: 44). A mesma
356
�autora, associando-se a David Lewis, sugeriu a possibilidade de existência de “uma pluralidade de mundos textuais” (Ryan, 2001: 44).
Philippe Bootz defende que um texto eletrónico pode dividir-se em
dois: o texte-auteur e texte-à-voir. O primeiro apenas está ao alcance
do autor, enquanto o segundo tipo de texto permanece virtual. Já o
texte-à-voir é apenas visível para o leitor, mas o texte-auteur (ou a
intenção do autor) permanece oculto (Bootz, 2006: 4). Segundo Bootz,
existe uma “cesura semiótica” entre ambos: “There exists, then, a
“semiotic gap” (…) which comes out from the loss of visibility of the
intention of the author. The “texte-à-voir” reveals an intentionality
that is its own and adapted and that may differ greatly from that of
the ‘texte-auteur’.” (2006: 4). Esta descrição apresentada por Bootz
permite constatar que o texto a que o leitor tem acesso pode ser
distinto daquele criado pelo autor145.
Ryan salienta que, para Lévi, o virtual como potencial “não só
representa o modo de existir do texto literário, mas também o estado
ontológico de todas as formas de textualidade” (Ryan, 2001: 45). Após
ser escrito, o texto permanece num estado virtual até ser despertado
pelo leitor. Ele não é concretizado apenas através da interpretação,
mas também por intermédio de uma simulação efetuada pelo leitor,
através da imaginação:
In the case of texts, the process of actualization involves not
only the process of ‘‘filling in the blanks’’ described by Iser but
also simulating in imagination the depicted scenes, characters,
and events, and spatializing the text by following the threads
of various thematic webs, often against the directionality of
the linear sequence. (Ryan, 2001: 45)
Tal como Bootz, Ryan considera que existe um texto “como uma coleção de sinais
escritos pelo autor” e o “texto construído mentalmente pelo leitor”. Porém, entre
ambos, existe um outro texto: o texto presente no ecrã (Ryan, 2001: 46).
145
357
�Para Ryan o texto já é um espaço virtual, mas a tecnologia eletrónica deixa entrever uma nova faceta: “the marriage of postmodernism
and electronic technology, by producing the freely navigable networks
of hypertext, has elevated this built-in virtuality to a higher power”
(2001: 45-46). Citando Lévi, Ryan refere que o hipertexto é uma “matriz de textos potenciais”. De facto, a estrutura hipertextual transmite
a impressão de um texto gerado a todo o momento, que pode ser
percorrido infinitamente. Tendo em conta que a literatura eletrónica
dispõe de uma base de dados e da velocidade de processamento do
computador, essa impressão poderá ser largamente intensificada.
The Jew’s Daughter (2000-2006) de Judd Morrissey é uma narrativa
recombinante cujo texto surge apresentado numa página em branco.
À medida que o leitor coloca o cursor sobre a mancha gráfica, descobre que existem palavras que desaparecem e dão lugar a outras.
O texto reformula-se indefinidamente, oferecendo novas possibilidades de significação. Contudo, nem todos os textos digitais apresentam
uma possibilidade generativa como aquela manifestada por esta obra.
De facto, ainda que expressem o contrário (isto é, ainda que se apresentem como infinitos), estes são estruturalmente finitos, justamente
porque partem de uma base de dados com um número limitado de
elementos146. A imaginação, coadjuvada pelo ato interpretativo, poderá
expandir o potencial de um texto, tecendo associações improváveis
durante a leitura147, ou posteriormente, através de apropriações ou
Existem obras que partem, não de uma base de dados, mas, por exemplo, de
informação recolhida online. Estas obras, embora possam alterar-se a cada visita,
estão também cingidas ao programado pelos seus autores. A título de exemplo, a
obra poética The Deletionist (2013), criada por Amaranth Borsuk, Jesper Juul e Nick
Montfort, reduz páginas visitadas a um conjunto de palavras-chave para gerar um
novo poema. Embora as palavras sejam substituídas por outras a cada visita, a estrutura e comportamento desta obra permanecem inalterados.
146
No entanto, durante o contacto com o texto, este permanece restrito à sua arquitetura, a qual é pré-determinada e circunscrita ao tempo reservado para lê-lo ou ao
número de elementos que podem ser configurados ou explorados. Neste sentido, o ato
de abandonar o texto é a única decisão ou poder verdadeiramente oferecido ao leitor.
147
358
�releituras do mesmo. John Gibson identificou uma colaboração entre
leitor e autor executada através da imaginação:
Literary works generate (…) the fictional worlds they inhabit
in tandem with the reader, by presenting their language as
in effect a recipe for the imagination. It is through this that
a text that would otherwise remain a continuous string of
empty representations is given substance. (Gibson, 2007: 131)
Para além de um esforço ergódico ou não-trivial, já aqui descrito,
gostaria de chamar a atenção para a existência de um esforço imaginativo que se encontra dependente da suspensão de descrença
para reconstruir um evento ou situação através da imaginação, que
permite ao leitor encarnar (ou manter contacto com) personagens
e especular acerca de uma possibilidade. Este permite igualmente
manter o contacto com o mundo ficcional. O esforço imaginativo
está ainda ligado à interpretação148 e impede que o texto interativo
se torne num centro de operações executadas pelo leitor.
Segundo Hayles a literatura eletrónica surge da incapacidade de
o computador lidar com a ambiguidade e plurissignificação (o código binário apenas permite a decisão entre 0 e 1). A “impiedade do
código” é descrita por Hayles:
Every voltage change must have a precise meaning in order to
affect the behavior of the machine; without signifieds, code
would have no efficacy. (…) every change in voltage must
be given an unambiguous interpretation, or the program is
likely not to function as intended. (…) Whatever messages
on screen may say or imply, they are themselves generated
A interpretação pode ser funcional e prática, ou seja, pode ser aplicada para interpretar o resultado de ações e melhorar a estratégia do leitor. Pode ainda focar-se
nas estratégias figurativas do texto.
148
359
�through a machine dynamics that has little tolerance for ambiguity, floating signifiers, or signifiers without corresponding
signifieds. (Hayles, 2005: 47)
Num texto digital, é a partir do código binário que o texto e a
narrativa conquistam a sua plurissignificação. Entre o processador
e o ecrã do computador é executada uma transformação: o código
binário é transformado em imagens e palavras ou em código literário. Sendo assim, a ambiguidade e a proliferação do significado
dependem da precisão da máquina: “Flexibility and the resulting
mobilization of narrative ambiguities at a high level depend upon
rigidity and precision at a low level (…) it is precisely the ability
to build up from this reductive base that enables high-level literariness to be achieved” (Hayles, 2005: 53). O texto eletrónico parte
da rigidez semântica do código binário (que apenas permite uma
interpretação ou um significado) para as inúmeras possibilidades
de significação.
Hayles referiu que a literatura eletrónica é gerada por um jogo entre
“sequências sintagmáticas virtuais” e a “base de dados paradigmática”
(2005: 54). De acordo com Pedro Barbosa, o programa Sintext é baseado na interseção entre o eixo paradigmático e o eixo sintagmático
da linguagem. O eixo paradigmático é formado por elementos lexicais
ou “Variantes” que são substituídos, a todo o momento, ao longo do
eixo sintagmático, isto é, ao longo de uma “sequência parentetizada”
ou “Constantes” (Barbosa, 5: 2000) que asseguram a geração do texto.
Face a um texto eletrónico, o ato interpretativo começa na decisão entre
0 e 1. Só que esta ambivalência, aparentemente lacónica, pode gerar
inúmeras possibilidades: “while they [computers] have no capacity for
semantic recognition, the humans interpreting their results might see
interesting patterns” (Hayles, 2008, 51). Sendo assim, o significado
reside no processador num estado embrionário, mas depende do ser
humano para ser materializado.
360
�Num texto ergódico, para que o significado possa ser constatado,
o leitor tem de assumir várias funções. Aarseth distinguiu quatro
funções do utilizador que poderão ser úteis para descrever a relação entre leitor e texto. No presente artigo, a referência a essas
funções não tem como objetivo descrever o comportamento textual
ou determinar o que é permitido ao leitor executar, mas identificar
os procedimentos levados a cabo pelo leitor para compreender o
texto. Estes encontram-se dependentes do esforço imaginativo e do
ato interpretativo149.
Para Aarseth, a função interpretativa é exigida por todos os textos. Aqui gostaria de acrescentar que esta função é simultaneamente
originada e origina todas as ações do leitor, pelo que é fundamental
para aceder e compreender um texto. Para Aarseth, ao assumir a
função exploratória, o leitor tem de escolher entre vários trilhos. No
entanto, como nem sempre a exploração de um texto é executada
através de uma decisão entre trilhos, esta função pode ser adaptada
a outras formas de explorar o texto, como por exemplo, ouvir atentamente um excerto de narração; conhecer os diferentes ambientes
que constituem a obra e rastrear ou apreciar os seus elementos expressivos. Para Aarseth, a função configurativa está relacionada com
a escolha parcial ou criação de escritões. Já a função textónica surge
associada à adição de textões de forma permanente. Como a criação
de textões não se encontra ao alcance do leitor, pois estes terão sido
pré-determinados, a função configurativa é aqui associada à forma
como o leitor dispõe e organiza a informação de forma a proceder
à leitura e interpretação de partes ou de todo o texto.
A primazia oferecida à interpretação, a qual foi muitas vezes associada à tentativa de reduzir um texto a uma explicação inabalável, tem vindo a ser intensamente
debatida. Gumbrecht referiu-se à intenção de o desconstrucionismo acabar com a
“era do signo” (Gumbrecht, 2004: 53) e à tentativa de “destronar” a interpretação (5253). Aqui é defendido que o ato interpretativo, indelevelmente associado à tradição
hermenêutica, não é uma forma de encontrar o significado uno de um texto, mas de
multiplicar as suas possibilidades de significação. O ato interpretativo é igualmente
visto como necessário para a compreensão de qualquer tipo de texto.
149
361
�O leitor age de acordo com a liberdade de escolha e de ação oferecida pelos criadores do texto e não pode colaborar na construção
da obra, mas apenas reconstruí-la. Isto significa que a função textónica (que, segundo Aarseth implica adicionar “permanentemente”
textões ao texto) teria de ser abandonada. Porém, os textões têm uma
componente potencial e o leitor desconhece como eles emergem e
que forma (ou significado) eles assumirão. Eles são catalisadores de
mundos possíveis e a função textónica tem como objetivo encontrar
a forma de despertar estes textões e desencadear esses mundos.
O leitor leva a cabo um esforço imaginativo para especular sobre o
que vem a seguir e para preencher espaços vazios. Para tal, o leitor
tem de adotar a função textónica, ou seja, tem de criar e ajustar a
sua estratégia para que os textões sejam transformados em escritões.
Sendo assim, perante um texto interativo, dadas as funções assumidas
pelo leitor, a emergência do significado depende de uma cooperação
entre esforço ergódico e esforço imaginativo.
Narrativas projetadas
A obra La Disparue (2012) é um híbrido entre jogo e história policial que inclui o leitor como protagonista, ou melhor, como o detetive
responsável por uma investigação. La Disparue é proposta como uma
sequência de enigmas cuja resolução permite identificar o responsável
pelo desaparecimento de Elisabeth Monohan e da morte de Kacey
Harnois. Segundo Cécile Iran, Médéric Lulin e Sophie Séguin, os
autores desta obra colaborativa, La Disparue é uma hiperficção. Esta
história não está localizada apenas num sítio online, mas estende-se
a diferentes espaços. Tal como é demonstrado ao longo da leitura
de La Disparue, uma conta do Twitter ou do Facebook pode ajudar
o leitor a obter mais informações para resolver o mistério. Um texto
literário nem sempre corresponde à imagem de um romance ou a
362
�um texto publicado entre a capa e contracapa de um livro. Como
sabemos, um texto literário pode assumir a forma de uma missiva
ou de um fragmento (veja-se o caso do Livro do Desassossego). Para
ler La Disparue, o leitor terá de reunir a informação dispersa por
diversos locais, assumindo para isso a função exploratória e função
configurativa. La Disparue pode ser definida como um processo que
se estende a diferentes espaços em rede.
As histórias policiais em formato impresso são normalmente desenhadas para atingir um objetivo: alcançar o final da narrativa para
descobrir a identidade ou localização do criminoso. Sendo assim,
elas estão dependentes de uma estrutura aristotélica, ou seja, são
construídas mediante uma lógica de início-meio-fim. La Disparue
tem uma componente lúdica acentuada. Esta obra exige que o leitor vença vários desafios até ganhar o jogo ou descobrir a verdade,
mas também é orientada para alcançar um desfecho (na verdade o
leitor pode alcançar dois desfechos, conforme a sua performance).
O desenrolar da narrativa depende da viagem exploratória executada
pelo leitor.
O desejo de alcançar um desfecho está associado à sensação de
concretização e de ordem restabelecida: espera-se que no final da
história tudo seja revelado e que todas as questões do leitor sejam
respondidas. Walter Ong considerou que as histórias policiais seriam um exemplo perfeito de estruturas baseadas na pirâmide de
Gustav Freytag: “In the ideal detective story, ascending action builds
relentlessly to all but unbearable tension, the climactic recognition
and reversal releases the tension with explosive suddenness, and the
dénouement disentangles everything totally” (Ong, 1982: 147). Schäfer
e Gendolla referem que as histórias policiais inscritas no meio digital substituem a produção de suspense pelo desejo de superação de
pequenos desafios (Schäfer e Gendolla, 2010: 97). Se o leitor/jogador
não reunir as pistas deixadas pelos autores, não terá sucesso. Isto
pode provocar uma espécie de tensão, tal como representada pela
363
�pirâmide de Freytag. Embora pareça que o leitor está envolvido na
construção da narrativa (o leitor tem de visitar diversas páginas para
recolher informação), a verdade é que o roteiro levado a cabo pelo
leitor foi forjado pelos criadores de La Disparue. Poderá parecer que
La Disparue é uma obra fragmentada, sem uma lógica interna, mas,
na verdade, ela exibe uma estrutura episódica que corresponde às
diferentes etapas da investigação/níveis do jogo. Apesar de propor
várias tarefas situadas em diversos locais na rede, esta história policial manifesta uma coerência narrativa e não inviabiliza o alcance
de um desfecho. Em La Disparue existe uma narrativa e uma lógica
causal que é conhecida pelo leitor através da resolução de enigmas
e superação de desafios.
O leitor de uma história policial impressa é igualmente um investigador porque coloca hipóteses e imagina cenários através das pistas
deixadas pelo autor. Em La Disparue, o leitor é convidado a investir
um esforço ergódico que o leva a explorar e configurar o texto até
conhecer o paradeiro de uma das vítimas (ou alcançar a resolução do
mistério). A história não é veiculada unicamente através de um texto
verbal, mas também através de ficheiros, fotos, trilhos, provas ou
pistas distribuídas por diversos locais. La Disparue é uma narrativa
projetada porque o leitor terá de recolher diferentes elementos para
conseguir uma versão aproximada desta.
Para conhecer os diferentes espaços de La Disparue (ou, para
ler esta obra), o leitor terá de ativar uma função explorativa. Num
momento inicial, o leitor é apresentado a uma secretária sobre a
qual foram espalhados vários objetos. É através da exploração deste
espaço, mas também através da sua configuração, que o leitor reúne
algumas informações valiosas sobre si (a sua carteira e documentos pessoais pertencem à miscelânea de objetos dispostos sobre a
mesa), acerca da aparência da vítima e do passo a dar em seguida.
Para além do esforço ergódico investido pelo leitor, ele é também
convidado a assumir um esforço imaginativo (afinal de contas, ele é
364
�o investigador responsável e a vida de Elisabeth Monohan depende
da sua performance enquanto detetive, leitor e jogador). O leitor é
encorajado a projetar diferentes cenários e a especular sobre o que
terá acontecido.
Joseph Tabbi referiu-se à necessidade de pensar para além da
“narrativa”. Em vez desta, este autor mencionou a existência de “pistas” e “sugestões” (Tabbi, 2011: 3). Porém, a narrativa encontra-se
enraizada no discurso dedicado à literatura eletrónica. Apesar de
volátil e impreciso, este termo permeia consecutivamente o discurso
sobre criação literária. Eskelinen afirmou que a ficção hipertextual,
tal como alguma ficção pós-modernista, é potencialmente narrativa.
Calleja referiu-se a uma narrativa experiencial, ou seja, uma narrativa que é formada na mente do leitor ao longo do jogo, através de
“elementos representacionais e das nossas representações subjetivas”
(Calleja, 2011: 119). Em vez de uma anti-narrativa ou de uma narrativa sabotada ou relutante, Aarseth referiu-se a afternoon: a story
(1987-1990)150 como um “jogo de narração”. Este autor considera que
certos elementos da narrativa podem ser usados, mesmo sem a intenção de transmitir uma história151 (Aarseth, 1997: 94). Todos estes
autores se referem a uma narrativa subentendida, eminente ou em
formação que pode ser apresentada (ou suscitada) ao longo da leitura.
Aqui pretendo sugerir a existência de uma narrativa projetada, que
reside na memória do computador e que é despertada, quer através
das funções assumidas pelo leitor, quer através de processos programados. Esta narrativa parece inexistente, mas é possível constatar
vários vestígios da sua presença. A leitura desta narrativa torna-se
assim num escrutínio dos seus elementos fundamentais que, quando
reunidos, podem não produzir uma história, mas permanecer como
meros alicerces do que seria uma narrativa.
150
Esta obra é considerada por inúmeros autores como a primeira hiperficção eletrónica.
Aarseth considera que as ações levadas a cabo durante um jogo não são narrativas nem
constituem uma história, embora representem uma sucessão de eventos (Aarseth, 1997: 94).
151
365
�A condição provisória de uma narrativa projetada pode ser vislumbrada no jogo The Stanley Parable (2011-2013). Este é apresentado
pelos seus criadores como uma “exploração de história, jogo e escolha”. Na página que dá acesso a este jogo, é colocado um desafio:
“the story doesn’t matter, it might not even be a game, and if you
ever actually do have a choice, well let me know how you did it”.
Uma parábola é uma pequena narrativa que tem uma componente
didática. De facto, o jogo parece recordar permanentemente ao leitor que o seu poder de escolha é ilusório. Neste jogo, o jogador é
tratado como um peão que, tal como Stanley (o protagonista), tem
de pressionar botões e obedecer a diretivas. O jogo exige que o leitor assuma constantemente uma função explorativa (este conhecerá
inúmeros espaços e percorrerá diversos corredores em busca da
história); uma função configurativa (premir botões e abrir portas são
atividades constantemente exigidas) e uma função textónica (o leitor
terá de tecer estratégias para alcançar o próximo nível ou ativar mais
um trecho de narração).
No início do jogo, surge uma faixa onde é repetida a frase “The
end is never the end”. A parábola de Stanley é um jogo que faz uso
da ironia para refletir sobre a própria estrutura e funcionamento.
The Stanley Parable (que terá sido criado como uma ficção interativa
e só depois assumiu a forma de um jogo) recorda as hiperficções
multilineares e autorreflexivas do período clássico da literatura eletrónica. A sua estrutura episódica e multilinear assemelha-se ao texto
identificado por Lev Manovich, o texto enquanto base de dados:
After the novel, and subsequently cinema privileged narrative
as the key form of cultural expression of the modern age, the
computer age introduces its correlate – database. Many new
media objects do not tell stories; they don’t have beginning
or end; in fact, they don’t have any development, thematically,
formally or otherwise which would organize their elements
366
�into a sequence. Instead, they are collections of individual
items, where every item has the same significance as any
other. (Manovich, 2001: 8)
Esta parábola invoca um sentimento de estranheza porque a barreira entre jogo e narrativa autorreflexiva não é clara. A parábola
de Stanley está ligada à literatura através de um constante desafio
a alguns dos seus pressupostos. The Stanley Parable brinca com os
limites da ficção e desafia a noção de lógica, coerência, verosimilhança e desfecho. A função interpretativa é constantemente invocada,
não só porque o leitor se encontra perante um jogo e necessita de
interpretar e avaliar o resultado das suas ações para melhorar ou
estabelecer a sua estratégia, mas porque esta parábola está repleta
de enigmas teóricos e referências literárias.
Stanley é um funcionário de uma empresa que um dia abandona o
seu posto de trabalho para descobrir o motivo de uma falha técnica.
Quando o faz, a aleatoriedade toma conta da sua vida. Assim que
abandona o seu computador, descobre que o edifício onde trabalha
foi evacuado. A missão de Stanley (e do jogador) é descobrir o que
terá acontecido ou “a história”, o que resulta numa aventura metalética
que mostra ao leitor elementos de uma narrativa, mas que boicota
constantemente a formação de uma história. Stanley é apresentado
por um narrador (Kevan Brighting) que o acompanha durante o
percurso. Existe uma cena em que a voz do narrador descreve os
sentimentos de Stanley (que é personificado pelo leitor) mas, a dado
momento, a voz simula um estado de loucura e faz com que Stanley
(ou o jogador) se atire de um prédio. O jogador é apresentado ao seu
avatar que jaz inerte na rua. Enquanto isso, a voz centra-se numa
outra personagem. Nesse momento, o narrador usa a expressão “This
is a story about…”. Porém, The Stanley Parable não é uma história
sobre uma personagem. Ao assumir o papel de narrador, descrevendo
os sentimentos e ações de Stanley ou contando a história da outra
367
�personagem, o sistema parece entrar em conflito. Reiniciar o jogo é
a única solução encontrada pelo narrador.
A parábola de Stanley é constituída por um narrador, personagens
e eventos (ou pelos mesmos elementos que constituem uma narrativa),
mas a sua história não é conhecida. O esforço ergódico investido
pelo jogador (ou a sua participação como personagem) não está na
origem deste estado latente da narrativa. A formação de uma narrativa
coerente já terá sido interrompida antes da intervenção do jogador,
graças ao teor metaficcional assumido pelos autores desta parábola.
The Stanley Parable não pretende transmitir uma história, mas uma
ideia de narrativa ou um conjunto de características associadas a
esta forma de representar eventos.
Para que o leitor não se perca, o narrador inclui, a dado momento, linhas amarelas ao longo dos corredores. Porém, o próprio
narrador perde frequentemente o rumo da narrativa. As linhas
desenhadas pelo narrador sobem paredes e percorrem o teto, o
que resulta numa visão escheriana da estrutura da narrativa e da
arquitetura do jogo. O narrador acaba por ter de pedir ao jogador
para esquecer as linhas e para escrever a história (ou forjar o destino da personagem) e escolher um caminho diferente, “sem linhas,
nem monitores”. O jogo apela à participação criativa do jogador.
Para manter esta ilusão, o leitor tem de investir um esforço imaginativo. Sem reduzir a sua descrença — uma condição fundamental
em textos interativos em que o leitor tem de assumir o papel de
personagem — e sem compactuar com o narrador (ainda que este
não seja fiável), o leitor não pode continuar em jogo. Nesta parábola, o narrador não é omnisciente e exibe algumas dificuldades
em acompanhar o rumo da história. Isto acontece porque The
Stanley Parable é uma narrativa projetada através do desafio das
suas próprias fundações.
Os conflitos entre a escolha do leitor e as indicações do narrador são colmatados através do comportamento excêntrico deste.
368
�A voz da parábola de Stanley autointitula-se de narrador. Ela oferece
indicações ao leitor como se fosse uma voz que emergisse de um
romance. Em The Stanley Parable, uma estreita ligação com a literatura é concretizada a todo o momento. Na presente frase, o narrador
recorre à terceira pessoa do singular: “Stanley escolheu a porta da
esquerda”. Porém, como é possível concluir durante o jogo, esta voz
não corresponde à imagem de um narrador convencional152 . Aarseth
sublinhou que nos jogos de aventura ou de ficção existe um plano
de negociação. Eskelinen frisou que, nos textos ergódicos, existe a
presença de um “negociador”, e não de um “narrador”. (Aarseth, 2012
apud Eskelinen, 2012: 203). Segundo Aarseth, a intriga ergódica tem
lugar num nível extraficcional e é direcionada contra o utilizador.
Este, de acordo com Aarseth, “tem de descobrir por si próprio o
que se está a passar”. O utilizador implícito negoceia com uma voz
ergódica ou um “correspondente simulado que relata os eventos ao
utilizador”. Segundo Eskelinen, a voz ergódica é um “negociador” e
não um contador de histórias ou um narrador (Eskelinen, 2012: 204).
A voz poderá fornecer informação, mas poderá também surgir como
oponente do leitor. Eskelinen descreve a sua função da seguinte forma: “the voice’s discontinuous narrations and descriptions serve by
both distracting the user and giving him the information he needs
to solve the puzzle” (2012: 204). A voz ergódica em The Stanley
Parable surge como oponente ou como adjuvante, mas o puzzle fica
por resolver. Em vez de uma história, esta parábola propõe uma
aventura metaficcional.
Patricia Waugh definiu a metaficção como uma “escrita ficcional que auto-conscientemente e sistematicamente chama a atenção
para a sua condição de artefacto, a fim de colocar questões sobre a
De facto, o narrador poderá ser omnipresente, mas como é por vezes surpreendido pela audácia ou insolência do jogador, não é omnisciente. O narrador desta
parábola é ainda bidiegético (Eskelinen), ou seja, pode alternar entre homodiegético
e heterodiegético.
152
369
�relação entre ficção e realidade” (Waugh, 1996: 2). Sendo assim, a
metaficção efetua uma crítica do próprio processo de construção. Esta
característica é visível em The Stanley Parable, onde as “estruturas
fundamentais da ficção narrativa” são exploradas.
A voz do narrador, que recorre à linguagem literária153, bem como
os dilemas resultantes da sua ineficácia em acompanhar o rumo
da narrativa, produzem um exercício estético. Os textos gerados a
cada momento (a narração é acompanhada por legendas) parecem
estar na base do sucesso alcançado por The Stanley Parable. Após
consultar fóruns e reviews dedicados a este jogo torna-se claro que
os jogadores não aderem a este jogo por causa de uma promessa de
ação, mas pela forma como esta parábola é veiculada154.
Numa das páginas de recensões escritas por jogadores de videojogos intitulada Hardcoregamer, é possível ler a seguinte opinião:
“The writing is smart and the narration is excellent, so much so that
I usually found myself stopping any time the narrator had something
to say just to make sure I didn’t miss anything” (Cunningham, 2013).
Segundo o autor desta opinião, The Stanley Parable é um jogo de
“interatividade limitada”, “cujo valor está na descoberta e na experimentação”. The Stanley Parable é constituído por gráficos rudimentares e monótonos e não oferece a mesma intensidade de um jogo de
ação. Este jogo não permite ao leitor exibir a sua perícia e técnica.
The Stanley Parable é um desafio intelectual que projeta a ilusão de
uma narrativa. Esta parábola é constituída por personagens (ainda
que fugazes), pelo jogador/protagonista e um narrador. Ela oferece
momentos de leitura e audição, mas o seu narrador não consegue
veicular uma história. A estrutura de uma narrativa é revelada ao
Aqui associa-se a linguagem literária ao uso da terceira pessoa, à prática de descrições longas de uma ação através de um registo formal e a uma escolha cuidada
de vocabulário.
153
Os gráficos também não são um elemento atrativo em The Stanley Parable. Na
verdade, a monotonia e a natureza rudimentar dos seus cenários parecem funcionar
como um elemento desencorajador.
154
370
�longo deste jogo. No entanto, o conteúdo dessa narrativa, ou a história,
não chega a ser conhecida. Ao edifício da narrativa falta a história.
Os seus corredores permanecem vazios e o leitor apenas tem acesso
ao que potencialmente poderia ser uma narrativa.
Considerações finais
Dado o seu carácter híbrido, metaficcional e, porque solicitam
um investimento ergódico por parte do leitor, muitas obras parecem
oferecer um ambiente inóspito, onde dificilmente uma narrativa poderia prosperar. Esta é vista como dependente de um tecido coerente
de eventos e as obras ergódicas podem colocar desafios ao leitor
que canalizam a atenção deste para a exploração e configuração
do texto. Porém, esses desafios não se limitam ao desenvolvimento
destas atividades. Uma obra ergódica é, frequentemente, a origem
de enigmas teóricos que envolvem o leitor numa reflexão acerca do
ato de leitura, do processo de escrita e acerca da própria literatura.
Por vezes, uma história é substituída por (ou surge geminada com) a
transmissão de uma ideia ou de um desafio que se refere ao próprio
texto. A narrativa, justamente porque é um conceito flexível, mas que
contém características que funcionam como elementos distintivos (tais
como a existência de personagens, narrador ou sequência de eventos)
continua a surgir no discurso dedicado à ficção digital ou ao estudo
dos jogos. É justamente esse ato de projetar uma narrativa através
dos seus elementos fundamentais que foi captado por este artigo.
A materialidade do texto eletrónico, que se estende do disco rígido até à forma como o significado pode emergir no ecrã, tem uma
função primordial na transmissão de uma narrativa. A assimetria
entre o plano textónico e escriptónico e a radicação do significado
ao nível do processador — e não apenas ao nível do ecrã ou ao nível do que é visualmente percetível pelo leitor — fazem com que a
noção de volatilidade do significado ganhe novos contornos. Entre
371
�o autor e o leitor reside a máquina e, apesar de todo o empenho
investido para torná-la cada vez mais neutra e transparente, a sua
presença adquire uma expressividade particular em obras de literatura eletrónica. Ainda que o leitor tenha de juntar as peças de um
puzzle ou reconstruí-la a partir de sombras e espectros, a narrativa
continua a perseverar. Formada entre textões e escritões, ela pode
assumir uma forma inusitada quando alcança a superfície do ecrã.
Embora ela possa parecer inexistente, a sua presença é frisada ao
longo de toda a leitura.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AARSETH, E. (1997). Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The
John Hopkins University Press.
ALEXANDER, B. (2011). The New Digital Storytelling: creating narratives with new
media. Santa Bárbara, Califórnia: ABC-CLIO, LLC.
ASCOTT, R. (2002). “Is there love in the telematic embrace?” [1990], in Multimedia:
from Wagner to virtual reality. Eds. Packer, Randall e Ken Jordan. Nova Iorque:
W. W. Norton & Company Ltd., 333-344.
BARBOSA, P. (1996). “Ângulos e virtualidades do Texto Virtual”, in Teoria do Homem
Sentado. Porto: Edições Afrontamento. Também disponível em: http://po-ex.
net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/pedro-barbosa-literatura-teoria-homem-sentado-parte1, consultado a 2 de Setembro de 2015.
BARBOSA, P. e TORRES, J. M. (2000). O Motor Textual. Livro Infinito. Porto: Edições
Universidade Fernando Pessoa. Também disponível em: http://www.po-ex.net/
taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-autografas/pedro-barbosa-o-motor-textual-livro-infinito, consultado a 2 de Setembro de 2015.
BELL, A. (2009). The Possible Worlds of Hypertext Fiction. Londres: PalgraveMacmillan.
BENJAMIN, W. (2003). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
372
�BOOTZ, P. (2006). “Digital Poetry: From Cybertext to Programmed Forms”, in Leonardo
Electronic Almanac, Vol. 14 Issue 05 – 06, disponível em: http://www.leoalmanac.org/wp-content/uploads/2012/09/04Digital-Poetry-From-Cybertext-to-Programmed-Forms-by-Phillipe-Bootz-Vol-14-No-5-6-September-2006-Leonardo-Electronic-Almanac.pdf, consultado a 2 de Setembro de 2015.
CALLEJA, G. (2011). In-Game: From Immersion to Incorporation. Cambridge, MA:
MIT Press.
CUNNINGHAM, J. (2013). “Review: The Stanley Parable”, in Hardcoregamer, disponível em: http://www.hardcoregamer.com/2013/10/17/review-the-stanley-parable/58895/, consultado a 2 de Setembro de 2015.
ESKELINEN, M. (2012). Cybertext Poetics: The Critical Landscape of New Media Literary
Theory. Nova Iorque: Continuum.
FERRET, T. (2008). The Fugue Book, in Electronic Literature Collection, vol. 1, disponível em: http://collection.eliterature.org/2/works/ferret_fugue_book.html,
consultado a 2 de Setembro de 2015.
GENETTE, G. (1972). “Discours du récit: essai de méthode”, in Figures III- Collection
Poétique. Paris: Éditions du Seuil.
GIBSON, J. (2007). Fiction and the Weave of Life. Oxford: Oxford University Press.
GUMBRECHT, H. U. (2004). Production of Presence: What Meaning Cannot Convey.
Stanford: Stanford University Press.
HAYLES, N. K. (2005). My Mother Was a Computer: Digital Subjects and Literary
Texts. Chicago: University of Chicago Press.
HAYLES, N. K. (2008). Electronic Literature: New Horizons for the Literary. Notre
Dame: University of Notre Dame,
HOWELL, B., Sabrina Small e Jonathan Kemp (2010). exquisite_code (projeto), disponível em: http://exquisite-code.com/.
IRAN, C., Médéric Lulin e Sophie Séguin (2012). La Disparue, in Revue de Littérature
Hypermédiatique Bleu Orange, disponível em: http://revuebleuorange.org/
bleuorange/05/iran_lulin_seguin/, consultado a 2 de Setembro de 2015.
ISER, W. (1994). Der Akt des Lesens. München: Wilhelm Fink Verlag.
MANOVICH, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge, Massachusetts:
MIT Press.
373
�MARINO, M. C. (2013). “Reading exquisite_code: Critical Code Studies of Literature”, in
Comparative Textual Media. Eds. N. Katherine Hayles e Jessica Pressman, 283-309.
MORRISSEY, J. (2006). The Jew’s Daughter [2000], Electronic Literature Collection, vol.
1, in http://collection.eliterature.org/1/works/morrissey__the_jews_daughter.
html, consultado a 31 de Julho de 2014.
ONG, W. J. (1982). Orality and Literacy: the technologizing of the word. Nova Iorque:
Methuen & Co.
RALEY, R. (2001). “Reveal Codes: Hypertext and Performance”, in Postmodern Culture,
vol. 12, 1, disponível em http://muse.jhu.edu/journals/postmodern_culture/
v012/12.1raley.html, consultado a 2 de Setembro de 2015.
REIS, C. (1997). O Conhecimento da Literatura: Introdução aos Estudos Literários.
Coimbra: Livraria Almedina.
RETTBERG, S. (2013). “An Emerging Canon? A Preliminary Analysis of All References
to Creative Works in Critical Writing Documented in the ELMCIP”, disponível
em (página autor): http://retts.net/documents/Emerging_Canon_S_Rettberg.
pdf , consultado a 2 de Setembro de 2015.
RYAN, M. L. (2001). Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in
Literature and Digital Media. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
RYAN, M. L (2006). Avatars of Story. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
SCHÄFER, J. (2007). “The Gutenberg Galaxy Revis(it)ed”, in The Aesthetics of Net
Literature: Writing, Reading and Playing in Programmable Media. Eds. Peter
Gendolla e Jörgen Schäfer. Bielefeld: Transcript Verlag, pp. 121-160.
SCHÄFER, J. e Peter Gendolla, (2010). “Reading (in) the Net: Aesthetic Experience
in Computer-Based Media”, in Reading Moving Letters: Digital Literature in
Research and Teaching, A Handbook. Eds. Simanowski, Roberto, Jörgen Schäfer
e Peter Gendolla. Bielefeld: transcript Verlag, pp. 81-108.
TABBI, J. (2010). “Introduction to Focus: Cognitive Fictions – Cognition against
Narrative”, in American Book Review, Vol. 31, 6, Setembro/Outubro, disponível
em: http://americanbookreview.org/issueContent.asp?id=190, consultado a 2
de Setembro de 2015.
TABBI, J. (2011). “Cognitive science”, in Routledge Companion to Literature and
Science. Eds. Clarke, Bruce e Manuela Rossini. Nova Iorque: Routledge, 77-88.
374
�WAUGH, P. (1996). Metafiction: The Theory and Practice of Self-conscious Fiction.
Nova Iorque: Routledge.
WREDEN, D. e William Pugh (2013). The Stanley Parable, disponível em: http://www.
stanleyparable.com/, consultado a 2 de Setembro de 2015.
ZUMTHOR, P. (2007). Performance, Recepção e Leitura. São Paulo: Cosac Naify.
375
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�NARRATIVAS EM MUDANÇA:
DO FOLHETIM AOS TEXTOS TRANSMEDIA
Fernanda Castilho Santana
Universidade de São Paulo
ECA/USP-CIMJ
Introdução
O reconhecimento da importância simbólica das narrativas artificiais155 para a existência humana é uma ideia defendida por Umberto
Eco que vem sendo fortemente empregada na literatura dedicada ao
estudos das narrativas materializadas em diferentes suportes expressivos. As histórias de ficção, que encontram no meio audiovisual um caminho para alcançar os seus leitores, também assentam nessa premissa
do fascínio por aquilo que permite “[…] exercer sem limites as nossas
faculdades, quer para percebermos o mundo, quer para reconstruirmos
Umberto Eco distingue narrativas naturais e narrativas artificiais, classificando as
primeiras como relatos de acontecimentos reais (por exemplo, as narrativas jornalísticas), e as segundas como histórias de ficção, relatos que “fazem de conta que dizem
a verdade sobre o universo real” (Eco, 1997:126). No entanto, é importante considerar
que entre esta dicotomia reside uma linha ténue. “Na ficção narrativa, misturam-se
de tal maneira referências precisas ao mundo real que, depois de ter passado algum
tempo no mundo do romance e misturado elementos ficcionais com referências à realidade, como é natural, o leitor deixa de saber ao certo onde se encontra. Este estado
dá origem a fenómenos bem conhecidos. O mais comum é quando o leitor projeta o
modelo ficcional sobre a realidade – por outras palavras, quando acaba por acreditar
na existência real de personagens e acontecimentos ficcionais.” (Eco, 1997: 131).
155
377
DOI | https://doi.org/10.14195/978-989-26-1324-6_14
�o passado” (Eco, 1997: 138). Assim, estruturamos a nossa experiência
através destas histórias que operam como receptáculo das nossas
paixões, mas, sobretudo, estão na base da construção e afirmação
das nossas identidades, desde os tempos mais remotos (Costa, 2000).
Desta forma, concordamos com a posição de Cristina Castilho Costa,
na sua análise sobre a natureza e a importância das narrativas no
nascimento da cultura e as suas implicações no imaginário, quando
refere a necessidade, inerentemente humana, de organização mental dos
acontecimentos em forma de história com passado, presente e futuro
como contribuição para a consciência da finitude da vida156. Por isso,
o ato de narrar é pertença de todas as épocas e sociedades (Nogueira,
2010: 64), componente necessário para a construção da identidade,
tanto individual, como coletiva, pois “[…] ser para o homem é ter
uma história, é integrar durações e temporalidades” (Costa, 2000: 41).
Talvez por estas razões históricas, filosóficas, psicológicas e sociais
definidas por diversos autores (Eco,1997; Costa, 2000; Nogueira, 2010;
Rose, 2011), o apreço pelas narrativas desponte naturalmente durante
a infância, quando atentamos para os pormenores das histórias que
estimulam a expansão do nosso imaginário através das aventuras e delírios das personagens. A receção destas primeiras narrativas de ficção
transporta-nos para cenários imaginários e desperta a nossa tendência
de construir a vida como um romance (Eco, 1997: 135). Tanto na infância, como na vida adulta, a ficção encerra uma função lúdica, tal como
os jogos, ao criar um simulacro de situações possíveis (Eco, 1997). No
âmbito destas reconstruções do real através da ficção, o ato narrativo
De acordo com Cristina Castilho Costa, os grupos humanos encontraram nas
narrativas uma forma de temporalizar o quotidiano, organizando a realidade vivida
por meio da memória e da projeção. “As narrativas são maneiras de realizar e de
expressar nossa temporalidade, tornando-a tão objetiva quanto a certeza de nossa
finitude e transitoriedade. […] Assim, as estruturas narrativas são formas de estabelecer modulações e durações, arquitetanto a temporalidade humana.” (Costa, 2000:
41). Desta forma, os grupos humanos criaram formas de expressão como os rituais
para revelar os mitos e procurar explicações para as suas inquietações, em especial
o entendimento perante o inexorável.
156
378
�engloba uma relação que é, ao mesmo tempo, dicotómica, interdependente, fluída e simbólica, entre o narrador e o ouvinte (Costa, 2000; Rose,
2011). Como teremos a oportunidade de verificar ao longo do presente
texto, esta relação entre texto e leitor, profundamente estudada pelas
correntes da teoria literária157, modifica-se no decorrer dos tempos de
acordo com os suportes de materialização das narrativas.
Conforme indica Maria Parecida Baccega, através das palavras de
Milly Buonanno, o termo narrativa vem sendo empregado de forma
alargada para designar qualquer configuração de história, desde
“[…] a pintura rupestre à poesia épica, às obras teatrais, aos diversos
gêneros de prosa literária; da narração cinematográfica, aos quadrinhos e aos desenhos animados […]” (2012: 1291). Segundo alguns
autores (Genette, 1987; Nogueira, 2010), devido ao caráter ambíguo e
polissémico do termo158, o emprego da palavra pode gerar confusões
de fundo interpretativo. Como indicam as definições de Nogueira159,
entendemos a narrativa como conjunto formado fundamentalmente pela história e pelo enredo (forma como se conta a história). Já
na distinção entre o que se conta e o modo como se conta – outra
O surgimento da narratologia – um campo específico dentro da teoria literária –
delineia o estudo científico das estruturas narrativas e marca uma fase importante
para esta área, fundada ainda na antiguidade por Aristóteles e Platão. No início do
século XX, Tzvetan Todorov fica conhecido como precursor dos estudos narratológicos, mas outros nomes constam como responsáveis pelo desenvolvimento da análise
das narrativas como Roland Barthes, para além dos formalistas russos – movimento
surgido na Rússia, do qual Todorov também fazia parte e cujos principais representantes são os teóricos Viktor Chklovski, Vladimir Propp, Roman Jakobson, entre
outros (Booth, 2010: 89).
157
Conforme Nogueira, etimologicamente, o termo narrativa deriva do sânscrito
gnarus e significa conhecer ou dar a conhecer (2010: 63).
158
Nogueira, apesar de não citar Gérard Genette, distingue claramente três noções
semelhantes às que o autor francês propõe: “Umas vezes é utilizada para designar
o próprio ato da narração; outras, pode remeter para o conteúdo desse ato; é ainda
entendida, muitas vezes, como modo do discurso” (Nogueira, 2010: 63). Neste sentido,
vale mencionar os termos unívocos indicados por Genette para cada um dos aspetos
da narrativa: “Proponho […]denominar-se história o significado ou conteúdo narrativo
(ainda que esse conteúdo revele, na ocorrência, de fraca intensidade dramática ou
teor factual), narrativa propriamente dita o significante, enunciado, discurso ou texto
narrativo em si, e narração o ato narrativo produtor e, por extensão, o conjunto da
situação real ou fictícia na qual toma lugar” (Genette, 1987: 25).
159
379
�problemática do campo dos estudos literários – interessa-nos, fundamentalmente, uma terceira dimensão: as possibilidades de concretização de uma história num determinado dispositivo expressivo.
Dito de outra forma, o nosso interesse recai no “(…) momento em
que submetemos uma certa história a determinados dispositivos
(oralidade, escrita, audiovisual, etc.) que a reconfiguram aquando da
sua apresentação (…)” (Nogueira, 2010: 63). Esta reconfiguração das
histórias, conforme o suporte, é, precisamente, o objeto de nosso
interesse, pois, como indicam Carlos Reis e Ana Lopes, no Dicionário
de Narratologia, não devemos ignorar o facto de “(…) a narrativa
poder concretizar-se em suportes expressivos diversos, do verbal
ao icónico, passando por modalidades mistas verbo-icónicas (banda
desenhada, cinema, narrativa literária, etc.)” (2007: 271). Esta notável
capacidade de migração adaptativa entre suportes expressivos tão
distintos como da oralidade à comunicação mediada pelo computador
(CMC), em certa medida pressupõe uma transfiguração que revela o
caráter camaleónico das narrativas160.
Os primórdios das narrativas televisivas de ficção
Após esta brevíssima reflexão sobre a importância das narrativas
para estruturação da nossa experiência identitária, transferimo-nos,
agora, para a contemporaneidade, com o objetivo de apontar as
origens do género que, há mais de trinta anos, vem incutindo no
quotidiano dos portugueses uma dose de narratividade suficiente
para o reencontro com seus sonhos, mitos e conflitos íntimos: a
telenovela (Reis, 1995: 38).
A ecologia mediática contemporânea constitui um ambiente privilegiado para o
desenvolvimento e expansão das narrativas, como teremos a oportunidade de discorrer ao longo deste trabalho.
160
380
�Na literatura sobre a teleficção, tornou-se recorrente entre os autores, sobretudo no Brasil, a referência da telenovela como herdeira
do romance-folhetim do século XIX. De facto, assim como apontam
as publicações sobre o assunto (Ortiz et al., 1989; Meyer, 1996; Costa,
2000; Cunha, 2011), entre as quais destacamos o livro Folhetim de
Marlyse Meyer (1996), a estruturação da história adotada pelo folhetim-eletrónico assenta na lógica narrativa dos romances publicados
em série, no rodapé das primeiras páginas dos jornais impressos
daquela época161. No rol de características semelhantes entre os dois
formatos ficcionais, inscrevem-se: a adequação ao princípio da serialidade162, por vezes associado aos recursos narrativos como o gancho163;
a organização como obra aberta que permite certa interatividade
dos leitores e, consequentemente, pode traduzir-se num trabalho
Este espaço designado por folhetim tornou-se um hábito de leitura fortemente
implantado sobretudo no século XIX. Em Portugal, revelou-se um meio de sustento
de muito escritores que ganharam visibilidade a partir da publicação das suas obras
neste espaço, como refere Ana Teresa Peixinho “[…] O Mistério da Estrada de Sintra é,
como tantas outras obras do século XIX, um romance que, antes de vir a lume numa
edição em livro, foi publicado ao longo de dois meses em contexto jornalístico. Este
tipo de publicação era muito comum na época e os próprios jornais organizavam a
sua disposição gráfica em função da presença de textos literários de índole muito
diversificada.” (2010: 408).
161
De acordo com Reis e Lopes, “(…) uma telenovela apresenta em princípio uma
sintagmática narrativa consideravelmente dilatada, repartida em episódios de extensão regular (cerca de 45 minutos), totalizando quase sempre mais de uma centena
de unidades, exibidas ao longo de vários meses.”(2007: 402).
162
Cristina Castilho Costa (2000) aponta o gancho como elemento fundamentalmente
motivador e indispensável para as audiências, por desempenhar a tarefa de integração dos blocos entrecortados da narrativa tipicamente fragmentar da telenovela.
A partir das disposições de Umberto Eco sobre o ritmo narrativo, a autora conclui
que “o gancho sintetiza o já visto e prepara o por ver. Estabelece a ponte entre os
segmentos, costura as pontas, alinha os conflitos e justapõe os opositores.” (2000:
183), assim como “[…] elege aquilo que sintetiza a trama, o que deve ser remetido
para a memória, aquilo que representa a solução dos problemas e a satisfação dos
desejos.” (2000: 186).
163
381
�de autoria coletiva164; o estigma de produto da indústria cultural
precisamente devido a esta relação mercadológica de interferência
da opinião dos consumidores na produção artística; e, por último,
a sucessão de “intrigas recheadas de incidentes excitantes” (Reis,
1995), protagonizadas por personagens-tipo de inspiração estética
advinda da literatura oitocentista mais estereotipada (Reis, 1995:
36). Na mesma linha de pensamento, João Paulo Moreira atribui a
longevidade das narrativas seriadas a um pequeno conjunto de características estáveis e facilmente descodificáveis pelos leitores, que
o autor sintetiza como:
(…) sequencialidade narrativa; múltiplos fios de ação, habilmente
entrelaçados; uma dosagem parcimoniosa, através de breves
episódios diários; um elenco de personagens relativamente
vasto, e desse modo multiplicador das possibilidades de
identificação (Moreira, 2000: 6).
Para além das narrativas modernas como os romances-folhetim,
Costa (2000) identifica, nas narrativas populares de tradição oral,
outra matriz cultural da telenovela. As histórias repassadas de geração
em geração foram compiladas e transpostas para a forma escrita pelos
árabes, porém a origem de contos como As mil e uma noites aponta
para regiões orientais como a índia e a antiga pérsia, segundo a autora.
A permanência destes contos milenares, como fonte de inspiração
Nessa discussão, Reis e Lopes apontam que “[…] a telenovela implica uma modificação do próprio estatuto da autoria, em relação, por exemplo, ao que ocorre com
um género literário como o romance; se já neste caso o romancista dificilmente se
alheia dos gostos e preferências do público, no caso da telenovela deve afirmar-se
que são esses gostos e preferências que regem o desenvolvimento das histórias e
os destinos das personagens; reelaboradas à medida que sondagens de opinião
evidenciam as reações do público, as histórias que as telenovelas narram evoluem
em sintonia com essas reações […]” (2007: 402), na mesma linha de pensamento
de Cristina Castilho Costa sobre o trabalho coletivo dos autores, que para além da
equipa, “[…] têm acesso aos resultados das pesquisas que auferem o êxito da história
e aos comentários dos group discussion […]” (2000: 197).
164
382
�narrativa em contextos culturais diversamente contrastantes, pode
indicar que certas características como o entrelaçamento de histórias
e o processo de ritualização contribuem para a fidelização de leitores
com identidades distintas, comprovando a dimensão universal tanto
da narrativa (Costa, 2000), como, diríamos, da atração emocional pela
narrativa. De maneira semelhante, ao sistematizar as características
histórico-estruturais da telenovela, Moreira (2000) cotejou ambos os
modos ficcionais e, apesar de considerar exagerada a associação do
nascimento da narrativa seriada aos contos d’As Mil e Uma Noites – em
virtude da décalage de mais de setecentos anos entre os manuscritos
orientais e a publicação tardia no século XVIII da primeira tradução
no contexto europeu – , o autor considera inegável o impacto da
matriz metanarrativa advinda do oriente.
No mesmo sentido, o empenho na tarefa de delinear a evolução
histórica da telenovela brasileira é notável no trabalho de outros
autores, como Renato Ortiz (1989), para quem a reconstrução do
passado da telenovela apresenta tanto continuidades, como ruturas.
A partir deste movimento não-linear, antes de aclimatar-se à realidade
mediática do país nos anos 1950, sustentada pelas raízes oitocentistas165, a telenovela absorve características estruturais das produções
norte-americanas e de outros países da América latina. Em Cuba,
sobretudo em Havana, cidade onde o sistema radiofónico avançava
em conjunto com os EUA na década de 1930, devido à proximidade
de centros como Miami, despontam as primeiras experiências dramatúrgicas, fruto de uma ampla rede de radiodifusão que contava
com recursos humanos qualificados ao nível técnico e artístico (Ortiz,
Vale lembrar que a imprensa brasileira inicia a publicação das traduções dos
folhetins iniciados em Paris, como Capitão Paulo de Alexandre Dumas, divulgado
em 1838 no Rio de Janeiro pelo Jornal do Comércio, com uma diferença temporal de
poucos meses relativamente à França (Ortiz, 1989:15). Apesar deste aspeto revelar
um nível de desenvolvimento da imprensa no país, relativamente elevado para uma
sociedade colonial, todavia, o romance-folhetim não consegue ultrapassar a dimensão
elitista que acaba por caracterizá-lo no Brasil, devido ao baixo índice de escolaridade
da população (Ortiz, 1989:17).
165
383
�1989: 23). No mesmo período, a necessidade de estimular o consumo
após a Grande Depressão, que se abateu sobre os EUA no período
pós-1929, resulta no investimento das fábricas de produtos de limpeza e higiene como a Colgate-Palmolive, Lever Brothers e Protect
and Gamble, num espaço que se consolidava junto do público: os
programas radiofónicos. Este investimento revela-se crucial para o
desenvolvimento da ficção seriada na rádio, que denominar-se-á soap
opera, como alusão aos sabões utilizados nas tarefas domésticas pelo
público inicialmente maioritário destes programas, as donas-de-casa,
e ópera, como referência ao género operático destes melodramas
apoiados em temáticas que incidem sobretudo na esfera privada (Ortiz,
1989; Allen, 1995; Moreira, 2000; Cunha, 2011). Como aponta Robert
Allen, “[…] within only a few years soap operas proved to be one of
the most effective broadcasting advertising vehicles ever devised”
(1995: 2), contribuindo, fundamentalmente, para o desenvolvimento
dos sistemas de radiodifusão, tanto nos EUA, como noutros países.
Apesar da desconfiança inicial166, a televisão tornar-se-ia, a posteriori, uma plataforma de distribuição eficaz para as soaps, definidas
estruturalmente pela serialidade, em conjunto com uma estratégia de
emissão fixa e diurna para um público predominantemente feminino
e adulto (Cunha, 2011: 44). Este ícone da televisão anglo-saxónica
diferencia-se fundamentalmente da produção latino-americana pela
dimensão estrutural. Tanto na rádio, como na TV, enquanto nos
EUA as narrativas se estendem durante anos de forma repartida,
geralmente em episódios unitários de trinta a sessenta minutos com
começo, meio e fim, nos países latino-americanos, como México e
Cuba (e, posteriormente, o Brasil), as histórias desdobram-se por
um período de aproximadamente um ano, de maneira igualmente
seriada, porém com capítulos diários que serão interrompidos nos
Os anunciantes tiveram receio que os afazeres domésticos atrapalhassem a receção
feminina das soap operas num meio que, a priori, exigiria total atenção ao conteúdo
imagético (Costa, 2000; Cunha, 2011).
166
384
�momentos de tensão – estratégia denominada no Brasil como gancho. Centradas geralmente nos conflitos familiares e românticos,
as temáticas repetem-se. Contudo, a adoção de diferentes estilos
impossibilita a identificação de uma unidade na produção televisiva
seriada, destacando-se o pendor dos títulos latino-americanos para
o melodrama167 (Cunha, 2011: 54).
O início da trajetória da telenovela brasileira – matriz da ficção
televisiva portuguesa – caracteriza-se por esta miscelânea de tendências estrangeiras, sobejamente influenciada pelo modelo cubano, sobretudo na componente estrutural. No plano dos conteúdos,
a adaptação de textos consagrados da literatura internacional, em
conjunto com a inspiração derivada do cinema, associam componentes fundamentais para a alteração frequente dos eixos dramáticos
inicialmente orientados pelo modelo do melodrama latino-americano. O período de (in) definição identitária inicia-se com a primeira
telenovela, em 1951168, apresentada apenas duas vezes por semana, e
perdura durante os anos seguintes, que registam também influências
doutros campos artísticos para além da rádio, tais como o teatro e
o teleteatro (Ortiz, 1989). Entre os profissionais destes meios, reside
uma divergência de princípios, pois os atores e produtores do campo
teatral desprezavam inicialmente a telenovela por considerá-la inferior,
o que resultaria posteriormente na elevação do nível das produções
da TV. Destas raízes artístico-culturais que contrastavam com a lógica
industrial e económica inerente aos programas televisivos, a telenovela
brasileira herda uma componente crítica responsável pelo questionamento da estruturação maniqueísta que caracteriza o dramalhão
Como pontua Costa: “Quase todos os conflitos são ameaças à ordem social vigente:
filhos ilegítimos, orfandade, incestos, adultérios. As personagens envolvidas dividem-se claramente em heróis e vilões, oponentes durante toda a história, terminando
necessariamente num happy end que premeia os bons, castiga os maus, realiza o
amor romântico e reafirma as regras e os valores sociais” (2000: 149).
167
De acordo com Renato Ortiz, A sua vida me pertence, de autoria de Walter Foster,
estreou na extinta TV Tupi de São Paulo em 1951.
168
385
�latino-americano. Com o alargamento do sistema televisivo, entre as
décadas de 1950 e 1970, surgem novas emissoras, como a Excelsior,
responsável por emitir a primeira telenovela diária, em 1963: 2-5499
ocupado (Ramos e Borelli, 1989:84). Durante a década de 1950, a
Rede Globo, do grupo Roberto Marinho, conquista a concessão de
um canal e inicia a expansão do seu império audiovisual com auxílio do capital norte-americano do grupo Time-Life em 1962 (Sousa,
1998). A partir da década de 1970, no início da modernização do
panorama mediático, ainda sob um regime estatal autoritário, a Globo
alinha a sua produção tanto pelas transformações socioeconómicas
do país, como pelos ditames estatais que previam a afirmação de
uma cultura nacional (Ramos e Borelli, 1989:84). A partir daí, nota-se
um abrasileiramento da produção, fundado numa proposta estética
mais realista, o qual se inicia, segundo Immacolata Lopes, a partir
da telenovela Beto Rockfeller (TV Tupi), em 1968.
A ficção televisiva no contexto português
Quando as primeiras telenovelas portuguesas iniciaram a sua
trajetória na televisão nacional, o país estava habituado às ficções
brasileiras que se encontravam em plena fase de internacionalização
desde a década anterior (Costa, 2003). Neste sentido, a partir do
final dos anos 1970, a Rede Globo exportou os primeiros títulos de
ficção emitidos em Portugal, quando a produção nacional ainda era
inexistente e o mercado estava aberto para os produtos ficcionais
dos países mais próximos em termos de língua e cultura (Cádima,
1995; Traquina, 1997; Sousa, 1998; Teves, 2007). De maneira paradigmática, Gabriela169 (Rede Globo) inaugura o género em 1977 e
Conforme mencionamos no final deste capítulo, o estudo de Cunha (2011) comprovou a importância de Gabriela para a sociedade portuguesa da época.
169
386
�consegue parar o país em frente à TV, para além de permanecer
notadamente viva no imaginário popular dos portugueses, durante
mais de três décadas. Apesar da tradição folhetinesca da radionovela
(Moreira, 2000), Gabriela tornar-se-ia responsável pela introdução e
consequente proliferação das telenovelas em Portugal (Costa, 2003).
Com o nascimento desta paixão, confirma-se a entrada triunfal da
ficção na TV e a abertura do mercado aos títulos brasileiros, que
dominaram o panorama audiovisual até o final dos anos 1990, quando as sucessivas diretrizes legislativas170 iniciam um processo171 que
culmina no afastamento dos programas estrangeiros do horário nobre
da televisão (Costa, 2003; Cunha, 2011).
O passado da produção nacional de ficção é marcado pela estreia
da primeira telenovela portuguesa – Vila Faia (RTP1), em 1982172 ,
dois anos após o início da emissão televisiva a cores. Apenas cinco telenovelas foram produzidas no país173 durante os anos 1980,
enquanto a soberania das produções brasileiras se confirmava pelas audiências e títulos174 emitidos neste período de paleotelevisão
(Casetti e Odin, 1990), caracterizado pelo monopólio estatal da TV.
Coincide com este período a primeira fase de democratização do país
que saíra dum regime ditatorial há apenas três anos e apresentava
170
Entre elas, a Lei da Televisão (31-A/98 de 14 de julho) e a Diretiva 2001/29/CE.
De acordo com Cunha, “no final da década de noventa surgem duas organizações,
Comissão Inter-Ministerial para o Audiovisual (1997) e a Plataforma do Audiovisual,
com o objetivo de propor linhas de ação e fomentar a produção de conteúdos em
português. (…) Estas iniciativas resultaram num aumento significativo de oferta de
ficção portuguesa em todos os canais generalistas, não só em horas/emissão como
na oferta e variedade de géneros (adaptados a Portugal ou criações), nomeadamente
telenovelas, séries e telefilmes.” (2011: 30).
171
“Assinavam-no um ator de revista e cómico (Nicolau Breyner) e um produtor televisivo (Thilo Krassman). A realização era de Nuno Teixeira, um realizador da RTP,
e a produtora era a Edipim.” (Albuquerque e Vieira, 1995)
172
Vila Faia (1982), Origens (1983), Chuva na areia (1985), Palavras cruzadas (1987)
e Passerelle (1988) (Costa, 2003; Cunha, 2010).
173
Entre 1981 e 1989, foram emitidos seguintes títulos do Brasil: Água Viva (1981),
Olhai os Lírios do Campo (1981), Baila Comigo (1982), Cabocla (1982), Pai Herói
(1983), O Bem Amado (1984), Louco Amor (1985), Vereda Tropical (1986), Viver a Vida
(1986), Roque Santeiro (1987) e Sinhá Moça (1989), (Costa, 2003).
174
387
�os primeiros sinais de estabilização política, o que colaborou para
o espírito de confiança do grupo pioneiro de produtores175 (Costa,
2003; Cunha, 2011). Nos primeiros ensaios portugueses num terreno
antes desconhecido, apesar de tentar reproduzir o modelo brasileiro,
o atraso produtivo de mais de vinte anos resulta num produto nacional
de qualidade analogamente inferior à concorrência (Albuquerque e
Vieira, 1995; Costa, 2003).
(…) faltava experiência aos muitos agentes envolvidos: os
escritores estavam habituados à linguagem teatral ou de
revista; os atores moviam-se na televisão como se estivessem
no palco e não conseguiam ignorar as câmaras; não havia
técnicos de som e iluminação, a cenografia deixava muito a
desejar (Cunha, 2011: 94).
Para além disso, a pobreza do texto (Alburquerque e Vieira, 1995)
e a sonoplastia contribuem para uma certa recusa inicial das audiências. Nem a reunião de elementos e temáticas próprios da sociedade
portuguesa conseguiram cativar o público, de maneira que o êxito
desta portugalidade só despontaria quase vinte anos depois (Cunha,
2011: 94). Quer isso dizer que, mesmo após a entrada dos operadores
privados e consequente abertura à concorrência, no início da década de 1990, as estratégias continuaram voltadas para as telenovelas
brasileiras, por mais dez anos. O êxito das teleficções portuguesas só
desponta com a compra da TVI pela Media Capital, em 1999, quando
a emissora implementa uma nova estratégia centrada na criação de
celebridades nacionais que se ancoram nas telenovelas e no primeiro
reality show, resultando eficazmente na sustentação de um star system
português (Cunha, 2011). É durante a primeira década do século XXI
Nesse âmbito, Jorge Paixão da Costa destaca a produtora Edipim em conjunto com
os seguintes nomes: Nicolau Breyner, Francisco Nicholson, Nuno Teixeira e Thilo
Krassman (2003:108).
175
388
�que a ficção televisiva portuguesa atinge o seu auge em termos de
número de títulos produzidos e êxito de audiências, ancorado, por um
lado, nessas estratégias de produção integrada de conteúdos, e, por
outro lado, em termos legislativos, no protecionismo dos conteúdos
nacionais emitidos durante o prime-time.
As narrativas televisivas no digital
Diante das alterações da nova ecologia mediática, caracterizada
pelos avanços das tecnologias da informação e da comunicação,
crescem os desafios da indústria televisiva, sobretudo no tocante
à multiplicação dos ecrãs, digitalização dos conteúdos e fragmentação das audiências (Butler, 2006; Ford et al., 2011; Jost, 2011).
Mudanças que reclamam uma nova identidade da TV, fundamentada
em novas práticas interacionais e produtivas que desafiam a lógica
de programação linear e em fluxo, tensionando os seus modelos
de negócio (Ross, 2008; Jenkins, 2009; Doyle, 2010; Fechine et al.,
2013). Os conteúdos, como a ficção, obedecem essa nova lógica
cultural e económica, de estreitamento da relação entre público e
TV por meio de diferentes formas de interatividade e participação,
para além da liberdade de escolha oferecida pela TV por demanda.
Todas essas transformações, em conjunto com as plataformas de
livre acesso e partilha de conteúdos disponíveis no online, solicitam uma dupla abordagem desses campos para análise das novas
formas de acesso e relacionamento com a ficção produzida pelas
emissoras de TV de sinal aberto. Assim, o notável impacto das TIC
revela-se na adoção de novas estratégias de produção e distribuição destes conteúdos, pois atualmente quase todos os programas
de ficção televisiva experimentam o online, produzindo variados
tipos de brand extensions, atraindo os leitores para estes paratextos
infinitos (Lacalle, 2010: 98).
389
�Assim, numa cultura dos media convergentes ( Jenkins, 2009), a
incerteza sobre o futuro da televisão é dos principais assuntos discutidos atualmente na academia, inclusive em Portugal (Cádima, 1999;
Damásio, 2004; Buonanno, 2008; Butler, 2006; Jost, 2011). Será o fim
da TV ou uma revolução drástica dos modos de produção e receção
televisiva? Durante os anos 1990, as previsões sobre o impacto das
TIC no consumo dos media previam, antecipadamente, a oposição
da filosofia das redes de computadores – que operam tanto enquanto fonte, como destino – e das redes de televisão que pressupõem
uma hierarquia de distribuição (Negroponte, 1995: 191). Por isso, o
caminho para uma “evolução” da TV conjeturava a aliança destas
duas filosofias, deslocando a inteligência do emissor para o recetor
(1995: 27).
As reflexões sobre o futuro da TV neste período, em Portugal,
apontavam para o desdobramento multisuporte dos conteúdos televisivos, representando uma alteração dos fluxos para um sistema de
estoque e webcasting (Cádima, 1999: 102). Neste sentido, imaginava-se
a extinção do espartilho da grelha televisiva e oferta dos programas
em função do perfil do assinante, disponíveis numa diversificada
gama de suportes (1999: 102).
À medida que as revoluções se intensificam, arriscar um palpite
sobre os novos rumos da TV é, cada vez mais, considerada uma
missão espinhosa. A maioria dos intelectuais permanece numa zona
de conforto ao pontuar as alterações observadas nestes tempos de
indefinição. “O que será da televisão em 10 anos? Terá ainda canais ou
todos os conteúdos passarão pela internet?” ( Jost, 2011: 107). Mesmo
admitindo a dificuldade de responder estas questões, François Jost
aponta, de imediato, duas certezas:
A primeira é que o combate pela convergência será duro;
o fim do combate, incerto, e que não é fácil saber quem
ganhará: a tela da televisão ligada à internet ou a tela do
390
�computador utilizada como televisão. Não é menos difícil
prever o lugar que terá a TMP (a televisão móvel pessoal)
nas nossas vidas. A segunda certeza é que as possibilidades
da seleção pessoal e de individuação dos conteúdos vão se
multiplicar ( Jost, 2011: 107).
Sobre a primeira afirmação de Jost, é líquido que, de forma mais
ou menos conflituosa, convivem estas duas hipóteses: tanto a aproximação da TV à interatividade possibilitada pelas técnicas digitais,
como a tela do computador adotada como televisão. Assim, a chegada
doutros aparelhos permite o acesso aos programas a partir de plataformas como o YouTube, promovendo formas de receção e consumo
dos programas mais interativas e participativas ( Jenkins, 2009). No
mesmo sentido, Jeremy Butler aponta o aumento da interatividade e
do poder de decisão das audiências, além da possível produção de
conteúdos pelos públicos, como principais resultados da postnetwork
television (2006:12).
No entanto, ao observar plataformas de difusão de conteúdos audiovisuais, tais como o YouTube, como espaços culturais de participação,
é importante considerar que sites de partilha de vídeos online podem
não ser completamente opostos ao sistema de televisão broadcast.
Isso porque podem significar formas diferentes de institucionalização
da televisão, onde o poder das indústrias mediáticas ainda consegue
modelar as formas de participação (Müller, 2009: 59). De acordo com
Eggo Müller, a romântica metáfora de Jenkins sobre a convergência dos
meios, independente de qualquer mecanismo de distribuição específico,
representando uma mudança de paradigma assente em relações mais
complexas entre os media corporativos, de cima para baixo (top-down),
e a cultura participativa, de baixo para cima (bottom-up), em certa
medida, deve ser considerada como uma perspetiva utópica, devido
à estruturação institucional e cultural da TV interativa e dos sites de
partilha de vídeos (Müller, 2009: 59). Como podemos observar, cada
391
�teórico refere, nestas abordagens, a sua ideia sobre o futuro da TV, de
forma mais ou menos arrojada. No entanto, apesar da preocupação com
as mudanças nas formas de produção e consumo, poucos acreditam
no fim apocalíptico da televisão.
Como resultado destas alterações, assentes na migração do eletrónico para o digital (Vilches, 2003), notámos o surgimento de confusões terminológicas, tanto na academia, como no senso comum. Tal
como refere Scolari, os públicos continuam a nomear a atividade de
acompanhar as narrativas em diferentes plataformas com o verbo
“ver” ou “assistir”:
As pessoas dizem, por exemplo, “eu vejo Lost” ou “eu vejo
Big Brother”, mas esse “ver” é, em muitos casos, radicalmente
diferente do velho “ver” televisivo. Hoje, “ver Lost” ou “ver Big
Brother” inclui práticas como navegar na web, fazer download
de capítulos de forma ilegal, consumir vídeos no YouTube ou
discutir sobre o programa em uma rede social ou fórum. O
peso da experiência televisiva é muito forte, por esse motivo
ainda se continua a falar de ver. (Scolari, 2011: 128-129)
Em termos de ficção, em decorrência destas transformações
no consumo televisivo, observa-se a preocupação dos intelectuais
em apontar características e fixar uma designação adequada das
novas narrativas produzidas pelas indústrias da cultura. Com os
dispositivos tecnológicos disponíveis no mercado, acompanhar
uma história no século XXI significa vivenciar uma experiência
de envolvimento mais profundo com o drama (Evans, 2011). Por
isso, a proposta deste capítulo é destacar as abordagens teóricas
que indicam os caminhos desta nova ficção, denominada por diversos autores como narrativa transmedia, em inglês, transmedia
storytelling ( Jenkins, 2010; Giovagnoli, 2011; Pratten, 2011; Evans,
2011; Scolari, 2013).
392
�Textos transmedia – novo passeio pelos bosques da ficção176
Em linhas gerais, Jenkins177 define como narrativas transmedia
o relato das histórias distribuído em diversas plataformas mediáticas, com cada texto a contribuir de forma distinta e importante
para o todo (2009:138). Na era da convergência, o sucesso deste
entretenimento178 depende da vasta integração de múltiplos textos,
onde uma narrativa é concebida de forma sinergicamente ampla,
capaz de extrapolar os limites iniciais de um único meio e migrar
para outras plataformas.
A transmedia story represents the integration of entertainment
experiences across a range of different media platforms.
A story like Heroes or Lost might spread from television into
comics, the web, computer or alternate reality games, toys and
other commodities, and so forth, picking up new consumers as
it goes and allowing the most dedicated fans to drill deeper.
The fans, in turn, may translate their interests in the franchise
into concordances and wikipedia entries, fan fiction, vids, fan
films, cosplay, game mods, and a range of other participatory
practices that further extend the story world in new directions.
Both the commercial and grassroots expansion of narrative
universes contribute to a new mode of storytelling, one which
is based on an encyclopedic expanse of information which
gets put together differently by each individual consumer as
well as processed collectively by social networks and online
knowledge communities. ( Jenkins, 2010: 448).
176
Frase alusiva ao livro de Umberto Eco “Seis passeios pelos bosques da ficção” (1997).
177
Autor considerado o precursor do conceito de transmedia storytelling (Scolari, 2011).
Um exemplo deste novo entretenimento é o universo Matrix, uma trilogia cinematográfica que se desdobra em três filmes, desenhos animados, banda desenhada
e videojogos. Matrix é o principal exemplo apontado por Jenkins como narrativa
transmedia.
178
393
�Em resumo, diferentes meios estão envolvidos neste mundo ficcional (Murray, 1997), constituído por uma linha temporal longa, com
personagens mais complexas a cada plataforma explorada e relatos
diferentes entre si, apesar de emergirem de uma mesma narrativa
(Fechine e Figueirôa, 2009), originando um entretenimento penetrante (Pratten, 2011) ou deeper (Rose, 2011). Assim, para além da
expansão do universo ficcional de forma enciclopédica (Eco, 1994;
Murray, 1997), os consumidores mais atentos aos programas, como
os fãs, protagonizam este processo em conjunto com as indústrias
produtivas, indicando as suas preferências, “caçando informações” e
até modificando as histórias, de forma ativa, participativa e coletiva
( Jenkins, 2009:185).
A emergência desse novo campo de estudos fomenta o labirinto
terminológico e conceptual, originando significados pacificamente
complementares ou criticamente antagónicos. Em relação ao conceito
de transmedia storytelling, Jenkins (2010: 944) indica outras formas
de definição da mesma ideia como deep media (Rose, 2011) e crossmedia179 (Dena, 2009; Davidson et al., 2010), assim como Elizabeth
Evans aponta a existência de abordagens muito semelhantes sobre
o mesmo fenómeno (2011: 19).
Na mesma linha de pensamento, Scolari (2013) identifica o crescimento de uma galáxia semântica em torno do conceito de transmedia
storytelling – um planeta dentro de uma imensa galáxia conceitual,
formada por termos que procuram nomear uma só experiência: a
prática de produção de sentido e interpretação, baseada em histórias
que se expressam através da combinação de linguagens, meios e
Ao definir o termo, os autores explicam como opera a comunicação crossmedia:
“Cross-media refers to integrated experiences across multiple media, including the
Internet, video and film, broadcast and cable TV, mobile devices, DVD, print, and
radio. The new media aspect of the “cross-media experience” typically involves some
high level of audience interactivity. In other words, it’s an experience (often a story
of sorts) that we “read” by watching movies, dipping into a novel, playing a game,
riding a ride, etc.” (Davidson et al., 2010: 23).
179
394
�plataformas (Scolari, 2003: 26). Em concordância, Giovagnoli (2011)
indica que a história de definição do conceito ainda permanece em
construção e cabe aos académicos e companhias produtoras escrevê-la
com propriedade. Assim como Scolari, este autor traça um estado
da arte esclarecedor sobre o assunto, clarificando a origem e o uso
deste termo por amadores e profissionais. O trabalho de Giovagnoli
foi reconhecido por Jenkins como uma das obras mais académicas
da área180, em contraste com os diversos manuais181, publicados nos
últimos anos, para os potenciais criadores transmedia.
Giovagnoli (2011: 23) descreve a genealogia do conceito, apontando
o trabalho da investigadora americana Marsha Kinder Playing with
Power in Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies
to Teenage Mutant Ninja Turtles, livro lançado em 1991, como precursor, no ocidente, do termo transmedia, onde ela refere projetos
comerciais em múltiplos meios que formam supersistemas transmedia
das marcas globalmente distribuídas. Do lado da produção, o CEO
da Time inc. Paul Zazzera, menciona, em 1996, o conhecido termo
crossmedia, refinado posteriormente pelos investigadores Christy
Dena e Jak Bouman, para designar os projetos desta linha (Giovagnoli,
2011: 24). Mais tarde, em 2003, Jenkins publica na revista do MIT
um artigo182 , elucidando as características destas experiências, difundidas globalmente, de forma inesperada e aleatória (Giovagnoli,
2011: 24). Por último, a indústria cinematográfica americana adere
ao termo, acrescentando nos créditos finais dos filmes produzidos
Jenkins refere-se ao livro Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes and Techniques
(Giovagnoli, 2011).
180
Entre os manuais para produtores transmedia lançados nos últimos anos temos:
Getting started with storytelling (Pratten, 2011); The Producer’s Guide to Transmedia:
How to Develop, Fund, Produce and Distribute Compelling Stories Across Multiple
Platforms (Bernardo, 2011); A Creator’s Guide to Transmedia Storytelling: How to
Captivate and Engage Audiences Across Multiple Platforms (Phillips, 2012).
181
Jenkins, H. (2003). “Transmedia storytelling. Moving characters from books to films
to video games can make them stronger and more compelling”. Technology Review. [Disponível em] http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling/
182
395
�em Hollywood a função do produtor transmedia, conforme descreve
o guia de orientação de Jeff Gomez (Giovagnoli, 2011: 25).
De acordo com Evans (2011), é importante pontuar as diferenças entre as narrativas transmedia e as produções tradicionais
de ficção, tendo vista que a materialização das narrativas sempre
ocorreu em plataformas diferentes (2011: 19). Ao definir este
conceito, Jonathan Gray (2010: 23), classifica os elementos de
expansão do universo ficcional (promoções, spoilers e spin-offs)
utilizando a expressão de Gérard Genette183 : paratextos. Assim, se
as narrativas podem concretizar-se em diversos suportes expressivos – verbais, icónicos ou verbo-icónicos (Reis e Lopes, 2007:
271), o fenómeno da narrativa transmedia não seria inteiramente
novo, apesar das suas qualidades experimentais e inovadoras
( Jenkins, 2009: 172).
Conforme indica o produtor Nuno Bernardo, fundador da
beActive184, por baixo do guarda-chuva transmedia encontramos diferentes técnicas e abordagens, tais como: a extensão da marca (modelo
fortemente implementado pelas empresas de TV, como websites e
aplicativos para telemóvel – extensões do produto principal); produção para web (webisodes e mobisodes – conteúdos exclusivamente
produzidos para dispositivos móveis); mundos transmedia (comum
nas empresas Hollywood para criar um mundo a partir ficção) e
transmedia orgânico (projetos menores originalmente pensados para
um número limitado de plataformas).
De acordo com a definição de Gerárd Genette “(…) the paratext is what enables a
text to become a book and to be offered as such to its readers and, more generally,
to the public.” (2001:1). Por outras palavras, o paratexto é um prolongamento da
obra original que depende das formas de mediação, pois, antes de serem publicados
como livro, os textos não possuem elementos paratextuais como título, subtítulos,
intertítulos, prefácios, preâmbulos, apresentação e outras informações adicionais
que influenciam o consumo dos leitores.
183
Em termos de produção de conteúdos de ficção transmedia, a beActive é uma
referência em Portugal.
184
396
�(…) transmedia storytelling involves creating content that
engages the audience using various techniques to permeate
their daily lives. In order to achieve this engagement, a
Transmedia production will develop storytelling across
multiple forms of media in order to have different entry points
into de story. These entry points are the places where the
audience can access content, with each point also providing
their own unique perspective on the overall story (Bernardo,
2011: 3).
No intuito de sugerir como planear uma experiência transmedia
satisfatória, que entusiasme os consumidores e os induza a colaborar
com a expansão do relato (Scolari, 2013: 114), Robert Pratten (2011)
descreve em seu manual as principais diferenças entre as franquias185
tradicionais e as transmedia. O modelo de negócio proposto por
Pratten (2011: 84) assenta na produção inicial de conteúdos de baixo
orçamento (low-cost), com o objetivo de angariar audiências e fundos
para execução do projeto completo. Em termos de conteúdos, para
conseguir atingir os resultados esperados, a ideia é escrever histórias
com diversas camadas e sub-plots – enredos paralelos – destinados
especificamente aos dispositivos móveis para fruição em tempo real
ou por demanda (2011: 84).
Neste sentido, Pratten indica dois caminhos opostos para iniciar um
projeto transmedia: a elaboração prévia da narrativa186 e, a seguir, da
experiência187 ou vice-e-versa. Por razões económicas, tanto Pratten,
como Bernardo, preferem começar o projeto imaginando a experiência
transmedia em primeiro lugar, pois uma narrativa ambientada noutro
país, por exemplo, exige um esforço muito maior de produção que
Os produtores usam o termo franquia para indicar a marca (e.g. Diário de Sofia)
que vai gerar produtos distintos.
185
186
187
Escolha do género, enredo, personagens, localização geográfica e etc.
Cronograma, plataformas, localização e agency (nível de controle das audiências).
397
�deve ser inicialmente previsto. Assim, estes produtores assumem
que as narrativas ficam subordinadas ao suporte de materialização.
É importante referir, ainda, que cada empresa procura aperfeiçoar o
modelo anterior, como esclarece o criador de Diário de Sofia:
Ao modelo de Robert Pratten eu adiciono um overlap, ou seja,
não repetir o conteúdo, mas adicionar elementos que fazem
overlap, porque na peça de puzzle perfeita não há overlap de
conteúdos e isso também é desinteressante. O que cria algo
mais rico para a experiência são os elementos de um formato
que aparecem no outro (Bernardo, 2014).
Do ponto de vista teórico, após refletir sobre este fenómeno e
realizar um estudo de receção no Reino Unido, com o público de
duas séries188 , Evans concluiu que a principal diferença entre os
antigos fluxos ficcionais – como os romances literários adaptados
para o cinema ou TV – e os transmediáticos, seria a expansão das
histórias para outros formatos conforme três preceitos: combinação
narrativa, autoria e coerência temporal (Evans, 2011: 38).
Em termos de combinação narrativa, a forma ideal de transmediação pressupõe alteração ligeira do conteúdo e interligação entre
os meios, onde cada plataforma oferece oportunidades diferentes
de fruição da história ( Jenkins, 2009:139). Por outras palavras, o
universo narrativo é explorado de acordo com as potencialidades
de cada meio, evitando a redundância e oferecendo novos níveis de
revelação e experiência, pois a repetição aborrece os leitores (2009:
138). Por seu turno, Dena (2009: 55) defende que o emprego de distintos media modificam por si os processos de construção de significados da mesma história, sem necessitar de remodelação a priori
dos conteúdos, pois os usos dos meios implicam a compreensão dos
188
24 (FOX) e Spooks (BBC), respetivamente.
398
�affordances189 do mesmo – um videojogo oferece formas de interação
diferentes do livro ou do filme.
Ao contrário de algumas adaptações190 e outras formas de intertextualidade191, a autoria dos conteúdos transmedia, normalmente,
concentra-se na figura da empresa produtora dos conteúdos, como
no caso da beActive em Portugal. Nuno Bernardo (2011; 2014) refere em seu manual192 para produtores transmedia que a estratégia
de marketing brand extension – lançamento de diferentes produtos
com a mesma marca – é uma das características da produção transmedia. No mesmo sentido, Jenkins aponta esta unidade de criação
e controle dos conteúdos como elementos importantes para o êxito
das franquias transmedia (2009:150).
Sobre a questão da temporalidade, o lançamento dos produtos
transmedia deve ocorrer em períodos previamente combinados, nas
várias plataformas envolvidas, diferindo das adaptações existentes
no mercado, lançadas, por vezes, após meses ou anos da difusão do
produto “original” (Evans, 2011: 36). Jeff Gomez193 corrobora esta
ideia, esclarecendo que na produção transmedia nativa os projetos
são desenhados desde o início para operar em várias plataformas
A autora emprega este termo para indicar as características de cada meio de
comunicação.
189
Adaptação – tradução intersemiótica de um mesmo relato de um sistema de significação a outro – ou transmutação, no contexto audiovisual, é a transformação do
signo arbitrário constituído pela palavra (escrita) em signo icónico, processo próprio
destes meios, tanto do cinema, como da televisão (Balogh e Mungioli, 2009: 317).
190
De acordo com Costa, a intertextualidade – interpenetração de signos e mensagens
de outros meios na narrativa original – é um elemento próprio das ficções produzidas
para a televisão: “[…] a telenovela acaba se transformando numa teia intertextual
de formas expressivas que se reforçam continuamente intercambiando influências
(Costa, 2000: 167).
191
Neste manual, Bernardo refere também a necessidade de gestão adequada da
propriedade dos produtos para evitar certas armadilhas, tais como a apropriação
indevida de ideias e aconselha, em caso de licenciamento da marca, a contratação
de um agente para negociar estes acordos (2011: 131).
192
Presidente e CEO da empresa americana de conteúdos transmedia Starlight Runner Entertainment.
193
399
�mediáticas de maneiras diferentes, assim como aconselha a bíblia194
de Bernardo (2011: 24) sobre o transmedia orgânico e a necessidade
de definir previamente um cronograma para a história.
Em resumo, as três características apontadas por Evans colaboram
para o entendimento do que define a narrativa transmedia, embora
a nossa perspetiva não consiga ignorar a tensão entre produtores e
consumidores como uma quarta diferença entre os antigos fluxos
narrativos e a atual abordagem transmedia. Neste sentido, a introdução da internet como mediação contribui para desestruturação dos
limites entre texto e leitor, resultando em profundas alterações nos
processos de produção e receção de conteúdos de ficção (Booth, 2010).
O estilo de vida imersivo dos fãs, demonstrado no estudo de receção de Evans, revelou que estas audiências experienciam as narrativas imaginando uma terra prometida (2011: 91), no mesmo sentido
que Janet Murray (1997) refere a ficção no digital como um lugar
encantado, e, também, Sam Ford concebe as soaps como immersive
story world (Ford et al., 2011: 240). Segundo este autor, a imersão
na narrativa pode resultar em práticas simbólicas como recontar os
momentos da vida das personagens (2011: 240). De maneira geral, se
por um lado, os fãs exercem a inteligência coletiva influenciados pelo
potencial imersivo do transmedia (Kosnik, 2011), por outro, valem-se
destes apelos da indústria mediática como ferramenta de resistência,
expondo as críticas sobre os programas favoritos (Hills, 2011).
Ao relatar a sua experiência nas indústrias televisiva e cinematográfica americana, Frank Rose afirma que o controle das ficções
está crescentemente subordinado à opinião das audiências nos media
sociais, originando uma verdadeira crise de autoria: “The author
starts the story; the audience complete it. The author creates the
characters and the situation they find themselves in; the audiences
Vários autores referem a chamada “bíblia transmedia”, que define a estrutura do
projeto, orientando a produção transmedia (Bernardo, 2011; Scolari, 2013; Antunes,
2014).
194
400
�responds and makes it their own.” (Rose, 2011: 88). O autor destaca
as relações estabelecidas entre os fãs e os perfis das personagens
no Twitter, citando como exemplo a série Mad Men. Segundo Rose,
os produtores já não conseguem prever os resultados da interação
das audiências com as personagens favoritas, sobretudo devido aos
perfis e histórias criados pelos próprios fãs (2011: 93).
Conclusão
Diante das reconfigurações das formas de consumo televisivo, a
preocupação com o futuro deste meio destaca-se como problemática
central dos estudos que privilegiam a análise do universo audiovisual. Tanto teóricos, como produtores, esforçam-se para prever se
esta revolução drástica dos modos de produção e receção televisiva
vai desembocar num final trágico para o meio. Com auxílio do pensamento dos autores que refletiram acerca das narrativas ficcionais,
sobretudo no que toca o suporte televisivo, concluímos que a análise
destas alterações deve compreender ambas dimensões – produção
e receção – dado que encontra-se nesta relação a chave para o entendimento de tal problemática. A partir desta certeza, verificámos
que a lógica produtiva dos conteúdos ficcionais iniciou um percurso
integrado de construção de novos mundos possíveis para os exigentes
consumidores do século XXI. Este caminho é marcado pelo surgimento do conceito de narrativas transmedia, do inglês, transmedia
storytelling, que assenta na produção duma experiência ficcional
mais alargada que extrapola os limites da televisão.
Apesar do modelo encontrar-se em permanente discussão, percebemos, claramente, neste debate, que nem todas as narrativas que
migram para multiplataformas podem ser classificadas como histórias
transmedia. Por outras palavras, uma interpretação mais hermética
do transmedia aplicado ao storytelling aponta para a construção de
401
�mundos possíveis, materializados em diversos suportes expressivos,
onde cada texto contribui de forma distinta para o desenvolvimento
da mesma história. Este novo padrão difere das antigas extensões
narrativas, sobretudo porque integra um conjunto de regras definidas
previamente pelas indústrias produtivas. Entre estas determinações,
podemos destacar: a criação de uma bíblia transmedia – manual de
orientação utilizado pelos produtores – que define a composição narrativa; a concentração da autoria produtiva; a organização temporal
dos lançamentos em diferentes plataformas; o uso acentuado de espaços interativos, tais como as redes sociais na internet; e o incentivo
ao envolvimento e participação ativa das audiências. Em resumo, os
prolongamentos da obra original são estratégias previamente arquitetadas pelos autores e, em grande medida, podem sofrer influência
das ações dos fãs.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALBUQUERQUE, D. E VIEIRA, A. (1995). “As Telenovelas em Portugal – história e
teoria do género”, in O Fenómeno Televisivo. Lisboa: Círculo de Leitores.
ALLEN, R. C. (Ed.). (1995). To be continued: soap operas around the world. Nova
Iorque: Routledge.
ANACOM (2012), Lei da televisão, Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho. [online]. [Acedido em
27/05/2013]. Disponível em: http://www.anacom.pt/render.jsp?Contentid=958757
BACCEGA, M. A. (2012). “Ressignificação e atualização das categorias de análise da
“ficção impressa” como um dos caminhos de estudo da narrativa teleficcional”,
in Comunicación. Sevilha, 1(10), pp. 1290-1308.
BACCEGA, M. A., CUNHA, I. F.; TONDATO, M.; MACEDO, D. e SANTANA, C. (2009).
Gêneros televisivos e publicidade no prime-time português e brasileiro: a recepção como suporte das relações entre comunicação e práticas de consumo.
Anuário internacional de comunicação lusófona 2009: memória social e dinâmicas identitárias.
402
�BERNARDO, N. (2011). The Producer’s Guide to Transmedia: How to Develop, Fund,
Produce and Distribute Compelling Stories Across Multiple Platforms. Beactive
books.
BORELLI, S. (2001). “Telenovelas brasileiras: balanços e perspectivas”, in São Paulo
em Perspectiva, 15 (3), pp. 29-36.
BOOTH, P. (2010). Digital fandom. Nova Iorque: Peter Lang Publishing.
BUONNANO, M. (2005). “La masa y el relleno. La miniserie en la ficción italiana”, in
Designis, Publicación de la Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS),
7, pp. 19-30.
BUONNANO, M. (2008). The age of television: experiences and theories. Bristol:
Intellect books.
BUTLER, J. G. (2006). Television: Critical methods and applications. Taylor & Francis
e-Library.
CÁDIMA, F. R. (1995). O Fenómeno Televisivo. Lisboa: Círculo dos leitores.
CÁDIMA, F. R. (1999). Desafios dos novos media: a nova ordem política e comunicacional. Lisboa: Notícias.
CASETTI, F. e ODIN, R. (1990). “De la paléo-à la néo-télévision”. Communications,
51(1), pp.9-26.
CASTILHO SANTANA, F. (2010). Telenovela e Recepção: um estudo com famílias da
‘classe trabalhadora’ portuguesa. Tese de Mestrado, Universidade de Coimbra.
CHETA, R. (2006). “Estratégias de Sucesso na Ficção TV Nacional: O Estudo de caso
das’ telenovelas juvenis’”, in Obercom-Research Report.
CHETA, R., e ABOIM, S. (2007). “Era uma vez... Fábulas, romances, quotidianos.
Imagens da vida privada nas telenovelas portuguesas”, in Working Report do
Obercom, Lisboa: Obercom.
COSTA, C. C. (2000). A milésima segunda noite: da narrativa mítica à telenovela
análise estética e sociológica. São Paulo: Fapesp.
COSTA, J. P. (2003). Telenovela, um modo de produção, o caso português. Lisboa: Ed.
Universitárias Lusófona.
CUNHA, I. F. (2008). “Ficção televisiva e entretenimento”, in XXXI Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação – I Colóquio Bi-Nacional de Ciências
da Comunicação Brasil-Portugal, setembro 2008. Natal – RN.
403
�CUNHA, I. F. (2010), “Audiências e recepção das telenovelas brasileiras em Portugal”,
in Comunicação, mídia e consumo. 7 (20), pp. 91 – 118.
CUNHA, I. F. (2011). Memórias da Telenovela – Programas e Recepção. Lisboa: Livros
Horizonte.
CUNHA, I. F. (2012). Análise dos Media. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
CUNHA, I. F.; BURNAY, e CASTILHO SANTANA, F. (2010). “Portugal: Ficção Sem
Crise”, in LOPES, M.I. e OROZCO, G. (Eds.) Convergêrcias e Transmidiação Da
Ficção Televisiva: Obitel 2010. Rio de Janeiro: Sulina, pp. 345-380.
CUNHA, I. F.; BURNAY, e CASTILHO SANTANA, F. (2011). “Portugal: Novos Desafios”,
in Lopes, LOPES, M.I. e OROZCO (Eds.). Qualidade Na Ficção Televisiva e
Participação Transmidiática Das Audiências. Observatório Ibero-Americano
Da Ficção Televisiva Obitel. Rio de Janeiro: Sulina, pp. 447-484.
CUNHA, I. F.; BURNAY, e CASTILHO SANTANA, F. (2012). “Portugal: velhas estratégias
para novos tempos”, in LOPES, M.I. e OROZCO (Eds.). Transnacionalização
Da Ficção Televisiva Nos Países Ibero-Americanos: Anuário Obitel 2012. Porto
Alegre, pp.447-483.
DOYLE, G. (2010). “From Television to Multi-Platform Less from More or More for
Less?”, in Convergence: The International Journal of Research into New Media
Technologies, 16(4), pp. 431- 449.
ECO, U. (1991). Apocalípticos e Integrados. Lisboa: Difel.
ECO, U. (1994). Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. Lisboa: Difel.
EDER, J.; JANNIDIS, F. e SCHNEIDER, R. (Eds.). (2010). Characters in fictional
worlds: Understanding imaginary beings in literature, film, and other media, 3,
Walter de Gruyter.
EVANS, E. (2011). Transmedia Television: Audiences. New Media And Daily Life. Nova
Iorque: Routledge.
FECHINE, Y.; GOUVEIA, D.; ALMEIDA, C.; COSTA, M.
e ESTEVÃO, F. (2011).
“Transmidiação: explorações conceituais a partir da telenovela brasileira”, in
LOPES, M.I.V. (Ed.). Ficção televisiva transmidiática no Brasil: plataformas,
convergências, comunidades virtuais. Porto Alegre: Meridional.
FECHINE, Y. e FIGUEIRÔA, A. (2013). “Como pensar os conteúdos transmídias na
teledramaturgia brasileira? Uma proposta de abordagem a partir das telenovelas
404
�da Globo”, in LOPES, M.I.V. (Ed.). Ficção televisiva transmidiática no Brasil:
plataformas, convergências, comunidades virtuais. Porto Alegre: Meridional.
GENETTE, G. (1987). Discurso da Narrativa. Lisboa: Vega.
GIOVAGNOLI, M. (2011), Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes And Techniques.
Pittsburgh: Etc Press.
JENKINS, H. (2009). Cultura da convergência. São Paulo: Aleph.
JENKINS, H. (2010a), “Transmedia Storytelling and Entertainment: An annotated
syllabus”, in Journal of Media & Cultural Studies, 24 (6), pp. 943-958[online].
[Acedido em 08/01/2014]. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/10304312
.2010.510599
JENKINS, H. (2010b). “How youtube became ourtube”, disponível online em
‘Confessions of an Aca-fan’; [online]. [Acedido em 29/11/2013]. Disponível em:
http://henryjenkins.org/2010/10/how_youtube_became_ourtube.html
JOST, F. (2011). “Novos comportamentos para antigas mídias ou antigos comportamentos para novas mídias?”. in MATRIZes, 4 (2), pp. 93-109.
LACALLE, C. (2010). “As novas narrativas da ficção televisiva e a Internet”, in MATRIZes,
3 (2), pp. 79-102.
LOPES, M.I. V. (2009). “Telenovela como recurso comunicativo”, in MATRIZes, 3 (1),
pp. 21-47.
Meyer, M. (1996). Folhetim: uma história. Editora Companhia das Letras.
MOREIRA, J. P. (2000), “Avatares da Telenovela: Para uma caracterização histórico-estrutural do género”, in DAMÁSIO, M. e JORGE, R. P. (Eds). Imagens e
Reflexões: Actas da 2ª Semana Internacional do Audovisual e Multimédia.
Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, pp.70-80.
MÜLLER, E. (2009). “Where quality matters: discourses on the art of making a youtube
vídeo”, in VONDERAU, P. e SNICKARS, P. (Eds.). The Youtube Reader. National
library of Sweden, pp. 126-139.
MURRAY, J. (1997). Hamlet on the Holodeck – The future of narrative in cyberspace.
Cambridge: The MIT Press.
NEGROPONTE, N. (1995). Ser Digital. Lisboa: Caminho da Ciência.
NOGUEIRA, L. (2010). Manuais De Cinema I–Laboratório De Guionismo. Portugal:
Labcom Books.
405
�ORTIZ, R.; BORELLI, S. e RAMOS, J.M. (1989). Telenovela: história e produção. São
Paulo: Editora Brasiliense.
PEIXINHO, A. T. (2010). A epistolaridade nos textos de imprensa de Eça de Queirós.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/ FCT.
POLICARPO, V. M. (2006). Viver a telenovela: um estudo sobre a recepção. Lisboa:
Livros Horizonte.
PRATTEN, R. (2011). Getting started with storytelling. Createspace.
REIS, C. (1995). “Atração Fatal: sobre a telenovela como ilusão e verdade”, in REIS,
C. (ed.). Discursos: Revista de Estudos de Língua e Cultura portuguesa, n.10,
Coimbra: Universidade Aberta, pp.25-42.
REIS, C. (2012). “A sobrevida das personagens”. [online]. [Acedido em 16/02/2013].
Disponível em: https://figurasdaficcao.wordpress.com/2012/10/01/a-sobrevida-das-personagens-3-2/
REIS, C. e LOPES, S. C. M. (2007). Dicionário de Narratologia. Coimbra: Almedina.
ROSE, F. (2011). The art of immersion: How the digital generation is remaking
Hollywood, Madison Avenue, and the way we tell stories. Nova Iorque: WW
Norton e Company.
ROSS, S. M. (2009). Beyond the box: Television and the Internet. Wiley. Com.
RTP (2011), Lei da Televisão, Lei n.º 31-A/98, de 14 de julho. [online]. [Acedido em
05/09/2013]. Disponível em: http://www.rtp.pt/wportal/grupo/leitv.htm
SCOLARI, C. A.; M. Jiménez, M. Guerrero (2012). “Narrativas Transmediáticas En
España: Cuatro Ficciones En Busca De Un Destino Cross-Media”, in Comunicación
Y Sociedad, 25 (1), pp. 137-163.
SCOLARI, C. A. (2011), “A construção de mundos possíveis se tornou um processo
coletivo”, in MATRIZes. 4 (2), pp. 127-136.
SCOLARI, C. A. (2013). Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan. Deusto.
TEVES, V. H. (2007). RTP, 50 anos de História. Lisboa: RTP.
TORRES, E. C. (2012). “Folhetim, uma história sem fim: dos primeiros jornais de
massas à Internet”, in Lumina, 6(2).
TODOROV, T. (1970). As estruturas narrativas. São Paulo: Editora Perspectiva
TRAQUINA, N. (1997). Big Show Media: viagem pelo mundo do audiovisual português. Lisboa: Notícias.
406
�TRAQUINA, N. (2000). O poder do jornalismo: análise e textos da teoria do agendamento. Coimbra: MinervaCoimbra.
TURKLE, S. (1989). O segundo eu: os computadores e o espírito humano. Lisboa:
Presença.
TURKLE, S. (1997). A vida no ecrã – a identidade na era da Internet. Lisboa: Relógio
d’água.
VILCHES, L. (2003). A migração digital. São Paulo: Edições Loyola.
407
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�NOTAS BIOBIBLIOGRÁFICAS DOS/AS AUTORES/AS
Alciane Baccin
Doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS/Brasil), em estágio doutoral sanduíche na Universidade da
Beira Interior (UBI/Portugal). Investigadora dos Grupos de Pesquisas:
Jornalismo Digital (UFRGS) e Estudos de Jornalismo (Unisinos).
Bolsista CAPES – PDSE, Processo BEX: 8806/14-4. E-mail: alcianebaccin@gmail.com
Aletheia Patrice Rodrigues Vieira
Mestra em Jornalismo e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação
da Faculdade de Comunicação – PPG/FAC da Universidade de Brasília
– UnB, especialista em Jornalismo Político pela Universidade Gama
Filho – UFG e graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela
Universidade Federal do Pará – UFPA. Email: aletheiavi@gmail.com
Ana Paula Arnaut
Ana Paula Arnaut nasceu a 12 de junho de 1964. É doutorada com
agregação pela Universidade de Coimbra, onde leciona Literatura
Portuguesa Contemporânea. Publicou Memorial do Convento.
História, Ficção e Ideologia (1996), Post-Modernismo no Romance
Português Contemporâneo: Fios de Ariadne-Máscaras de Proteu
(2002), Homenagem a Cristóvão de Aguiar: 40 anos de vida literária
(org.) (2005), José Saramago (2008), Entrevistas com António Lobo
Antunes. 1979-2007. Confissões do Trapeiro (ed.) (2008), António
409
�Lobo Antunes (2009), António Lobo Antunes: a Crítica na Imprensa.
1980-2010. Cada um Voa como Quer (ed.) (2011). As mulheres na
ficção de António Lobo Antunes. (In)variantes do feminino) (2012),
Viagens do Carnaval: no espaço, no tempo, na imaginação (coedição
com Maria Aparecida Ribeiro) (2014). Tem também artigos publicados
em inúmeras revistas nacionais e internacionais.
Ana Teresa Peixinho
Nasceu em Coimbra em 1971. É doutorada pela Universidade
de Coimbra em Ciências da Comunicação e é Professora Auxiliar
da Faculdade de Letras da mesma Universidade. Investigadora do
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) e do
Centro de Literatura Portuguesa (CLP), tem-se dedicado aos estudos
queirosianos, no âmbito dos quais integra o projeto de Edição Crítica
da obra de Eça de Queirós. Também integra o grupo de trabalho do
projeto “Figuras da Ficção”, coordenado por Carlos Reis, onde tem
desenvolvido investigação sobre narrativas e personagem.
Bruno Araújo
Bruno Araújo é doutorando do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Sociedade da Universidade de Brasília. Mestre e licenciado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Coimbra,
onde defendeu a dissertação “Media, Justiça e Espaço Público: a cobertura jornalística do julgamento do mensalão em Veja e Época”. É
investigador do Núcleo de Estudos em Mídia e Política e do Grupo de
Pesquisa Cultura, Mídia e Política, ambos da Universidade de Brasília.
É membro colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20).
Carlos Reis
Carlos Reis é professor catedrático da Universidade de Coimbra,
sendo especialista em Literatura Portuguesa dos séculos XIX e XX,
410
�sobretudo no domínio dos estudos queirosianos. Autor de cerca
de vinte livros, ensinou em diversas universidades da Europa, dos
Estados Unidos e do Brasil. É doutor honoris causa pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Dirige a Edição Crítica
das Obras de Eça de Queirós e coordenou a História Crítica da
Literatura Portuguesa (9 vols.). Foi diretor da Biblioteca Nacional,
reitor da Universidade Aberta, presidente da Associação Internacional
de Lusitanistas e da European Association of Distance Teaching
Universities. É membro correspondente da Real Academia Española
e da Academia das Ciências de Lisboa. Presentemente é coordenador científico do Centro de Literatura Portuguesa, onde coordena o
projeto de investigação “Figuras da Ficção”.
Célia Mota
Célia Maria Ladeira Mota é doutora em Comunicação, pesquisadora
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade
de Brasília. Autora dos livros Narrativas Midiáticas e Narrativas da
Identidade Brasileira, é integrante do grupo de pesquisa Cultura,
Mídia e Política da UnB, e associada à SBPJOR, Sociedade Brasileira
de Pesquisadores em Jornalismo. Email: cladmota@gmail.com
Daniela Maduro
Daniela Côrtes Maduro é mestre em Estudos Anglo-Americanos.
Em 2014, finalizou o Doutoramento em Materialidades da Literatura
na Universidade de Coimbra, durante o qual contou com o apoio de
uma Bolsa Individual de Doutoramento concedida pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia. O seu trabalho de investigação centra-se na área das humanidades digitais. Tem escrito sobre literatura
eletrónica, ficção científica, cibercultura, materialidades da literatura, teoria da literatura, narratologia, arquivo e curadoria de obras
literárias. Presentemente, encontra-se a desenvolver o seu projeto
de pós-doutoramento na Universidade de Bremen.
411
�Fernanda Castilho
Pós-doutoranda na Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo (ECA-USP). Doutora em Ciências da Comunicação e
Mestre em Comunicação e Jornalismo, ambos pela Universidade de
Coimbra. Professora da Faculdade de Tecnologia do Governo do
Estado de São Paulo, FATEC. Investigadora do CETVN (Centro de
Estudos de Telenovela) e do OBITEL (Observatório Ibero-Americano
de Ficção Televisiva). Membro do CIMJ (Centro de Investigação Media
e Jornalismo).
Fernando Resende
Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São
Paulo, Pós-doutorado na School of Oriental and African Studies
(SOAS – University of London – Inglaterra), Mestre em Estudos
Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado
em Comunicação Social – Jornalismo pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais. Professor do curso de Estudos de Mídia e
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Departamento
de Mídia e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense
(UFF), onde coordena o [LAN] Laboratório de Experimentação e
Pesquisa de Narrativas da Mídia. Coordenador local do Erasmus
Mundus Joint Doctorate – Cultural Studies in Literary Interzones
(UFF/Bergamo/Tübingen/Perpignan/Delhi) e do Projeto de Pesquisa
Literary Cultures of the Global South (DAAD/Tübingen Universität,
Alemanha). Pesquisador associado do Centre for Film and Media
Studies e do Centre for Palestinian Studies da School of Oriental and
African Studies (SOAS), da University of London, Inglaterra. Professor
visitante na Université de Perpignan, França e na Universität Tübingen,
Alemanha. Pesquisador PQ/CNPq interessado nos estudos das narrativas de conflito e dos movimentos diaspóricos, com ênfase em teoria
e estudos da Comunicação e do Jornalismo, atuando principalmente
nos temas: jornalismo, discurso, narrativas, cultura, comunicação,
412
�alteridade, conflito e Oriente Médio. Membro de Comitês Científicos
de diversos periódicos nacionais e internacionais, com vários artigos
publicados em revistas científicas e capítulos de livros.
Link para CV completo e lista de publicações: http://lattes.cnpq.
br/5520975095445897
Hélder Prior
Hélder Prior é Pós-Doutor pela Faculdade de Comunicação da
Universidade de Brasília (PNPD/CAPES). É Doutor Europeu em Ciências
da Comunicação pela Faculdade de Artes e Letras da Universidade
da Beira Interior (UBI). Licenciou-se em Ciências da Comunicação,
especialidade em Jornalismo, na mesma instituição, em 2007. É membro integrado do LabCom.IFP da UBI e investigador colaborador do
Observatorio Iberoamericano de la Comunicación da Universidade
Autónoma de Barcelona, instituição onde desenvolveu parte do trabalho doutoral. Atualmente, é investigador de Pós-Doutoramento na
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Ivan Satuf
Doutor em Ciências da Comunicação na Universidade da Beira
Interior (UBI/Portugal) e investigador do LabCom.IFP. Graduado em
Jornalismo (PUC Minas/Brasil) com especialização e mestrado em
Comunicação Social (UFMG/Brasil). Possui experiência docente em
cursos de Jornalismo e na coordenação de produtos laboratoriais
(jornal, revista, site). Atuou como jornalista profissional nos Diários
Associados, exercendo as funções de repórter no jornal Estado de
Minas e produtor multimídia e editor de conteúdos digitais nos portais on-line Uai e EM.com. E-mail: ivsatuf@gmail.com
Jacinto Godinho
Jacinto Godinho, doutorado em Ciências da Comunicação pela
FCSH da Universidade Nova de Lisboa, é professor auxiliar do
413
�Departamento de Ciências da Comunicação da UNL onde leciona,
desde 1993, as disciplinas Teoria da Reportagem, Discurso dos Media
e Géneros Televisivos. Entre várias outras publicações destacam-se
os livros: As origens da reportagem – Imprensa (2009) e As origens
da reportagem – Televisão (2011).
Jacinto Godinho é também jornalista dos quadros da RTP (Rádio e
Televisão de Portugal) desde 1988. Como repórter especial fez vários
trabalhos de investigação premiados, como “Tráfico de hormonas para a
carne de vaca” (1993) e “Caça aos golfinhos nos Açores” (1994). Produziu
e realizou várias séries documentais, como é o caso de “Memórias do
Cinema Português – 100 anos de história” (2001); “Ei-los que Partem
– Uma história da Emigração Portuguesa” (2006), “Os Últimos Dias da
PIDE” ( 2015) e “A Pide Antes da Pide” (2016). Venceu por duas vezes
o mais importante e prestigiado galardão de jornalismo atribuído em
Portugal – o Prémio Gazeta do Clube de Jornalistas.
João Canavilhas
Doutor pela Universidade de Salamanca (Comunicación, Cultura
y Educación) com a tese “Webperiodismo: propuesta de modelo
periodístico para la Web”. É professor associado na UBI e investigador Labcom.IFP. Participa em projetos de investigação nacionais
e internacionais, sendo autor de mais de sete dezenas de capítulos
de livro e artigos em revistas científicas nacionais e internacionais.
E-mail: jc@ubi.pt
Leylianne Alves Vieira
Leylianne Alves Vieira é doutoranda pelo Programa de PósGraduação em Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Mestra pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Universidade de Brasília (UnB). Integrante dos Grupos de Pesquisa
‘Estudos Fotográficos’ (UFCA) e ‘Cultura, Mídia e Política’ (UnB).
Email: leylianne.av@gmail.com.
414
�Liziane Soares Guazina
Graduada em Comunicação – Jornalismo (1997), mestre em
Comunicação e Cultura (2001) e doutora em Comunicação pela
Universidade de Brasília (2011). Coordenadora do Núcleo de Estudos
sobre Mídia e Política (NEMP/UnB), líder do Grupo de Pesquisa
Cultura, Mídia e Política. Email: lguazina@unb.br
Luís G. Motta
Luiz G. Motta é jornalista, mestre em jornalismo pela Indiana
University (USA), doutor em comunicação pela University of
Wisconsin (USA), com estágio de pós-doutorado na Universitat
Autònoma de Barcelona (Espanha). É professor-tit ular da
Universidade de Brasília (UnB), professor-visitante da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e pesquisador do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/
Brasil). Orientou mais de 50 dissertações de mestrado e teses de
doutorado, publicou inúmeros artigos, livros e capítulos de livros.
Suas pesquisas se concentram no campo da narrativa jornalística.
Foi expert internacional da Fundação Frederick Ebert (Alemanha),
professor do Centro Internacional de Estudios Superiores de
Periodismo para América Latina (Equador), consultor do UNICEF
(Moçambique, Africa). Foi Secretário de Estado (Distrito Federal,
Brasil) e Secretário Nacional de Cultura (MINC, Brasil). Foi repórter, editor, produtor independente de vídeo, diretor e apresentador
de programa de televisão.
Maria Augusta Babo
Maria Augusta Babo é Professora Associada com Agregação, no
Departamento de Ciências da Comunicação, da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa, onde leciona nas
áreas de: Textualidades, Cultura e Subjetividade e orienta teses de
Doutoramento e Mestrado.
415
�É Presidente do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens.
Integra a Comissão Diretiva do Doutoramento FCT em Estudos de
Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade. Participa em colóquios
e congressos da especialidade. Das publicações de 2015 destacam-se:
“As intermitências do íntimo”, in: Deslocações da intimidade,
Coordenação de Né Barros e Filipe Martins, Porto, Family Film Project,
Balleteatro/ Instituto de Filosofia, Grupo Estética, Política e Artes
(UP); ISBN 978-989-96484-3-2, pp. 17-26.
Co-coordenadora, com Maria Lucília Marcos e Ricardo Santos,
Jacques Derrida, Lisboa: CECL/UNYLEYA, ebook, Colecção Cultura,
Media e Artes Nº3, 294 PGS, ISBN Portugal9789899850347 | ISBN
Brasil 9788544101452.
416
�RESUMOS / ABSTRACTS DOS ARTIGOS
PALAVRAS-CHAVE / KEY WORDS
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�Carlos Reis, Woody Allen ou a ficção como jogo: o caso Zelig
Woody Allen on the fiction as a game: Zelig Case
Resumo
No presente texto, parto do filme de Woody Allen, Zelig (1983), para analisar um conjunto de questões colocadas por aquele filme e por outros
que integram a filmografia do autor. Assim, os protocolos constitutivos da
narrativa e os procedimentos de transgressão ficcional que eles envolvem
ocuparão aqui um lugar de destaque, tendo em atenção o propósito daquele filme e certos géneros narrativos a que ele está associado: biografia,
reportagem, documentário, etc.
Articula-se com isto o problema da construção da personagem, num lugar
indeciso em que ficcionalidade e não-ficcionalidade são objeto de insistente subversão paródica. Para além disso, estarão em equação efeitos
cognitivos determinados pelo recurso à hibridização de géneros e às derivas metalépticas que eles consentem, bem como pela lógica funcional e
sociocultural que é própria das narrativas mediáticas.
Palavras-chave
Narrativa; filme; personagem; metalepse; ficcionalidade.
Key words
Narrative; film; character; metalepsis; ficcionality.
419
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�Luís G. Motta, Análise pragmática da narrativa: teoria
da narrativa como teoria da ação comunicativa
Resumo
Este capítulo propõe um esboço conceitual e metodológico para estudos que
pretendem interpretar as narrativas como atos de fala. O capítulo sugere que
narrativas não são obras fechadas sobre si mesmas, mas processos protagonizados por atores sociais vivos e ativos: são uma mediação entre um enunciador e um destinatário concretos. Sao simultaneamente, no ato de comunicação narrativo, uma mediação entre um mundo referente prefigurado e um
outro mundo refigurado. A teoria apropriada para essas singulares mediações
é a teoria da ação, de onde se devem derivar os procedimentos de análise.
As narrativas são aqui entendidas como objetos de batalhas discursivas nas
contraditórias disputas pela configuração de representações ‘mais autênticas’
da realidade social. Nessas batalhas discursivas a tensão entre a força argumentativa dos interlocutores se exerce e se pratica. Após o esgotamento das
análises imanentistas devido ao seu desprezo pelo contexto social e a performance dos interlocutores, o projeto epistemológico aqui sugerido adquire
urgente atualidade diante da enxurrada de narrativas transmidiáticas que se
derrama sobre nós na pós-modernidade, entretecendo uma teia virtual de
significados na qual estamos todos enredados. O capítulo propõe a análise
pragmática como procedimento metodológico capaz de dar conta dos usos
argumentativos que os interlocutores fazem da narrativa em contextos comunicativos específicos. O capítulo finaliza dedicando atenção a dois aspectos
particulares da análise pragmática: 1) o protagonismo dos interlocutores, sua
vontade de fazer sentido, e suas estratégias argumentativas em concretas correlações de forças; 2) os círculos dêiticos concêntricos como um procedimento
metodológico capaz de tornar mais rigorosa a identificação de traços dos
interlocutores no texto da narrativa em análise.
Palavras-chave
Narrativas; atos de fala; teoria da argumentação; pragmática; dêiticos.
421
�Pragmatic analisys of narrative: narrative theory as communicative
action theory
Abstract
This chapter suggests a conceptual and methodological outline for interpretive analysis of narratives as speech acts. The essay suggests that narratives
are not closed discourses, but communicative processes set forward by active
social actors: narrative is mediation between a concrete enunciator and a
concrete addressee. They simultaneously are, in the narrative communication act, a mediation process between a referential pre-figured world and
another re-figured world. The appropriated theory for these singular mediations is the theory of action, from where the analytical procedures must
originate. Narratives are here understood as argumentative objects of battles
in the contradictory disputes for the configuration of ‘more authentic’ social
representations of reality. In these argumentative battles the tension among
the illocutionary forces are exerted and practiced. After the exhaustion of the
imanentist narrative analysis due to their disdain for the social context and
the active performance of the interlocutors, the epistemological project here
suggested acquires urgent actuality because of the torrent of transmedia narratives that scatters over society in post-modern times intertwining a virtual
symbolic texture where we are all interlaced. The chapter proposes a pragmatic analysis as the methodological procedure able of facing the problematic use of argumentative discourses performed by interlocutors in specific
communication contexts. To conclude, the chapter renders special attention
to two aspects of the pragmatic analysis: 1) the active protagonism of interlocutors, their desire to make sense, and their argumentative strategies when
facing opposed forces; 2) the deistic concentrical circles as a methodological
procedure capable of making more systematic the identification of traces of
the social context in the narrative under analysis.
Key words
Narratives; speech acts; argumentation theory; pragmatics; deixis.
422
�Maria Augusta Babo, Considerações críticas sobre
a máquina narrativa
Resumo
A narrativa é uma máquina de conferição de sentido à experiência, ao
vivido, ao acontecimento. É uma máquina semiótica na medida em que
o seu funcionamento gera sentido, é produtor de sentido sobre o real.
Enquanto máquina, ela integra um conjunto de componentes que lhe conferem estatuto narrativo.
Se é certo que a máquina narrativa exige um acontecimento disruptivo
também é certo que ela retira ao acontecimento o seu carácter de contingência para o remeter à lógica da causalidade e da finalidade última — a
clausura narrativa provocada pelo desenlace.
Na sua expressão mais aberta, a narrativa comporta um juízo de natureza reflexiva. O narrado incorpora um juízo que ao mesmo tempo se
distancia do mundo e o interpreta, avalia esse mundo que fabrica. Assim
pode concluir-se que entre narrativas ficcionais e a narrativas factuais não
há diferenças do ponto de vista do dispositivo configurador. A questão
colocar-se-á, antes, ao nível da possibilidade ou não de referir o mundo.
Questão que aqui se pretende discutir.
Palavras-chave
Máquina narrativa; acontecimento; distanciamento; produção de sentido.
423
�Critical considerations on narrative machine
Abstract
The narrative is a machine to propose meaning to experience, to events
from life. It is a semiotic machine because it generates sense; it produces
meaning over the real world. As a machine, it includes a set of components that give narrative status.
If it is true that the narrative machine requires a disruptive event is also
true that it removes the event its contingency character to refer to the
logic of causality and the ultimate goal – the narrative closure caused by
the end.
In its open expression, the narrative includes a judgment of reflective nature. The narrated incorporates a judgment that, at the same time, takes
a distance from the world and interprets it; it evaluates the world that it
produces. Thus, it can be concluded that between fictional narratives and
factual narratives there is no difference from the point of view of the configurator device. The question will be put, differently, in terms of the possibility to mention the world. Question that we pretend to discuss here.
Key words
Narrative machine; event; distance; production of meaning.
424
�Fernando Resende, Imprensa e conflito: narrativas de uma
geografia violentada
Resumo
Este artigo busca discutir questões relacionadas à imprensa, considerando a narrativa como um problema e o território palestino como um desafio. Seu argumento central é de que as camadas de estereótipos e os
binarismos que hoje dão forma ao conflito precisam ser constantemente
escavadas, debatidas e confrontadas. A partir da conceção de um quadro
histórico-cultural que hoje torna possível pensar o jornalismo pelo paradigma relacional, seu objetivo principal, menos do que se deter a uma crítica sobre os reducionismos a que está submetido o discurso da imprensa,
é contribuir para uma reflexão acerca da potência da narrativa diante,
particularmente, das complexidades que regem os chamados «conflitos
de longa duração”. No território palestino, uma geografia violentada, infindáveis tramas tecem um conflito que acontece, pelo menos, desde o
início do século XX. Um território tão cruelmente devastado nos coloca
diante de experiências humanas que precisam ser consideradas em um
âmbito muito mais amplo e complexo do que a perspetiva que conforma
as estereotipias que, de modo geral, são produzidas pela imprensa. E são
os estudos da narrativa que tornam possível esta reflexão cujo propósito,
além de tudo, é entender a complexidade que se inscreve no território
palestino como fundamental não só para nos fazer compreender algumas
das limitações do jornalismo, como também para viabilizar uma reflexão
sobre as possibilidades de produção de resistências pela linguagem. Sob
esta ótica, esta reflexão propõe o entendimento de que produzir narrativa
é um gesto estético de produção de cultura, o que no caso da Palestina
é uma constatação de caráter eminentemente político. Como tem sido /
pode ser narrado o conflito Israel/Palestina é, portanto, uma pergunta
relevante, pois o problema com o qual este artigo se defronta tem como
princípio o que nos leva a compreender quão complexos são os modos
425
�de inserção dos sujeitos e dos poderes que naquele território se configuram. Nesse sentido, através da análise de uma reportagem, em forma de
diário, produzida por uma jornalista brasileira que viaja pela Palestina, e
da comparação com outras narrativas em sites e um documentário, este
artigo salienta a importância da produção de narrativas mais atentas aos
efeitos político-culturais que o conflito produz; narrativas que tratem menos do esforço de explicação do acontecimento propriamente dito, e mais
da representação de ordens complexas e paradoxais que ali se inscrevem.
É por este viés que a narrativa, através da imprensa, tem um papel crucial, ela nos ajuda a desvelar os desdobramentos e as contradições que o
conflito produz, fazendo-nos ver os meandros que ele engendra. O olhar
lançado neste artigo, portanto, assume uma dimensão política e estética,
instâncias absolutamente amalgamadas tanto na imprensa como no mundo que hoje conhecemos.
Palavras-chave:
Imprensa; conflito; representação; Palestina.
Press and conflict: narratives of violated geography
Abstract
This article discusses issues related to the press, considering narrative as a
problem and the Palestinian territory as a challenge. Its central argument
is that the layers of stereotypes that today form the conflict need to be
constantly dug, discussed and compared. From the conception of a historical-cultural framework that now makes it possible to think of journalism
by the relational paradigm, its main goal, less than a critique of the reductionism to which the discourse of the press is submitted, is to contribute
to a reflection about the power of narrative, particularly when considering
the complexities inscribed in the so-called «long-term conflicts”. In the Palestinian territory, a violated geography, endless plots weave a conflict that
426
�happens, at least since the beginning of the 20th Century. A territory so
cruelly devastated urges us to consider human experiences in a form much
more complex and broader than the ones that build stereotypies, which are
produced by the press in general. And it is the field of narrative studies
that make possible this reflection, whose purpose, above all, is to understand the complexity inscribed in the Palestinian territory as fundamental
not only to make us understand some of the limitations of journalism, but
also to evoke a reflection about ways to produce resistances through the
use of language. From this perspective, this reflection takes the production
of narratives as an aesthetic gesture that produces culture, which in the
case of Palestine is an eminently political consideration. How the Israel/
Palestine conflict has been / can be narrated is thus an important question,
once the problem faced in this article has it as a principle that leads us to
understand how complex it is the insertion and configuration of subjects
and powers within that territory. In this sense, through the analysis of an
account produced by a Brazilian journalist traveling through Palestine, and
by comparing it with other narratives in sites and in a documentary, this
article highlights the importance of producing stories more attentive to the
political and cultural effects produced by that conflict; narratives that deal
less with the event explanation itself, and more with the representation of
its paradoxical and contradictory orders. Press narrative, this way, has a
crucial role, it helps us to unravel the consequences and contradictions that
the conflict produces, making us see the intricacies that it engenders. This
article, therefore, takes on a political-aesthetic dimension, instances absolutely amalgamated both in the press and in the world we know nowadays.
Key words:
Press; conflict; representation; Palestine.
427
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�Bruno Araújo, Estudos narrativos e teoria do jornalismo: a narrativa de Veja e IstoÉ sobre uma manifestação de estudantes da USP
Resumo
Este artigo assume que, em virtude da avalanche de informações com
que os media tradicionais confrontam os cidadãos todos os dias, será
preciso reafirmar a ideia de que o jornalismo não representa ou espelha a
realidade social, política e cultural de uma sociedade. Na verdade, como
construtores de narrativas, os jornalistas operam códigos de estruturação textual e paratextual que, aliados àquilo que conhecem do mundo,
a diversos constrangimentos profissionais e ideologias, imputam significações construídas aos acontecimentos. Nesse contexto, esta reflexão
cruza contributos dos estudos narrativos com as teorias construtivistas do
jornalismo, com especial foco na teoria do newsmaking, para evidenciar
a influência do modo narrativo sobre a textualidade jornalística. Trata-se de discutir o grau de narratividade inerente ao discurso jornalístico,
demonstrando que, assim como em outros tipos de narrativa, a narrativa
jornalística constrói realidades múltiplas, com significações que oscilam
de acordo com estratégias discursivas mobilizadas pelo enunciador, sem
que isso implique necessariamente a negação do seu dever de referencialidade do real. Como trabalho analítico, recorre-se a ferramentas da
Análise Crítica do Discurso, combinadas com categorias da narrativa,
para analisar reportagens publicadas nas revistas brasileiras Veja e IstoÉ
a propósito de uma manifestação de estudantes da Universidade de São
Paulo ocorrida em outubro de 2011.
Palavras-chave:
Narrativa; jornalismo; newsmaking; construção da realidade; Veja; IstoÉ;
Universidade de São Paulo.
429
�Narrative studies and journalism theory: the report of Veja and
IstoÉ about a demonstration
Abstract
This article assumes that, because of the avalanche of information that
traditional media confront us every day, you need to reaffirm the idea that
journalism does not represent or mirrors the social, political and cultural
life of a society. In fact, as narratives builders, journalists operate textual
and non-textual structure codes that, allies what they know of the world, various professional and ideological visions constraints, give meaning
to events. In this context, this article crosses contributions of narrative
studies with constructivist theories of journalism, with special focus on
newsmaking theory, to show the influence of narrative mode over journalistic textualities. It is to discuss the degree of narrativity inherent in the
journalistic discourse, demonstrating that, as in other types of narrative,
journalistic narrative builds multiple realities with meanings that vary
according to discursive strategies mobilized by enunciating involved by
ideological devices. As analytical work, it refers to tools of Critical Discourse Analysis, combined with narrative categories, to analyze articles
published in Brazilian magazines Veja and IstoÉ on a demonstration by
students from the University of São Paulo occurred in October 2011.
Key words
Narrative; journalism; newsmaking; construction of reality; Veja; IstoÉ,
University of São Paulo.
430
�Hélder Prior, Jornalismo, Narrativas e Escândalos
Resumo
O trabalho sobre Jornalismo, Narrativas e Escândalos é uma tentativa de
compreender os escândalos mediáticos à luz dos pressupostos da teoria
da narrativa. Com efeito, num primeiro momento procuraremos definir o
conceito “escândalo” e identificar as suas características tendo em conta
o contributo dos principais autores que trabalharam o fenómeno. Posteriormente, iremos tecer algumas considerações sobre as relações entre o
escândalo mediático e a narratologia, estabelecendo um quadro teórico
que nos possibilitará, no terceiro ponto deste ensaio, realizar uma análise
pragmática do escândalo Face Oculta, colocando em evidência o valor
expressivo do escândalo enquanto narrativa mediática. Na nossa perspetiva, os escândalos podem ser interpretados como narrativas que têm
um enredo, episódios principais e secundários, personagens que realizam papéis ou funções na trama e efeitos poéticos ou estéticos inerentes
às estratégias enunciativas do jornalista no momento de reconfigurar o
acontecimento numa experiência mediática.
Palavras-chave
Escândalo; Jornalismo; Narratividade; Face Oculta.
431
�Journalism, narratives and scandals
Abstract
The work on Journalism, Narratives and Scandals seeks to address de
relationship between the field of journalism and the narrative theory.
Indeed, first of all we will try to define the concept “scandal” and identify
its characteristics. Subsequently, we will try to establish a theoretical and
conceptual framework of analysis of mediated scandals that enable us, on
the third part of this work, analyze and deconstructing the portuguese
Face Oculta scandal. From our point of view, the political scandals are
complex narratives that develop in the press, and may be interpreted as
“stories” that have a plot, a coherent whole, a specific temporal order,
episodes, characters, turning points and meaning effects.
Key words
Scandal; Journalism; Narrativity; Face Oculta.
432
�Jacinto Godinho, A minha vida não dava um filme: ensaio de
desconstrução da reportagem entre a literatura e o jornalismo
My life is not like a movie; essay on descontruction of reporting
between literature and journalisme
Resumo
Apesar de ser considerada, entre os jornalistas, como a “arte nobre do
jornalismo”, a reportagem tem sem dúvida um estatuto menor no painel
das narrativas modernas, especialmente se a compararmos com as mais
relevantes categorias da literatura (novela, conto, poema,) do cinema (filme, documentário) do teatro ou da música (ópera), por exemplo.
Não que a reportagem seja uma narrativa menor (apesar de nos últimos
anos ter vindo a ceder espaço nos media para o comentário), mas porque,
ecoando Foucault, nas formações discursivas de cada época constitui-se
uma escala de valores entre saberes originada a partir do jogo do poder.
A cultura não celebra as reportagens e os seus autores da mesma forma
que as ficções literárias e cinematográficas distinguidas com prémios de
visibilidade planetária como o Nobel ou os Oscar.
Fora do campo jornalístico não há reportagens que façam história, que
figurem nos livros de escola. Em busca de estatuto, alguns repórteres tornam-se autores de livros de ficção. Outros publicam as suas reportagens
em livros. Para muitos destes jornalistas o treino de escrita de reportagem
é assumido, com orgulho, como um patamar essencial para se tornarem escritores, ou seja, praticam a reportagem como etapa antes da literatura. Mas
não deveria ser antes o oposto, ou seja, o ensaio livre da literatura como
antecâmara para a difícil, complexa e muito responsável escrita do real?
Justifica-se, portanto, iniciar esta reflexão analítica com a pergunta já antes
formulada por Elisabeth Eide em What novels can do, and journalism can
not? ou seja o que conseguem as novelas que o jornalismo não consegue?
Uma outra forma de colocar o problema é questionar por que dizemos
normalmente “a minha vida dava um filme” e não dizemos “a minha vida
dava uma reportagem”.
433
�Porque nunca conseguiram os repórteres ter lugar nos panteões da cultura se a matéria das suas histórias é a vida real e tantas vezes o alimento
dos romancistas?
Como resolver o paradoxo de o jornalismo e de o poder mediático serem
centrais no espaço público moderno e mesmo assim não conseguirem “fazer ver e fazer falar” (Deleuze, 1986) as suas melhores obras na história?
Palavras-chave
Reportagem; jornalismo; literatura; ficção; legein.
Key words
Report; journalism; literature; fiction; legein.
434
�Ana Paula Arnaut, A palavra em movimento: a adaptação para cinema de “Embargo” e de A Jangada de Pedra de José Saramago
Resumo
Partindo da adaptação para cinema do conto “Embargo” e do romance
A Jangada de Pedra, de José Saramago, propomo-nos avaliar a forma
como a problemática da traição ao texto-fonte se esbate se tivermos em
mente o “«espírito» do livro”, ou, em termos mais abrangentes, o espírito
da obra saramaguiana.
Palavras-chave
Fidelidade; traição; ideologia.
The word in motion: the cinema adaptation of “Embargo” and
“A Jangada de Pedra” by José Saramago
Abstract
The analysis of the cinema adaptation of the short story “Embargo” and of
the novel The Stone Raft, by José Saramago, will allow us to evaluate how
the issues regarding the unfaithfulness to the original text will lessen if
we keep in mind the “«spirit”» of the book, or, in a broader sense, the
spirit of the work of the author.
Key words
Fidelity; unfaithfulness; ideology.
435
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�Ana Teresa Peixinho e Bruno Araújo, A narrativa da desconfiança
na política: a figuração do político
Resumo
No texto que o leitor tem em mãos, discutimos como os valores que constituem a cultura política brasileira, especialmente o valor da desconfiança
na política, se convertem em estratégias retórico-narrativas fundamentais
para a construção da imagem de atores políticos nos media.
Partindo de uma reflexão acerca do conceito de personagem mediática,
chamamos a atenção para a impossibilidade de os media transferirem,
para o âmbito de suas narrativas, toda a complexidade inerente à dimensão ontológica dos seres retratados. Em vez disso, ao assumirem o estatuto de personagens mediáticas, os políticos são submetidos a um processo
de estereotipia que se alimenta de um conjunto de crenças socialmente
partilhadas sobre a atividade política e que influenciam na construção
mediática da imagem desses atores na esfera pública. Desse processo, resulta uma imagem reduzida a traços identificadores que constituem perfis
muitas vezes esquemáticos e incompletos, a partir dos quais o público
formará a sua opinião.
Como campo de exploração empírica, adotamos o filme brasileiro O Candidato Honesto, lançado em outubro de 2014, num momento em que o Brasil
vivia um período eleitoral. Cruzando algumas das mais importantes categorias narrativas de construção de personagens mediáticas – caricatura,
tipificação, figuração e metalepse – o texto analisa os procedimentos que
incidiram na construção da imagem do protagonista João Ernesto Praxedes, um político corrupto, que se apresenta, no filme, como candidato à
Presidência da República pelo Partido da Ética Democrática Nacional.
A análise demonstra que o modo de figuração da personagem não apenas carrega fortes resquícios da cultura política brasileira, mas contribui
efetivamente para o reforço e a naturalização de determinados valores,
por meio da exploração de temas e de sentidos de maneira genérica e
estereotipada. Convertido em personagem-tipo – subcategoria narrativa
437
�que se caracteriza por um alto poder representativo devido aos procedimentos metaléticos que a constituem–, João Ernesto Praxedes extrapola a
diegese, transformando-se em autêntico representante da classe política
brasileira, apresentada, na narrativa cinematográfica, como corrompida e
alheia ao interesse público.
Palavras-chave
Personagem mediática; figuração; narrativa; política.
The narrative of distrust in politics: the figuration of politician
Abstract
In this text that the reader has at hand, we discussed how the values that
constitute the Brazilian political culture, especially the value of distrust in
politics, become fundamental rhetorical-narrative strategies to build the
image of political actors in the media.
Starting from a reflection on the concept of media character, discussed
the impossibility of the media transferred to the scope of their narratives,
all the complexity inherent in the ontological dimension of the depicted
beings. Instead, by assuming the status of media characters, politicians
are subjected to stereotyping process that feeds a set of socially shared
beliefs about political activity and influence the media image building of
these actors in the public sphere. This process results in an image reduced to identifying traits that are profiles often sketchy and incomplete,
from which the public will form your opinion.
Empirically, we will adopt the Brazilian film «O Candidato Honesto», launched in October 2014, when Brazil was an electoral period. Crossing
some of the most important narrative categories of building media characters – cartoon typing, figuration and metalepsis – this text analysis
procedures that focused on the protagonist’s image construction João Ernesto Praxedes, a corrupt politician who appears in the film as candidate
438
�to the Presidency of the Party of the Democratic National Ethics.
The analysis shows that the figuration of the character not only carries
strong traces of Brazilian political culture, but effectively contributes to
the strengthening and naturalization of certain values through the exploration of themes and meanings of generic and stereotypical way. Converted to character-type – sub-narrative category that is characterized by a
high representative power –, João Ernesto Praxedes extrapolates the diegesis, becoming authentic representative of the Brazilian political class,
presented in narrative film, as corrupt and oblivious to the public interest.
Key words
Media character; figuration; narrative; politics.
439
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�Aletheia Patrice Rodrigues Vieira e Liziane Soares Guazina,
De herói a anti-herói: a caracterização da personagem José
Dirceu na revista Veja
Resumo
O artigo analisa a caracterização do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu
como personagem jornalística em quatro reportagens da revista Veja nos
anos de 1968, 2002 e 2005, que relatam diferentes momentos da trajetória
de Dirceu como figura pública. Por meio de fundamentos da análise crítica da narrativa, o estudo se concentra em revelar quais as adjetivações e
funções atribuídas a José Dirceu nos textos jornalísticos, delineando um
ciclo da personagem baseado no Ciclo do Herói de Campbell (1969) e na
saga anti-heroica proposta por Motta (2011). Veja reúne caracterizações
que apresentam José Dirceu como personagem contraditório e destaca
atitudes do ex-ministro que considera negativas, um dos elementos que
compõe a construção de um anti-herói.
Palavras-chave
Personagem jornalística; José Dirceu; revista Veja; anti-herói.
From hero to anti-hero: the composition of José Dirceu’s character
in Veja magazine
Abstract
This paper analyzes the characterization of the former minister of Staff
José Dirceu as journalistic character in four journal articles See in the
years 1968, 2002 and 2005, reporting different times of Dirceu’s career
as a public figure. Through foundations of the critical narrative analysis,
the study focuses on reveal which adjectives and functions are attributed
to José Dirceu in journalistic texts, outlining a character cycle based on
441
�Campbell’s Hero Cycle (1969) and anti-saga heroic proposed by Motta
(2011). See gathers characterizations presenting José Dirceu as contradictory character and highlights former minister of attitudes that considers
negative, one of the elements that make up the construction of an anti-hero.
Keywords
Journalistic character; Jose Dirceu; Veja magazine; antihero.
442
�Célia Maria Ladeira Mota e Leylianne Alves Vieira, Caminhos narrativos: um personagem: o brasileiro
Resumo
Neste artigo, analisamos a caracterização de um personagem como é
concebida em dois gêneros narrativos: o ficcional e o jornalístico. Vamos
observar como o brasileiro é representado em Macunaíma, na obra de
Mário de Andrade, e na reportagem da revista Realidade “O canavial esmaga o homem”, que conta a saga de Gregório, um trabalhador de engenho.
O foco é perceber as subjetividades dos relatos e os contrastes entre a fantasia e a realidade e compreender os significados construídos. São representações da identidade do brasileiro que têm sua origem em duas matrizes
culturais que herdamos dos portugueses: a aventura e o trabalho.
O caminho teórico é o da Análise Crítica da Narrativa, como proposta
por Motta, para quem “esta análise é um caminho rumo ao significado e
o significado é uma relação: não há significado sem algum tipo de troca”
(Motta, 2013: 121). Investigando as jornadas dos dois personagens e os
acontecimentos nos quais se envolvem, de acordo com o ciclo do herói
proposto por Campbell (2007), a análise estuda os significados que emergem de práticas culturais que têm raízes históricas e que até hoje contribuem para certa ambiguidade na concepção da identidade do brasileiro.
A primeira narrativa analisada é ficcional e trata de um personagem que
foi concebido nos primeiros anos do século XX, quando começa a se
forjar a ideologia de um Brasil fruto de uma mestiçagem de três raças.
Macunaíma, de Mário de Andrade, conta a história entre fábula e mito de
um personagem que vai ser objeto de uma inclusão cultural precoce para
a época, um retrato de um brasileiro aventureiro que mistura qualidades
e defeitos. A segunda narrativa é o relato jornalístico de um personagem
real, Gregório, um plantador de cana de açúcar. A reportagem foi publicada na revista Realidade, na década de 1970, e mostra as condições de vida
do personagem, que ainda podem ser encontradas em dias mais recentes.
443
�Não há milagres na história dele, um brasileiro como tantos outros lutando para sobreviver em condições precárias.
Na análise, os dois personagens são examinados a partir de uma perspetiva de identidade e de construção de brasilidade de cada um deles, levando em conta os cenários diferentes. O objetivo foi observar a dicotomia da
identidade do brasileiro que tem base em dois princípios que se opõem
desde os tempos coloniais. Macunaíma revela um jeito de ser e de sobreviver que caracteriza o brasileiro, “o jeitinho”, a malandragem. Gregório,
por sua vez, não acredita em milagres, mas na sobrevivência pelo trabalho. Sérgio Buarque de Holanda (1988) no livro Raízes do Brasil, afirma
que esses dois princípios, aventura e trabalho, regularam diversamente
as atividades dos portugueses que participaram da grande aventura de
posse das terras brasileiras no período colonial.
Palavras chave
Narrativa; personagem; identidade; cultura.
Narrative paths a character: the Brazilian
Abstract
In this article, we analyze the characteristics of a character as conceived in
two narrative genres: the fictional and the journalistic. We researched how
the Brazilian identity is represented in Macunaíma, the work of Mario de
Andrade, and in the Reality magazine report The sugarcane crushing the
man, who tells the story of Gregory, a sugarcane worker. The focus is to
perceive the subjectivities of the reports and the contrasts between fantasy
and reality, looking for understanding the meanings constructed. They are
representations of Brazilian identity that has its origin in two cultural matrixes that we inherited from the Portuguese: the adventure and the work.
The theoretical framework is Critical Narrative Analysis, as proposed by
Motta, for whom «this analysis is a path to the meaning and significance
444
�as a relationship: there is no meaning without some kind of exchange»
(MOTTA , 2013:121). Investigating the journeys of the two characters and
the events in which they were engaged, according to the cycle of the
hero proposed by Campbell (2007), the analysis studies the meanings that
emerge from cultural practices that have historical roots and that even
today contribute to the ambiguity for Brazilian identity.
The first analyzed narrative is fictional and is a character that was
designed in the early years of the twentieth century, when it was begun to
shape the ideology of Brazil as a result of a crossbreeding of three races.
Macunaíma, by Mário de Andrade, tells the story of fable and myth of a
character that had been subject to an early cultural inclusion for the time,
a picture of an adventurous Brazilian blending qualities and defects. The
second narrative is the journalistic account of a real character, Gregory, a
worker of sugar cane. The report was published in the magazine Reality,
in the 1970s, and shows the living conditions of the character, which
can still be found in recent days. There are no miracles in his story, a
Brazilian like so many struggling to survive in precarious conditions.
In the analysis, the two characters are examined from the perspective of
identity and Brazilianness construction of each of them, taking into account
the different scenarios. The objective was to observe the dichotomy of
Brazilian identity that is based on two principles that have been opposed
since colonial times. Macunaíma reveals a way of being and survival that
characterizes the Brazilian, «the jeitinho», the trickery. Gregory, in turn, does
not believe in miracles, but works for survival. Sérgio Buarque de Holanda
(1988) in the book Roots of Brazil, says that these two principles, adventure
and work, regulated the activities of the Portuguese who participated in the
great adventure of taking possession of Brazilian lands in the colonial period.
Key words
Narrative; character; identity; culture.
445
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�João Canavilhas et. al., Era pós-PC: a nova tessitura da narrativa
jornalística na web
Resumo
A integração dos dispositivos móveis nas práticas jornalísticas acrescentou novas possibilidades à narrativa do webjornalismo, abrindo caminho
para experiências inovadoras. Ao analisar um conjunto de produtos jornalísticos na web, este capítulo lança um olhar sobre um novo ecossistema
mediático estimulado pela inserção de tecnologias móveis nos processos
de produção, distribuição e consumo de notícias. O trabalho defende que
estas tecnologias ubíquas reconfiguram a “tessitura da narrativa” ao criarem novos mecanismos para a estruturação dos elementos multimédia,
com consequências decisivas na forma como os utilizadores interagem
com os conteúdos. Recorrendo a uma perspetiva histórica, o objetivo
central deste trabalho é debater o atual webjornalismo, tendo como referência as potencialidades da hipernarrativa associada aos dispositivos
móveis. A análise concentra-se em cinco conceitos fundamentais nesta
modalidade discursiva: bases de dados, contextualização, imersão, continuum multimédia e paralaxe/verticalização.
Palavras-chave
Dispositivos móveis; Hipernarrativa; Ecossistema mediático; Convergência
jornalística.
447
�The post-PC era: the new of narrative on the web fabric
Abstract
The presence of mobile devices in the journalistic practice has added
new possibilities to the web journalism’s narrative, opening the way for
innovative experimentations. By analyzing a relevant set of outstanding
products within the digital environment, this article looks at a new media ecosystem stimulated by the insertion of mobile technologies in the
processes of producing, distributing and consuming news. The research argues that these ubiquitous technologies reconfigure the «fabric of
the narrative» as they create new mechanisms that structure multimedia
elements, with decisive consequences for how users interact with those
contents. Through an historical outlook, the main objective is to discuss
the current stage of web journalism using hypernarrative capabilities associated with mobile devices. The analysis focuses on five fundamental
elements used in this discursive mode: database, contextualization, immersion, multimedia continuum, parallax/verticalization
Key words
Mobile Devices; Hypernarrative; Media ecosystem; Journalistic
convergence.
448
�Daniela Maduro, Entre textões e escritões: a narrativa projetada
Resumo
Dada a possibilidade de comunicação e publicação instantâneas, o papel
do leitor pode ser hoje facilmente substituído pelo papel do autor. No
caso da literatura eletrónica, esta transferência de papéis tem vindo a
ser intensamente explorada através da ampliação das funções do leitor.
A interatividade, porque exige que o leitor permaneça concentrado na
montagem e exploração do texto, é frequentemente considerada como um
obstáculo à produção de uma narrativa. Esta é vista como dependente de
uma sequência coerente de eventos pautada por um desfecho. Porém, os
textos interativos, frequentemente focados na exploração da multilinearidade e aleatoriedade, parecem contrariar essa noção de narrativa. Neste
artigo, pretendo referir-me ao impacto do meio digital nas noções de “leitor”, “autor” e “texto” e explorar a possibilidade de o leitor encontrar uma
narrativa projetada entre textões e escritões. Para tal, analisarei obras
fundamentalmente interativas, que exigem que o leitor assuma diferentes
funções para ler e compreender o texto.
Palavras-Chave
Narrativa; esforço ergódico; esforço imaginativo; interatividade;
La Disparue; The Stanley Parable.
449
�Between textons and scriptons: the projected narrative
Abstract
Due to the possibility of instantaneous communication and publication,
the role of the reader and the role of the author can be easily interchanged. In the case of electronic literature, this transference has been widely
explored through an extension of reader’s functions. Interactivity, because it demands a focus on the assemblage and exploration of the text,
is frequently considered as an obstacle to the production of a narrative.
This happens because narrative is often seen as dependent on a coherent
sequence of events in line with a closure. Interactive texts, which often
explore randomness and multilinearity, seem to undermine this notion
of narrative. Throughout this article, I intend to analyze how new media
have impacted our notions of “reader”, “author”, and “text” and explore
the possibility of coming across a projected narrative somehow located
between textons and scriptons. In order to do that, I will analyze works
which are fundamentally interactive and demand the reader to undertake
several functions in order to read and understand a text.
Key words
Narrative; ergodic effort; imaginative effort; interactivity; La Disparue;
The Stanley Parable.
450
�Fernanda Castilho Santana, Narrativas em mudança: do folhetim
aos textos transmedia
Resumo
Ao refletir sobre os processos comunicativos estabelecidos na atualidade,
a partir dos diferentes conceitos que permeiam esse momento histórico de
profundas alterações tecnológicas e culturais, passamos a compreender
que a dimensão tomada pelos novos meios, nesse contexto paradigmático,
modifica tanto a forma, como o conteúdo das mensagens. Relativamente
às histórias ficcionais que utilizam a televisão como suporte expressivo, a
crescente migração das audiências para a assistência noutras plataformas
resulta, sobretudo, na alteração do relacionamento entre texto e leitor. Na
tentativa de compreender os caminhos traçados pelas narrativas ficcionais nesse contexto de mudanças sócio-tecno-culturais, a necessidade de
recorrer à literatura dedicada ao estudo das histórias materializadas em
diferentes suportes expressivos tornou-se clara no decorrer do presente
trabalho. Por outro lado, ao atentar para os estudos que oferecem uma
perspetiva histórica sobre as narrativas de ficção, identificamos elementos que aproximam e distinguem a produção desses conteúdos ao longo
dos séculos. Desta forma, a proposta deste artigo assenta numa reflexão
teórica sobre as mudanças no campo das narrativas televisivas de ficção,
considerando o papel dos novos suportes expressivos para a criação de
narrativas transmediáticas.
Palavras-chave
Narrativas ficcionais; Televisão; Transmedia Storytelling; Novas Tecnologias.
451
�Narratives changing: from serial to transmedia texts
Abstract
Reflecting on the communicative processes currently established, from
the different concepts that permeate this historical moment of depth technological and cultural change, we understand that the dimension taken
by the new media, in this paradigmatic context, modifies both the form
and the message contents. In the fictional stories that use the television
as expressive support, the increasing migration of audiences to other platforms results mainly in the changing of the relationship between text
and reader. In order to understand the fictional narratives trajectory, in
this context of socio-techno-cultural changes, the necessity to call upon
proper literature about the study of stories materialized in different expressive media has become clear in the course of this work. On the other
hand, paying attention to the studies that offer a historical perspective
of the fictional narratives we identified elements the approach and distinguish the production of this content over the centuries. Thus, the aim
of this article is a theoretical reflection about the changes in the field of
television narrative fiction, considering the role of new expressive media
supplies for creating transmedia narratives.
Key words
Fictional Narratives; TV; Transmedia Storytelling; New Technologies.
452
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�(Página deixada propositadamente em branco.)
�Ana Teresa Peixinho nasceu em Coimbra em 1971. É doutorada
pela Universidade de Coimbra em Ciências da Comunicação e é
Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da mesma Universidade.
Investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX
(CEIS20) e do Centro de Literatura Portuguesa (CLP), tem-se dedicado
aos estudos queirosianos, no âmbito dos quais integra o projeto de
Edição Crítica da obra de Eça de Queirós. Também integra o grupo
de trabalho do projeto Figuras da Ficção, coordenado por Carlos Reis,
onde tem desenvolvido investigação sobre narrativas e personagem.
Bruno Araújo é doutorando do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação e Sociedade da Universidade de Brasília.
Mestre e licenciado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade
de Coimbra, onde defendeu a dissertação “Media, Justiça e Espaço
Público: a cobertura jornalística do julgamento do mensalão em
Veja e Época”. É investigador do Núcleo de Estudos em Mídia
e Política e do Grupo de Pesquisa Cultura, Mídia e Política,
ambos da Universidade de Brasília.
É membro colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares
do Século XX da Universidade de Coimbra.
�Série Investigação
•
Imprensa da Universidade de Coimbra
Coimbra University Press
2017
�