UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EMPSICOLOGIA
LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA SEXUALIDADE HUMANA - LABESHU
Sobre Nós (des)organizados
Pesquisa-intervenção em psicologia e o processo de implementação de
políticas para pessoas trans* na UFPE
RECIFE
2016
�CÉU SILVA CAVALCANTI
Sobre Nós (des)organizados
Pesquisa-intervenção em psicologia e o processo de implementação de políticas para pessoas
trans* na UFPE
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Psicologia da Universidade
Federal de Pernambuco, como requisito parcial
para a obtenção do grau de Mestre em
Psicologia.
Orientador: Profª. Drª. Karla Galvão Adrião.
RECIFE
2016
1
�Catalogação na
fonte
Bibliotecário Rodrigo Fernando Galvão de Siqueira, CRB-4 1689
C376s
Cavalcanti, Céu Silva.
Sobre nós (des)organizados : pesquisa-intervenção em psicologia e o
processo de implementação de políticas para pessoas trans na UFPE
/ Céu Silva Cavalcanti. – 2016.
119 f. : il. ; 30 cm.
Orientadora: Profª. Drª. Karla Galvão Adrião
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco,
CFCH. Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Recife, 2016.
Inclui referências e anexos.
1. Psicologia. 2. Nomes pessoais. 3. Nomes pessoais (Legislação). 4.
Transexuais. 5. Política pública. I. Adrião, Karla Galvão (Orientadora).
150 CDD (22.ed.)
II.
UFPE (BCFCH2016-80)
2
�CÉU SILVA CAVALCANTI
Sobre Nós (des)organizados
Pesquisa-intervenção em psicologia e o processo de implementação de políticas para pessoas
trans* na UFPE
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da
Universidade Federal de Pernambuco,
como requisito parcial para a obtenção do
título de Mestre em Psicologia.
Aprovada em: 31/03/2016
BANCA EXAMINADORA:
Profª. Drª. Karla Galvão Adrião
(Orientadora)
Universidade Federal de Pernambuco
Profª. Drª. Paula Sandrine Machado
(Examinador/a Externo/a)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Profª. Drª. Luciana Leila Fontes Vieira
(Examinador/a interno/a)
Universidade Federal de Pernambuco
�Dedicatória
À minha mãe (in memóriam), à imensa resistência de seus
movimentos de força e leveza. E, sobretudo por, parafraseando
aquele certo filme, seguir sendo “minha memória mais
incrustrada. Feita de pedra e sombra. De onde tudo nasce... e
dança.”
A todos os processos de vida que ousam dissolver em sua
própria materialidade os violentos mitos Cistêmicos que nos
tentam sufocar a alma e a potência.
�Agradecimentos
Ao iniciar esses agradecimentos, recordo aquela citação que ouvi com Maria Bethânia, na qual
ela agradece ter a quem agradecer. Assim inicio o término desse ciclo de dois anos também
agradecendo ter muitas pessoas a quem agradecer. Esta sem dúvidas foi e continua sendo uma
trajetória permeada de vozes, afetos e cores.
Agradeço à minha turma de mestrado. Por me ensinarem que mesmo um campo que cremos
árido pode se converter em férteis paragens de possibilidades.
A Luis e Aída pela eterna cerveja prometida.
A Vanessa, pelas proximidades crescentes.
A Diogo Sousa pelas esperanças e compartilhamentos. A Aninha Beatriz pelo afeto que se faz
abrigo. À Sta Abrantes pelas potências anunciadas. Aos três em conjunto por me ensinarem que
redes erepianas viram adultas junto conosco. E continuam a nos amparar e nos ajudar a respirar,
emprestando sopros de vida possível.
Às pessoas lindas do grupo MUDA. Espaço que me acolheu e me ensinou que composições
feitas em grupo são muito mais leves e potentes do que caixinhas individualizadas.
A Rafa Cajueiro pelas trocas sempre ricas que me convidam a expansão.
A Joanna Ferrão, pelo eterno mar a nos socorrer.
Às pessoas do Núcleo PPS em Juiz de Fora, que me acolheram e rapidamente me cobriram de
afetos e pertencimentos de modo que, os meses vividos lá se entranham na minha carne,
lembrando que há espaços potentes e possíveis mundo afora.
À Juliana Perucchi, pelas conversas, cafés na Halfield, orientações coletivas. Agradeço pelo
acolhimento generoso e pelas trocas que vão seguir.
À Brune Coelho. Minha irmã de vida. Agradeço pela potência de suas delicadezas e pelo rigor
de seus posicionamentos. Agradeço por me emprestar sentimento de casa e família e por ter sua
trajetória sempre paralela a minha. Agradeço por tais caminhos paralelos terem num dado
momento se cruzado.
A Glau Holanda, pelas parcerias que não se anunciam.
Agradeço a Diego Neuskens por me ensinar a ver que apesar de todas as dificuldades, a vida
pode se revestir de brilhos, gliters e possibilidades. Agradeço pelas perguntas aleatórias e pelo
convite de “let’s get sickening”, pelos musicais emotivos e cigarros baratos. Agradeço ainda por
não por acaso ser o primeiro homem trans drag que conheci na vida.
A Leo Tenório, pelo constante convite ao crescimento. Por me emprestar um sentido de família
muito mais potente e sobretudo, por seguir resistindo a uma vida que se faz árida. Tal resistência
segue me emprestando motivos.
�A Edu e Olga, pelas primeiras cumplicidades que, sem prazo de validade, me lembram de
espaços possíveis. Agradeço pela generosidade de suas reinvenções, onde o mundo todo se vê
ressignificado e onde aprendo a perceber o quanto certas árvores podem crescer no tempo de um
ano.
Às pessoas interlocutoras dessa pesquisa.
A Luciana Vieira, pelas parcerias e potências que sem se pronunciar, me ensinam tanto quanto
os livros e aulas.
A Marcelo Miranda, pelos incentivos constantes, pela crença nos meus trajetos e pelas trocas
pontuais que a cada encontro se atualizam e ganham potência.
À equipe do espaço de acolhimento e cuidado Trans do HC-UFPE. Agradeço pelas trocas, pelo
respeito e pela abertura ao diálogo. Agradeço por me ajudar a reacreditar nas resistências que
podem brotar mesmo a partir de um suposto “serviço transexualizador no SUS”. Agradeço
sobretudo a Suzana Livadias, por sendo psicóloga, coordenar um serviço estruturalmente feito
por e para médicos, subvertendo assim as normas patologizantes em um serviço que se quer de
cuidado integral.
Agradeço a Mônica, minha analista. Por me ajudar no difícil exercício da permanência
Aos encontros de meio do caminho. Carla Freitas, Viviane, Francisco Sena, Tiago Rubini,
Elisiana e tantas outras pessoas que me ensinam que a academia pode sim ser um espaço de
florescimento.
Aos Franciscos que margeiam minha vida. A meu pai – Francisco – por me apoiar muitas vezes
antes de entender. Ao meu irmão – Francisco JR – por se permitir um devir adulto mais próximo
a mim, ao mesmo tempo agradeço pela sempre certeira consultoria em jogos, animes, programas
de computador e por alimentar minha veia geek.
A Ayomi Araújo, por me ensinar no cotidiano a grande potência da vida encarnada. Agradeço
por me emprestar forças, me creditar esperanças, afeto, amor. Por dividir comigo a enorme cena
dos dias e por, apesar de tudo, se fazer moradia a me abrigar. Agradeço pelos dias de chuva e
pelos girassóis.
A Karla Galvão. Pelo rigor, respeito, competência, amizade, leveza, potência, cumplicidade.
Pelo convite constante às esferas maiores do existir e do pensar. Me ensinando que afeto,
academia, posicionamento e modos éticos de existir são instâncias indissociáveis. Essa parceria
de alguns anos, me permite ver que outras formas de estar na academia são possíveis e
necessárias.
À Facepe, pelo financiamento da pesquisa.
�Tal como nosso presente, nosso futuro emergirá da intersecção de
certo número de sendas contingentes que, à medida que se entretecem,
podem criar algo novo. Isso, eu desconfio, não será nenhuma
transformação radical, nenhuma mudança para um mundo “pósnatureza” ou para um “futuro pós-humano”. Talvez sequer constituirá
um “evento”. No entanto, penso que, em todas as espécies de
pequenas sendas, a maioria das quais brevemente virará rotina e será
aceita como verdadeira, as coisas não serão exatamente as mesmas
novamente. (Nikolas Rose)
�Resumo
Recentemente a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) passou pelo processo de
implementação da portaria de nome social para pessoas trans*. Este trabalho é resultado
de uma pesquisa de mestrado realizada no programa de pós-graduação em psicologia da
UFPE e se propõe a pensar criticamente sobre as nuances que atravessam a construção
dessa política. Partindo do referencial metodológico da pesquisa-intervenção em
psicologia, nos vinculamos a projetos epistemológicos que abandonam o paradigma de
ciência neutra e visam resgatar o referencial teórico feminista pós-estruturalista na busca
de justiça social. Como objetivo geral buscou-se analisar a relação de pessoas trans*
com a instituição universitária, observando os processos de criação e difusão de políticas
institucionais específicas para esse segmento. Têm-se como objetivos específicos
1)pensar sobre processos culturais de (des)legitimação do nome social através de suas
capturas institucionais e 2)refletir sobre a organização política que culminou na
reconstrução coletiva da portaria de nome social 3)analisar processos de inserção no
campo interpelados pelo que podemos definir como consciência mestiza. Este estudo
parte de uma perspectiva de inspiração etnográfica e seu trajeto pode ser pensado como
acompanhando três etapas, a saber: 1)auto-organização de estudantes trans* ao redor da
demanda de acesso e respeito ao nome social; 2)diálogo com docentes e construção de
contrapropostas; 3)diálogo com a instituição. Os/as interlocutores/as dessa pesquisa
podem se dividir em dois grupos: o primeiro composto unicamente por estudantes trans*
e o segundo por docentes/servidores e integrantes de coletivos que somam forças à
construção da política. Como ferramenta de análise podemos pensar o ocorrido a partir
de um referencial teórico pós-estruturalista de inspiração feminista. Foi possível
observar que o nome social pautado enquanto política é passível de ser capturado pelo
que Agamben define como inclusão-excludente. Percebeu-se que a instituição de uma
norma jurídica só ganha vida a partir da organização política junto aos grupos a que essa
norma se dirige, numa trama que envolve necessariamente o diálogo com diferentes
setores. Portanto, faz-se importante manter aberta a possibilidade de repensar os
constructos institucionais tão logo eles deixem de abarcar as vidas cotidianas das
pessoas a que se direcionam.
Palavras-chave: Nome Social, pesquisa-intervenção, pessoas trans*, políticas públicas
�Abstract
Recently the Federal University of Pernambuco (UFPE) passed for the implementation
process of the social name for trans * people. This work is the result of a master's
research conducted in the post-graduate program in psychology, and aims to think
critically about the nuances that go through the construction of this policy. Starting from
the methodological framework of intervention research in psychology, we connect the
epistemological projects that leave the neutral science paradigm and seek to rescue the
post-structuralist feminist theoretical framework in the pursuit of social justice. As a
general objective we sought to analyze the relation of trans * people with the university,
observing the processes of creation and dissemination of specific institutional policies
for this segment. The specific objectives are 1) think about cultural processes of (de)
legitimation of the social name through their institutional catches 2) reflect about the
political organization which culminated in the collective reconstruction of the rdinance
of social name 3) analyze processes of inclusion in the field through that we can define
as mestiza consciousness. This study is based on an ethnographic perspective and
your path can be thought as following three stages, namely: 1) self-organization of trans
* students around the demand for access and respect for social name; 2) dialogue with
teachers and construction of counterproposals; 3) dialogue with the institution. The
interlocutors to this research can be divided into two groups: the first composed solely
of students trans * and the second by teachers / servers and collective members who join
forces the construction of a policy. As an analysis tool we can think what happened from
a post-structuralist theoretical framework of feminist inspiration. It was observed that
the social name ruled as a policy is capable of be captured by that Agamben defines as
inclusion-excludable.The institution of a rule It is noticed that only comes to life from
the political organization with the groups to which this rule is directed, in a plot that
necessarily involves dialogue with different sectors. Therefore, it is important to keep
open the possibility of rethinking the institutional constructs as soon as they cease to
cover the daily lives of people that target.
Keywords: Social Name, intervention research, trans * people, public politics
�Lista de Figuras
Figura 1 - Gráfico dos momentos do campo ............................................................................... 44
Figura 2 - Campanha da carteira de nome social no SUS ........................................................... 60
Figura 1 - Linha de tempo dos acontecimentos do campo .......................................................... 69
Figura 2 - Alguns cartazes da campanha #meunomeimporta com discentes trans* .................... 88
Figura 3 - Alguns Cartazes da Campanha com pessoas Cis de diferentes lugares....................... 89
�Sumário
Resumo
1.
8
Introdução: tateando uma escrita mestiza.
F(r)iccionando a escrita
Sobre Políticas e Governos
Governo, Reconhecimento... e abjetos?
Jogando com o espelho – uma breve analítica da cisgeneridade
Metodologias (des)organizadas – produzindo ciência desde a fronteira.
A Casa na Fronteira – Habitando Zonas de Contato.
Das (Des)organizações do acontecimento à Perspectiva Participativa
Delineamentos Metodológicos
12
19
21
22
26
34
36
39
42
2. A Captura e a Dissonância – Pensando Institucionalizações das DinâmicasTrans*
45
Nomes e Superfícies.
Existir performativamente
2.2. Amarrando demandas com o nó identitário.
1. Particulares e Universais
Garantias e Controvérsias – Das autodeterminações ao Estado
2.3.1Esquentando as “letras frias da lei”
48
48
54
56
59
63
3. Nós e Des-organizações prático-teóricas – fazer pesquisa e fazer política para e
com pessoas trans* na UFPE
68
Do contexto do acontecimento
Da organização política como objeto de análise
Não há demanda?! Sobre Hegemonias Cistêmicas nos campos universitários
Gerar demanda a partir do antagonismo.
Analíticas Transversais
Da Pauta LGBT como bandeira política
O Complexo ‘xixi’das pessoas trans*
Identidade, Representação e Locais de Fala. Um pequeno grande entrave na campanha
#MeuNomeImporta
Limites da pesquisa e da intervenção
Da Ação e Seus Reflexos
Do Campo que me Afeta e me é
68
76
78
79
81
82
85
88
91
95
97
4. E depois de tanto verbo...
100
Referências
108
Anexos
116
�1. Introdução: tateando uma escrita mestiza.
Este trabalho se materializa a partir da inserção no programa de pós-graduação
em psicologia e pode ser pensado como um conjunto de perguntas que, insatisfeitas, vão
guiando o pensamento e a leitura pelos tópicos que aqui apresento1. Porém, não nos
enganemos, pois se trata sem dúvidas de uma ficção. Trama inevitavelmente interpelada
pelos recortes advindos de minhas perspectivas teóricas, da minha experiência e de
meus posicionamentos ante o tema que se segue.
As questões que guiam minha trama de conceitos partem de uma confluência,
onde elementos incorporados pelo contato com algumas teorias produzidas sobre meu
tema se somam ao meu campo de experiência (SCOTT, 1998) para possibilitar o olhar
aqui apresentado.
Partindo do referencial metodológico da pesquisa-intervenção em psicologia, nos
vinculamos a projetos epistemológicos que abandonam o paradigma de ciência neutra e
visam resgatar o referencial teórico feminista pós-estruturalista na busca de justiça
social. Como objetivo geral buscou-se analisar a relação de pessoas trans*2 com a
instituição universitária, observando os processos de criação e difusão de políticas
institucionais específicas para esse segmento. Têm-se como objetivos específicos 1)
pensar sobre processos culturais de (des)legitimação do nome social através de suas
capturas institucionais e 2) refletir sobre a organização política que culminou na
reconstrução coletiva da portaria de nome social 3) analisar processos de inserção no
campo interpelados pelo que podemos definir como consciência mestiza (ANZALDUA,
1999).
1
Dadas as nossas filiações teóricas entendo que esse texto parte de uma posição de sujeito cujos
atravessamentos e experiências interpelam inevitavelmente a escrita. Trata-se portanto de um texto que se sabe e se
quer parcial. Porém, em alguns momentos usarei o plural para marcar que as reflexões aí apontadas nascem não
só de mim, mas de meus encontros com outras pessoas e experiências.
2
Entendo a tensa dinâmica identitária que se opera ao delimitar materialidades como distintas, porém, dadas as
especificidades da violência normativa a que apenas algumas experiências são submetidas, opto por
circunscrevê-las ao redor do guarda-chuvas conceitual trans*. Não espero, contudo, unidade nem ontologias da
experiência trans* como naturalmente encontradas em alguma instância pré- discursiva. Por hora cabe dizer
que uso o termo trans* em concordância com a proposta das autoras do site transfeminismo.com que propõem um
termo guarda-chuvas que contemple as autoidentificações no campo da transgeneridade – como transexual,
travesti, transgênero/a, gender queer, pessoa trans não binária etc.
12
�Seguindo um modelo de escrita que propõe a construção de capítulos teóricosanalíticos, a análise das questões aqui propostas foram apresentadas em dois grandes
capítulos que apresentam simultaneamente análise e marco teórico. No primeiro capítulo
intitulado A Captura e a Dissonância – Pensando Institucionalizações das Dinâmicas
Trans* me proponho a responder ao primeiro objetivo específico de pensar sobre
processos culturais de (des)legitimação do nome social através de suas capturas
institucionais. Para tal, construir uma digressão teórica sobre os atos de nomeação
situando a problemática de nome social como elemento investido discursiva e
politicamente foi necessário. Por fim, analisar a relação do Estado com processos de
autodeterminação me proporcionou perceber o caráter contingencial das políticas de
nome social na medida em que tal direito pode ser convertido numa estratégia de
inclusão-excludente.
No segundo capítulo teórico-analítico que intitulei de Nós e Des-organizações
prático-teóricas – fazer pesquisa e fazer política para e com pessoas trans* na UFPE, me
proponho a trabalhar os dois últimos objetivos específicos. Num primeiro momento
desse capítulo reflito sobre a organização política que nos possibilitou criar e alterar
uma norma institucional, situando temporalmente os acontecimentos fundamentais para
a análise pretendida. Em seguida, penso teoricamente sobre temas que transversalizam a
implementação de uma portaria de nome social. Por fim, invocar o debate
epistemológico sobre pesquisa-intervenção me ajuda a situar a produção de
conhecimento que parte de posições mestizas e ocupa lugar nos constructos teóricos em
psicologia.
Durante a construção da dissertação, textos de algumas pessoas (acadêmicas ou
não) me acompanham e incentivam. Nos autoquestionamentos sobre como iniciar um
texto que se propõe crítico, encontro em Gloria Anzaldua apontamentos de um caminho
possível. Ao refletir sobre a importância do seu próprio processo de escrita, ela pontua
que:
No escrever coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder
segurá-lo(...). Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo,
para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você (...).
Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do
censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever,
mas tenho um medo maior de não escrever (ANZALDUA, 2000. P 232)
Escrever nessa perspectiva se desloca do ato de um registro neutro e passa a ser
entendido como processo de construção de verdades. (FOUCALT, 2010). Observar
os
13
�fenômenos sobre essa perspectiva nos convida a operar um deslocamento da própria
concepção de produção científica em que o dito e o não dito se envolvem em complexos
jogos de poder que interferem diretamente nas vidas. (Foucault, 2010). Gloria Anzaldúa
me provoca lembrando que, se anseio ver meu trabalho inserido em perspectivas éticopolíticas comprometidas com noções de justiça social (ADRIÃO, 2015) e
comprometidas em romper e denunciar violentos processos de exclusão é preciso jogar o
jogo discursivo e é preciso escrever.
Para ilustrar os caminhos que me levam a eleger meu tema de pesquisa, encontro
em outra voz uma ponte a partir da qual apresentar meu trabalho. João Cabral de Melo
Neto fala no livro Morte e Vida Severina sobre uma precária odisseia, onde Severino,
diante da impossibilidade de viver no contexto rural do agreste Pernambucano, segue o
curso do rio Capibaribe até chegar ao mar de Recife. Um pequeno recorte no fim da
história me remete ao meu tema. Quando chega aos mangues da capital quase sufocado
pela constante inviabilidade de seu viver, Severino encontra um homem sentado numa
palafita3 na beira da lama. O retirante lhe pergunta então “há muito no lamaçal/apodrece a
sua vida? / e a vida que tem vivido/foi sempre comprada à vista?”. Se me for permitido traçar
um paralelo, podemos nos perguntar quais vidas podem ser ‘compradas a vista’. Sem
dúvidas, na divisão hierárquica que atravessa nossa sociedade, as pessoas trans* em
suma são privadas do direito pleno sobre seus corpos e vidas, e muitas vezes empurradas
para os “lamaçais” sociais, para as periferias, os subempregos, as pistas e madrugadas.
(HOLANDA, 2013; AMARAL, 2012). Diante da pergunta de Severino, de modo muito
sábio seu José responde “a vida de cada dia/cada dia hei de comprá-la. (...) não é que
espere comprar/ em grossas tais partidas/mas o que compro a retalho/é, de qualquer
forma, vida.” Essa resposta me chama atenção por apontar que, se nos propomos a
analisar quadros de uma violência que dorsiliza4 a constituição mesma de nossa
sociedade (VALÊNCIA, 2010) são as micropolíticas que podem abrir brechas de vida
possível. Se não podemos ainda garantir plenamente direitos, segurança e assistência a
todas as pessoas trans* em condição de vulnerabilidade, nossas ações locais podem
reverberar em pequenos retalhos de mudança, que apesar de tudo o mais, são “de
qualquer forma, vida”.
3
Pequena moradia feita de madeira, metal e papelão construída sobre os manguezais que margeiam os rios.
Para essa autora, a violência é um dos elementos fundantes de nossa cultura, sustentando e atravessando
tanto processos coletivos quanto configurações de subjetividade, como uma espinha dorsal.
4
14
�O pequeno retalho de vida (entendido como recorte de acontecimento situado
num tempo e espaço específicos) que busco apresentar e analisar neste trabalho se trata
do processo de criação e implementação de políticas para pessoas trans* no âmbito da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Busco também pensar sobre as
implicações que opções metodológicas por perspectivas participativas podem ter numa
dissertação que parte do lugar da psicologia. Com esse trabalho, meu próprio cotidiano
acadêmico se converte em meu campo, me convidando sempre a ocupar posições que
podemos definir como híbridas (HARAWAY, 1995) ou mesmo como Mestizas
(ANZALDUA, 1999).
Este estudo pode ser localizado como partindo de perspectivas feministas pósestruturalistas em diálogo com faces de teorias e campos de saber que propõem projetos
de uma ciência corporificada (HARAWAY, 1995), de saberes pós/decoloniais5 e de
autoras que trabalham ciência como uma ferramenta de luta por justiça social (FINE,
2006; GALVÃO, 2015). Partindo desses campos, a delimitação do objeto de estudo,
tarefa tão cara ao fazer científico, é um dos meus questionamentos fundantes e enquanto
pergunta, guia minha trajetória inicial.
O trajeto apresentado e analisado nessa dissertação não ousa se colocar como
manual de um modus operandi. Também não lhe acredito passível de ser universalizado
para além do contexto em que se situa. Mas busco apoio em Donna Haraway para
perceber que a produção de uma ciência engajada necessariamente passa pela percepção
de que os saberes são sempre localizados. Localizando então minha produção científica
no contexto do Estado de Pernambuco, o processo de aproximação e recorte dessa
dissertação é justificado.
A partir da perspectiva de inspiração etnográfica6 podemos perceber que a
construção do nosso objeto ocorre de forma dinâmica, nos solicitando casuais alterações
do que antes havia sido previsto (CLIFFORD, 1998). Sendo assim, chego ao meu tema
de pesquisa através de uma relação constante entre experiência e imprevisibilidade dos
acontecimentos.
Esse apontamento me convida a refletir sobre os usos da experiência como um
elemento que necessariamente atravessa nosso trabalho, porém sua evocação não
5
Entendo a distinção feita entre os termos pós-colonial ou decolonial, sendo a diferença entre os termos
uma marcação geopolítica de onde parte o próprio conhecimento sobre as opressões imperialistas que
dividem o norte do sul do mundo. Porém, no decorrer desse trabalho, por dialogar com autoras de ambas
as correntes, mantenho as duas denominações.
6
Importante marcar que não se trata de uma etnografia, mas buscamos referencias do campo etnográfico
que nos ajudem a pensar a composição do campo.
15
�configura uma legitimação das análises e das perspectivas teóricas. Nesse ponto de
vista, pensar experiência torna-se um convite a historicizar tanto o acontecimento
quanto as identidades forjadas nesse contexto.
Ao começar a delimitar meu campo de investigação a partir da minha
experiência, parto do pressuposto de que as posições de sujeito que atravessam o
acontecimento são assim configuradas. Esse lembrete feito por Joan Scott (1995)
encontra eco na potente afirmação de Donna Haraway (1995) de que o que nos é
possível afirmar em um trabalho científico é sempre localizado dentro de um ponto de
vista. Tais pontos de vista, por sua vez, são sempre atravessados por linhas de poder que
delimitam de onde surge o conhecimento validado. Assim, tanto experiência quanto
identidade por si só não legitimam a produção de conhecimento, mas historicidade da
experiência e posicionamento crítico, para essas autoras e dentro de um referencial
epistemológico feminista, produzem.
A visão requer instrumentos de visão; uma ótica é uma política de
posicionamentos. Instrumentos de visão mediam pontos de vista; não há
visão imediata desde os pontos de vista do subjugado. Identidade, incluindo
auto-identidade, não produz ciência; posicionamento crítico produz, isto é,
objetividade. (HARAWAY, 1995 p.27)
Se para Haraway, uma ótica é uma política de posicionamentos, o lugar para
onde eu foco minha análise inevitavelmente fala também de meus próprios
posicionamentos e perspectivas éticas, políticas e epistemológicas. Ao olhar para a
UFPE como campo alguns deslocamentos se operam.
Entre os anos de 2014 e 2015 a Universidade Federal de Pernambuco foi palco
de calorosos debates, campanhas e mobilizações em prol da construção de políticas
afirmativas para pessoas LGBT. Uma complexa rede se configura quando entram em
relação protagonismo de alunas e alunos trans* em parceria com docentes com
engajamento teórico e político na temática, com a mídia, que nesse contexto foi uma
força a se considerar na visibilidade da questão. Como resultado, ocorreu na UFPE um
processo singular de composição de política institucional.
O que se coloca para nós como problema de pesquisa, nesse contexto é entender
os processos de articulação política que envolvem a cena. Tendo a UFPE como palco,
podemos observar de uma forma mais ampla a configuração das redes institucionais
atravessadas por discursos que se fundam no embate. Desse modo, lançando luz para o
processo de criação de políticas afirmativas no nosso microcontexto podemos analisar a
configuração de práticas que nos atentam a refletir sobre elementos fundantes das
16
�próprias políticas democráticas. Tomando como base a teoria de Chantal Mouffe e
Ernesto Laclau (1985), entendemos por articulação, práticas que estabelecem uma
relação em que a identidade dos elementos é modificada com isso, noção que se conecta
com a ideia desses autores de que discurso se compõe como uma totalidade resultante
da prática articulatória. A produção de discursos resultante das práticas articulatórias
gera consequências nos contextos coletivos e pode culminar na elaboração de
documentos capazes de assumir o lugar do que Foucault caracterizou como monumento.
A história é o que transforma os documentos em monumentos e que
desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava
reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que
devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados,
organizados em conjuntos. (FOUCAULT, 2008 p.8)
.
As duas portarias lançadas pela Universidade nesses meses passados e a recente
política LGBT podem ser pensadas como monumentos que se fincam e ao mesmo
tempo materializam discursos provenientes de práticas articulatórias entre diferentes
sujeitos políticos. O que entra em jogo e se torna passível de análise ao tomar a UFPE
como campo é a possibilidade de protagonismo advindo de vivências historicamente
marginalizadas em relação com processos de institucionalização de demandas
específicas. Partindo da perspectiva metodológica de pesquisa-intervenção (ADRIÃO,
2014) e tomando como base o campo de saber denominado como pesquisa-ação
participativa crítica (TORRE, 2014) analisar a própria metodologia que se propõe
participativa é também meu objetivo.
Pensando na proposição de Joan Scott (1995) sobre a forma como as
experiências compõem nossa perspectiva, creio que situar brevemente um pequeno
recorte de acontecimento do “campo” pode me ajudar a ilustrar os motivos dessa
dissertação.
Cena 1 - Era janeiro de 2014. Eu ainda aguardava o resultado da seleção de
mestrado, que só viria a sair algumas semanas depois. Num domingo comum, combino
um almoço com amigos próximos. Alguns deles tinham na época certa influência e
inserção no movimento nacional organizado de pessoas trans*. Apesar de ser um
momento mais intimista, um jovem havia entrado em contato por rede social com um
dos amigos que fazia parte da ABHT7 e queria conversar, ter acesso a informações e
conhecer outros homens trans. Desse modo, ele também foi convidado para o nosso
7
Associação Brasileira de Homens Trans
17
�almoço, fato que fez com que naquele domingo, eu pudesse também o conhecer. Diego8
tinha então 16 anos e iniciava sua transição. Na época ele já ensaiava inserir peças de
vestuário “masculino”, mas ainda mantendo uma ou outra peça “feminina”, o que marcava
sua performance com um tom um tanto andrógino. Não havia feito uso de nenhum
composto hormonal, o que lhe caracterizava como o que o grupo de homens trans
denomina pré-T9. Diego havia acabado de passar no vestibular da UFPE para o curso de
teatro e me contou que sua escolha fora motivada especialmente por sua paixão por
musicais.
Reencontro-o alguns meses depois e durante esse meio tempo em que não nos
vimos sustentar a sua masculinidade lhe havia feito enfrentar graves violações de direitos.
Em sua relação com a UFPE, as violações se deram pela invisibilização de sua vivência a
partir do longo percurso que ele teve que percorrer ao solicitar ser tratado no masculino e
com o nome que melhor lhe representava. A coordenação de seu curso, por não saber
institucionalmente o que fazer o encaminha ao corpo discente, que o encaminha a
diferentes setores da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, que finalmente diz não haver
demanda para esse tipo de solicitação. Nesse meio tempo, o semestre letivo chega à
metade e as chamadas saem todas com um nome feminino, a partir do qual a maioria dos
professores começa a se referir publicamente. Nesse ponto, o não reconhecimento de sua
especificidade pela universidade se soma a um acontecimento que infelizmente atravessa a
trajetória de muitas pessoas trans*: quando decide “se assumir10”, a família não recebe sua
transgeneridade de forma tranquila e após agressões físicas e verbais, ele é expulso de
casa. Sem apoio dos demais familiares e sem acesso a políticas assistenciais como bolsa
de manutenção ou residência estudantil e sendo ainda menor de idade, Diego é
encaminhado pelo Centro Estadual de Combate a Homofobia (CECH) a um abrigo
público de menores mantido pela prefeitura do Recife. Diante de tamanha inviabilidade,
abandona a graduação na UFPE.
8
Por tomar como tema central a política de autonomeação e seus entraves, a nomeação das pessoas
interlocutoras dessa pesquisa foi um tema de necessária reflexão. Em suma, o modo como eu me refiro
aqui às pessoas citadas foi escolhido por elas próprias e dada a especificidade da temática, é importante
marcar que quase todas elas (com exceção de duas pessoas) me solicitaram a manutenção de seus nomes
reais nesta dissertação.
9
Pessoas que transicionam para o masculino, mas ainda não fizeram uso da testosterona.
10
Uma noite, em meio a uma discussão, sua mãe rasga e queima todas as suas roupas masculinas. Fato
que aponta que mesmo sem ser anunciada verbalmente, sua transição já gerava um grande incômodo na
sua família. Sobre o “sair do armário”, o ensaio A Epistemologia do Armário pode nos ajudar a levantar
pontos pertinentes. Porém, talvez pelo fato de que a autora situa sua perspectiva em experiências de gays
e lésbicas, desconfio que na vivência trans* a relação com o armário enquanto dispositivo se dá de
maneira distinta. Contudo, apesar de considerar importante apontar essa questão teórica, não me deterei
sobre ela nessa dissertação.
18
�Trago esse recorte de acontecimento por entender que ele atravessou e atravessa
de modos muito intensos minhas inserções no debate de políticas institucionais para
pessoas trans*, se constituindo como um elemento importante no meu campo de
experiência. Sobre esse nível de atravessamento, Joan Scott pontua que a experiência
não é o que legitima nosso conhecimento, ela é, contudo, um convite a historicizarmos o
contexto apresentado. Nossas posições de sujeito são, portanto, nessa perspectiva,
inevitavelmente atravessadas pela experiência.
Penso que o encontro com Diego me atravessa muito na delimitação do tema e
nas escolhas metodológicas de atuação na/da pesquisa. Desse modo, em consonância
com o trecho citado não creio que invocar tal experiência per si é capaz de legitimar
meus argumentos. Podemos pensar que, se entendemos junto a Foucault (2010) que
sujeito é sempre um lugar vazio a que algumas pessoas são chamadas a ocupar, os
lugares de sujeito que ocupei no decorrer dessa dissertação são forjados e se fazem
possíveis também pelas experiências que pude ir tendo enquanto delimitava meu campo
de interesses.
Entendo que o relato que acabei de trazer, apesar de apontar como a necessidade
dessa dissertação “desadormeceu” em mim, não traz elementos que toquem em minhas
supostas posições mestizas. Optei em iniciar com esse trecho específico de relato porquê
desse despertar para o problema, impulsionado fortemente pela relação de afeto
desenvolvida junto ao “interlocutor”, se tornam possíveis os demais movimentos e
abrem-se outras cenas na composição do campo.
1.1 F(r)iccionando a escrita
A partir da perspectiva teórica que usamos como base, tanto a descrição do
campo quanto a própria teorização pode ser pensada como uma ficção. Desse modo, as
etapas de construção da verdade científica nunca contemplam a totalidade do fato
ocorrido, mas muito anterior a isso, limitam-se sempre a ser uma versão do fato
registrado.
A identidade dos sujeitos envolvidos na trama também pode ser pensada como
uma ficção. Resultado de um jogo político de estratégias. Nesse ponto, realidade e
ficção se mesclam com certa promiscuidade e podem inclusive, ser vistos como
conceitos complementares. “Realidade social significa relações sociais vividas, significa
19
�nossa construção política mais importante. Significa uma ficção política capaz de mudar
o mundo.” (HARAWAY, 2009. p.23) Com esse trecho, o manifesto ciborgue nos lembra
que as relações sociais que fundam nossa realidade são também uma ficção política – a
mais importante, inclusive. Sua importância decorre do fato de que as subjetividades
oriundas dessa relação são agentes de manutenção do espaço de vida coletiva. O
enfrentamento a uma coletividade que engendra culturas violentas de desigualdade e
opressão passaria ainda pelo embate nas ficções hegemonicamente utilizadas para
explicar e justificar o mundo.
Donna Haraway pontua que o movimento internacional de mulheres tem
construído um discurso que delimita algo como “a experiência das mulheres”. Para ela,
essa construção é ao mesmo tempo uma ficção e um fato extremamente político que
aponta para realidades sociais. A partir desse exemplo, Donna Haraway nos convida a
perceber que em nossos tempos, a fronteira entre ficção e realidade social é apenas uma
ilusão de ótica (HARAWAY, 2009)
Ciência pode ser entendida, nessa perspectiva como a construção de ficções.
Porém, assim como o irônico mito do ciborgue de Haraway, as ficções políticocientíficas também tem materialidade e pesam sobre os sujeitos a que atravessam a partir
de suas constantes tecnologias discursivas. No manifesto ciborgue, ela traz que:
As tecnologias e os discursos científicos podem ser parcialmente
compreendidos como formalizações, isto é, como momentos
congelados das fluidas interações sociais que as constituem, mas eles
devem ser vistos também como instrumentos para a imposição de
significados. A fronteira entre ferramenta e mito, instrumento e
conceito, sistemas históricos de relações sociais e anatomias históricas
de corpos possíveis (incluindo objetos de conhecimento) é permeável.
Na verdade o mito e a ferramenta são mutuamente constituídos.
(HARAWAY, 2009 p 64)
Historicamente, a noção de identidade pode ser pensada como um elemento que
habita a fronteira entre mito e ferramenta. Mito por surgir sempre a partir de esferas
discursivas atravessadas por relações de saber-poder. Ferramenta por ser, como nos
lembra Haraway, fundamento de relações sociais de sujeitos entre si, entre sujeitos e
coletividades, entre sujeitos e o Estado. Identidade no nosso contexto local é ainda
importante ferramenta para a construção de políticas públicas que possibilitem proteção,
acolhimento e acesso a formas de vida mais digna. Portanto, sobre a truncada relação
entre identidade, política e governo, devemos nos ater brevemente.
20
�Sobre Políticas e Governos
Inegavelmente, ao falar em campo político estamos lidando com um conceito
polissêmico, atravessado por significados múltiplos que implicam diversos usos. A
reflexão sobre qual dos sentidos optamos se faz importante na medida em que esclarece
as posições teóricas (e de certa forma, “políticas”) que permeiam a construção da
análise.
Pensar em termos de política pública, implica ainda evocar a noção de governo.
Se para Foucault (CASTRO, 2009) o governo se expressa como um complexo processo
que envolve gestão e cuidados de si e dos outros refletidos nas práticas e instituições,
podemos também perceber tais termos sendo usados em outro sentido. Nessa segunda
perspectiva, Estado é entendido como a unidade política (país, município etc), ao passo
em que Governo é posto como a organização que administra tal unidade política. São
duas formas um tanto diferentes para pensar a mesma questão, porém que se cruzam. Na
filosofia Foucaultiana, o que se entendeu como as práticas de governar incluem em sua
expressão o governo de si (ligado ao campo da ética) e o governo dos outros
(relacionado as formas políticas de governamentalidade). Da relação entre essas esferas,
surgiriam a biopolítica, as disciplinas, as formas de ascese, os demais aparatos
institucionais e as técnicas de cuidado de si. (CASTRO, 2009)
Porém, voltando o olhar à perspectiva apresentada por Maria Luiza Heilborn,
Leila Araújo e Andreia Barreto (2010), podemos entender a composição das políticas
públicas, sabendo que estas podem muitas vezes ser importantes ferramentas de
garantias de direitos e proteção a grupos historicamente oprimidos no Brasil. Ainda
junto com essas autoras, podemos entender o porquê, na organização do nosso Estado
democrático, pleitear política pública se tornou uma das grandes pautas do movimento
social. Entende-se que a partir de seus modos de elaboração e efetivação, as políticas
podem ser entendidas como Políticas de Governo e/ou Políticas de Estado. Sendo o
governo entendido como uma organização administrativa delimitada pelo grupo eleito e
com tempo delimitado de ocupação de cargos, uma política de governo seria forjada em
processos “mais simples”, porém, os efeitos e a permanência de tais políticas se colocam
em relação com a administração, podendo sair da pauta tão logo uma outra
administração ocupe os cargos e considere tal política de pouca relevância
(HEILBORN, ARAÚJO e BARRETO, 2010). As políticas de Estado por sua vez, apesar
de passar por processos burocráticos mais minuciosos e lentos em sua elaboração, uma
21
�vez que são efetivadas encontram garantias que independem do grupo político
dominante. Tal distinção justifica a luta para que algumas políticas de governo sejam
elevadas ao status de política de Estado.
Dadas essas breves definições, a questão que nos guia a partir de agora é: se a
composição de política pública para grupos minoritários envolve embates na cena
coletiva, a representatividade das demandas do segmento interessado se faz necessária
enquanto um processo de visibilizar necessidades e negações de direitos. Porém, parece
sempre haver um limite nesses processos de representação coletiva. Suspeito, pois, que
tal limite poderia ser o mesmo encontrado nos processos de identidade.
Governo, Reconhecimento... e abjetos?
Uma palavra que ecoa nas falas advindas de diferentes movimentos sociais
parece ser reconhecimento. Diante de uma coletividade que hegemoniza corpos, práticas
e estilos de vida enquanto silencia e apaga outros, visibilidade parece ser ferramenta
importante na luta. Ao pensar sobre reconhecimento e políticas feministas, Nancy Fraser
(2002) nos lembra que as vicissitudes da teoria parecem sempre acompanhar as
vicissitudes da política. Ela pontua ainda que nos últimos trinta anos migramos de uma
perspectiva política feminista calcada na teoria marxista para metas “menos materiais”.
Assim, para essa autora, passa-se de uma lógica que visa políticas de redistribuição para
outra que busca políticas de reconhecimento. Tal mudança espelha a modificação no
centro de gravidade das políticas feministas (FRASER, 2002) onde as pautas antes
centradas no trabalho e na violência dão espaço a pautas sobre identidade e
representação. Desse modo, para ela as lutas culturais passariam a se sobrepor às lutas
sociais. Como proposta, a análise bidimensional do gênero poderia ser útil ao considerar
tanto a face político-econômica quanto as faces discursivo-culturais que envolvem as
problemáticas de gênero. Desse modo, o convite a complexificar análises que embasem
políticas públicas é feito.
Tais debates, entretanto, apontam para uma discussão ainda em aberto. Se a
solução para injustiças econômicas passaria pela redistribuição de riquezas e
recomposição da divisão de trabalho, a solução para injustiças sociais perpassaria
mudanças culturais e simbólicas significativas. (FRASER, 2012). Porém esses temas são
imbrincados e necessariamente se atravessam. Podemos pensar então que um dos modos
de enfrentamento das injustiças sociais é o reconhecimento.
22
�Para Nancy Fraser, uma política de reconhecimento implica em uma política de
identidade, argumento que nos abre espaço para pensar algumas importantes questões.
Há alguns perigos a se considerar. Ao pensar políticas delineadas ao redor de um
determinado grupo, cria-se a necessidade de fincar marcos conceituais que circundem e
apontem quem é ou não pertencente a tal grupo, e como consequência, quem será ou não
coberta/o/e por tal política. Sobre essa problemática, Donna Haraway pontua que “as
taxonomias do feminismo produzem epistemologias que acabam por policiar qualquer
posição que se desvie da experiência oficial das mulheres.” (HARAWAY, 2009. P.50).
Certamente podemos ampliar a visão e perceber essa lógica em outros movimentos,
como os que envolvem questões de raça, território etc.
Nos usos da política de identidade um termo possível surge através da definição
de essencialismo estratégico. De um modo resumido, a proposta seria assumir a ficção
naturalizante dos marcos identitários como meio de obter direitos para determinado
grupo.
Olhando para o segmento das pessoas trans*, podemos perceber os usos do
essencialismo estratégico quando passa a ser pontuada pelo movimento organizado, a
distinção entre travestis e transexuais. Se por um lado essa distinção pode parecer
hierarquizante e colonizadora quando se baseia unicamente nos usos que as pessoas
fazem de seu genital, não podemos negar que a diferenciação entre dois grupos
diferentes aponta para uma multiplicidade de pautas desde sempre impossível de ser
homogeneizada. Se a cirurgia de redesignação é pauta forte na organização de mulheres
transexuais, grupos que se entendem como travestis não vão ter essa necessidade como
de primeira ordem. (BARBOSA, 2010; CARVALHO, 2011). Desse modo, o uso
estratégico da identidade organizada em um movimento único e ao mesmo tempo dual
autodenominado movimento de transexuais e travestis vai mediar o diálogo com o
estado e consequentemente com a elaboração de políticas públicas.
Dois elementos podem ser introduzidos nesse debate. Por um lado, a relação
de/com o poder no exercício de essencialismo estratégico pode ser entendido como
relação externa aos sujeitos. E segundo, em um paradoxo que funda e é fundado pelo
primeiro ponto, as identidades podem ser vistas como pré-concebidas. Chantal Mouffe
nos convida a ampliar essa reflexão e nos provoca afirmando que a prática política no
contexto de democracia não se limita a defender direitos de posições de sujeito préconstituidas, mas para ela, é a própria prática política o que constitui essas mesmas
23
�posições que defende, porém sempre num terreno precário, movediço e sempre
vulnerável (MOUFFE, 2003).
Desse modo, a identidade transexual e travesti não seria anterior à prática
política que dela decorre. Podemos pensar-lhes tanto como resultado quanto como
fundação de práticas discursivas contingentes e relacionais.
Refletindo sobre a tensão entre estratégias de identidade no movimento LGBT,
Leandro Colling (2015) comenta que nesse contexto, a afirmação de identidades não foi
uma criação aleatória e sem justificativas. Pra ele, num primeiro momento, a luta dos
movimentos que hoje podemos entender e nomear como LGBT's era criar um discurso
de reconhecimento que demarcasse quem o movimento representava e ao mesmo tempo,
agir diretamente na autoestima das pessoas oferecendo discursos diferentes dos
comumente associados a pessoas LGBT's. Colling contudo faz referência a Joan Scott e
nos questiona se igualdade e diferença são de fato conceitos opostos e que, os
movimentos LGBT no Brasil, poderiam traçar estratégias combinadas no lugar de
permanecer apenas trabalhando com afirmação de identidades (COLLING, 2015). Como
proposta, Colling defende que pensar em termos de políticas da diferença pode nos
ajudar a avançar na criação de pautas que visam o respeito às diferenças.
Uma especificidade ainda a se considerar quando observamos a elaboração de
políticas específicas para a população trans* é que ela acaba sendo atravessada pela
manutenção institucional de “experiências oficiais”. Basta recordarmos que a própria
definição de uma identidade transexual nasce da relação colonizadora com o saber
biomédico (MISSÉ, 2010), o que faz com que as pautas oferecidas na cena política para
essa população inegavelmente sejam também atravessadas pelas taxonomias normativas
disponibilizadas para essa vivência.
No livro Linguagem, Poder e Identidade, Judith Butler (1997) retoma as
proposições de Austin e nos lembra que a linguagem assume muitas vezes uma função
performativa. Ela não só representa as coisas e os sujeitos, como também possibilita
seus sistemas de vida e morte. Desse modo, o ato de nomeação pode ser pensado como
um rito social capaz de materializar formas de lugares de existência possível.
Poderíamos pensar que para que se dirijam a alguém, esse alguém
deve primeiro ser reconhecível, porém nesse caso a inversão
althusseriana de Hegel parece apropriada: a chamada/nomeação
constitui a um ser dentro do circuito possível de reconhecimento e, em
24
�consequência, quando essa constituição se dá fora desse circuito, esse
ser se converte em algo abjeto11. (BUTLER, 1997, p.21)
Há uma interessante e complexa dinâmica identitária posta com/pelo ato de
nomeação. O trecho citado sugere que há algo como um circuito de reconhecimentos
possíveis do qual derivam nossas posições de sujeitos inteligíveis. Nossa vida é
possibilitada pelos conjuntos de enunciados que nos são disponibilizados para nos dizer.
Segundo essa linha de pensamento, podemos ainda refletir junto com a autora que ser
destinatário de uma alocução linguística não é apenas o efeito de um reconhecimento
pelo que se é, mas sim a forma como se concede a alguém os termos a partir dos quais
existir. Para Butler, alguém “existe” não só porque é reconhecido, mas sim porque é
reconhecível (BUTLER, 1997). Assim, “os termos que facilitam o reconhecimento são
eles mesmos convencionais, são os efeitos e os instrumentos de um ritual social que
decide, frequentemente através da violência e da exclusão, as condições linguísticas dos
sujeitos aptos para a sobrevivência.12 (p.22)
A partir dessa reflexão, podemos tencionar os termos disponibilizados para as
vivências trans* organizarem simbolicamente suas existências. A delimitação de uma
hierarquia de corpos e sujeitos é assim posta, fato que faz com que as vivências que não
cabem na norma de gênero culturalmente fincada nos nossos contextos encontrem dois
caminhos quando em diálogo com estruturas normativas: ser reinserida através de
correções semiótico-técnicas13 (PRECIADO, 2008) ou ser expulsa para zonas de
abjeção. (BUTLER, 2003; KRISTEVA, 1988)
Um dualismo como o que acabara de ser posto pode parecer (e em certa medida
é) simplista e com uma leve tendência universalizante. Resgatando o conceito de
transculturação (PRATT, 1999), podemos pensar que mesmo nas fronteiras limítrofes da
abjeção, as zonas de contato podem se configurar como bolhas de resistência e
negociação constante dos sentidos coletivos dados as vivências. Porém, em nível de
Livre tradução minha de: “podríamos pensar que para que se dirijan a uno,uno debe ser primero
reconocible, pero en este caso la inversión althusseriana de Hegel parece apropriada: la llamada
constituye a un ser dentro del circuito posible de reconocimiento y, en consecuencia, cuando esta
constituición se da fuera de este circito, ese ser se convierte en algo abyecto.”
12
Livre tradução do trecho: “Lo términos que facilitan el reconocimento son ellos mismos
convencionales, son los efectos y los instrumentos de un ritual social que decide, a menudo a través de la
volencia y la exclusión,las condiciones linguisticas de los sujetos aptos para la supervivencia.”
13
Preciado usa esse termo para ilustrar como vários dispositivos se cruzam na tarefa de produzir corpos
generificados. Haveria nessa proposta, uma continuidade entre construções discursivas e construções
técnicas de ordem “material” (como compostos hormonais, próteses artificiais, instrumentos de
intervenção cirúrgica etc).Gênero seria no fim possibilitado e materializado não só pela performance
como definiu Butler, mas também pelas constantes intervenções tecnológicas que nos atravessam.
11
25
�alguma (auto)pedagogia política, mantenho por ora esse suposto dualismo entre
“readequação” normativa de corpos OU vida abjeta e, portanto, assassinável, por motivo
de uma afetação muito direta e material. No momento em que escrevia esse trecho,
esbarrei novamente em um texto jornalístico que narrava o fato de que em uma cidade
do interior da Paraíba, uma travesti fora perseguida e apedrejada por parte da população
da localidade onde ela residia14. Não bastando a brutalidade da cena, em suma, matérias
como essa apresentam fatos num tom de deboche, usando termos pejorativos, expondo o
nome de registro da vítima e tratando a mulher violentada o tempo inteiro no masculino,
deslegitimando por completo sua existência e os motivos do crime. Retomando então a
citação de Butler, vemos nesse caso de forma muito crua, como o rito social de
nomeação é também atravessado pela decisão de quem é reconhecível e de quem é
indesejável ao ponto dessa vida poder ser descartada em praça pública sem sequer ser
digna de ser noticiada como vítima.
Chegamos numa das nossas encruzilhadas teóricas. Ao apresentar meu tema e
objeto, se faz necessário apresentar o sujeito político a que me direciono. Como opção
ético-epistemológica, diante da necessidade de buscar conceituar o universo trans
(BENEDETTI, 2005) dialogo com autoras e autores que escrevem a partir do lugar da
transgeneridade para pensar como a vivência da cisgeneridade15 é posta como sinônimo
da própria normalidade. Na medida em que isso for sendo feito, espero continuar ir
dispondo pelo caminho as perspectivas teóricas que amarram a construção dessa ficção
teórica.
Jogando com o espelho – uma breve analítica da cisgeneridade
Os discursos, como os silêncios, nem são submetidos de uma vez por
todas ao poder, nem opostos a ele. É preciso admitir um jogo
complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo,
instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de
resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. (FOUCAULT,
1988 p. 96)
Na construção ficcional de um trabalho escrito em tópicos, enquanto me detenho
nesse trecho é noite de uma terça-feira. Durante a manhã deste mesmo dia, ocorreu
minha primeira consulta com um médico endocrinologista vinculado ao serviço
14
A matéria é disponível no link: http://www.exatasnews.com.br/travesti-e-perseguido-e-apedrejado- porjovens-na-zona-sul-de-cajazeiras/
15
Sobre esse termo, falarei a seguir.
26
�transexualizador do Hospital das Clínicas da UFPE16. No violento jogo de poder que
ocorreu nas entrelinhas de uma “simples” consulta, inevitavelmente eu oscilava entre as
posições de pessoa usuária do serviço (mera “paciente”, na linguagem usual) e
profissional de psicologia que escreve uma dissertação enquanto busca perceber seu
próprio processo através de lentes pós/descoloniais e antipatologizantes. O que torna
esse momento sintomático de toda a discussão que espero fazer é perceber que ele se
configurou como uma disputa discursiva atravessada pelo dispositivo médicopsiquiátrico que desvela elementos estruturais do processo de conformação cultural da
transexualidade enquanto desordem/disfunção e por consequência, algo que não deveria
existir.
Ao buscar ajuda técnica em meu processo de hormonização, entro num jogo
onde o representante do saber médico, do alto de seus marcadores17 me captura numa
teia onde são postas nas entrelinhas apenas duas opções. 1 – através da anamnese18 ele
enxerga em mim características que “ajudem” no diagnóstico de transexualismo e com
isso me prescreve a receita para acessar os hormônios que desejo, bem como exames
para acompanhar possíveis anormalidades em minhas taxas, me possibilitando um
pouco mais de segurança no processo de transição ou 2 – ele não enxerga em mim
possíveis critérios diagnósticos, questiona autoritariamente meu desejo sobre meu
próprio corpo e me nega acompanhamento profissional, alegando em nome da “minha
segurança” que, por não possuir transtorno psiquiátrico de identidade de gênero, não vê
motivo algum em me receitar o que quer que seja.
A violência desse processo decorre do fato que nesse (des)encontro, enquanto ele
me explicava sobre a minha possível desordem mental (apesar de não ser psiquiatra), me
era afirmado um discurso onde o único lugar de vida e significação possível para
16
O Hospital das clínicas da UFPE comporta um serviço transexualizador com diferentes profissionais. É
importante ressaltar que o relato aqui apresentado não diz respeito a perspectiva do restante da equipe (em especial
as profissionais “não médicas”). De modo que nessa breve análise, considerar a construção disciplinar da medicina
quando em relação com pessoas trans* nos convida a entender essa como uma questão estrutural da própria
(desin)formação dos profissionais de medicina. Ponto importante de assinalar é que a coordenadora (que
diferente de outros serviços para pessoas trans* é psicóloga e não médica) e o “núcleo duro” da equipe vem
sustentando e construindo uma perspectiva de trabalho despatologizante, resistindo desde dentro de uma
grande instituição com embates cotidianos.
17
Se couber em algum nível de discussão, ele se apresentava como um homem, branco, hétero cisgênero e tendo em
média 50 anos e visivelmente com certo poder aquisitivo.
18
Entrevista inicial feita em geral por profissionais de saúde.
27
�corpos trans* é o da patologia. Tal fato deve-se nitidamente ao que viviane v (2013)19
define como supremacia cisgênera. Sobre o conceito de cisgeneridade, ao comentar
sobre os recentes usos em espaços acadêmicos de palavras como cisgênero,
cisgeneridade, pessoas cis, viviane pontua que em detrimento de uma camada
acadêmica que valoriza complexificações e elitismos teóricos, o surgimento destes
termos tem uma origem simples e se baseia na utilização do prefixo latino comumente
utilizado como oposto ao prefixo trans. Para viviane, o efeito dessa nomeação em
primeiro momento é desnaturalizar um lugar de privilégio ao passo em que oferece
opções conceituais que escapem da manutenção supremacista que chama as pessoas não
trans de homem/mulher “natural”, “de verdade”, “biológica”, “cromossômica” etc. (v.
2013)
Há então uma inversão em curso. Reverter a ficção teórico-discursivo-política
que olha apenas para a vivência trans* desloca o jogo do espelho e nos empresta uma
palavra investida de ironias para tensionar supremacias da vivência cisgênera. Ao
refletir sobre a falta de uma palavra que nomeasse as vivências não trans*, lembro
Donna Haraway quando comenta que “apenas aqueles que ocupam as posições de
dominadores
são
autoidênticos,
não
marcados,
incorpóreos,
não
mediados,
transcendentes, renascidos.” (1995 p. 27). A política dos vocábulos não é casual, mas
surge a partir dos locais legitimados de divulgação das verdades “científicas”. Se
olharmos para o lugar da produção de conhecimento, é inegável que em suma, toda a
teoria legitimada sobre transgeneridades fora produzida (e também legitimada) a partir
do lugar da cisgeneridade, portanto, da “normalidade”.
No texto intitulado Uma sinfonia social: os quatro movimentos da transfobia na
teoria, Katherine Cross (2010) traça um paralelo com a teoria descolonial de Raewyn
Connell e lança mão da proposta analítica desta segunda autora para pensar na relação
da academia com pessoas trans*. Para Katherine, esta relação pode ser observada como
seguindo os mesmos pressupostos coloniais apontados por Raewyn. Desse modo, tanto
na relação colonial quanto no contato com pessoas trans*, os quatro movimentos
apontados estariam presentes na própria definição de objeto científico. Seriam eles: 1 –
a pretensão de universalidade; 2 – a leitura desde o centro; 3 – gestos de exclusão e 4 –
o grande apagamento. (CROSS,2010)
___________________________________
9
Fazendo referência a bell hooks, a autora prefere o uso de seu nome em letras minúsculas para apontar o
desejo de fugir da lógica de holofotes e apontar que o nome de quem quer que seja, por si só, não legitima ou
garante as ideias expressas.
28
�Ao escrever sobre como na teorização sobre transgeneridades, as pessoas trans*
parecem ser os sujeitos que menos tem voz, Katherine comenta que é comum encontrar
mesmo nos estudos sobre experiências trans* fetichizações e estereotipias que negam e
invisibilizam a multiplicidade das formas com que as diferentes pessoas trans*
experiênciam seus processos. Para ela, esse silenciamento das pessoas trans* através da
teoria tem a finalidade de gerar um discurso oficial que só mostra as vozes que se
alinhem com uma narrativa cis dominante, como também, sustenta um discurso
salvacionista de que as ideias articuladas na psiquiatria, na medicina ou num modelo de
academia conservador podem de alguma forma salvar as pessoas trans*. (CROSS, 2010)
E de um modo um tanto obvio, podemos seguir a crítica da autora e perceber que essa
salvação independe das pessoas trans*, posto que estas seriam portadoras de transtornos
mentais, infantilizadas e incompatíveis com a seriedade e o rigor que a construção de
conhecimento científico exige.
Na mesma direção, viviane (2013) reflete criticamente sobre as vezes que, em
espaços de discussão acadêmica, ela própria fora marcada como “barraqueira”,
“inadequada”, “egocêntrica” por apontar violências discursivas e colonizações na
construção de teoria sobre pessoas trans*. Ela comenta que em diferentes ocasiões, ao
apontar exotificações das vivências trans* feitas por pessoas acadêmicas em eventos
científicos, bem como ao reclamar pronomes corretos no tratamento das pessoas citadas
e dela própria, as reações sempre vem em tom de deslegitimação das suas falas, postas
imediatamente como muito emotivas ou desnecessariamente agressivas. Porém, viviane
traça um paralelo e aponta que o padrão também pode ser observado nas análises e
posicionamentos de pessoas negras periféricas sobre questões raciais. Segundo ela, os
mesmos temos (‘agressivas’, ‘emocionais’, ‘extremistas’) são invocados para
deslegitimar falas das margens que destoam e questionam o discurso oficial criado no
centro. Assim, viviane conclui defendendo que acredita “que estas avaliações de 'tom'
sejam mais reveladoras sobre os locais de fala de quem as efetiva do que os locais de
fala das pessoas que são 'criticadas' por isso.” (v, 2013. P.2)
Podemos então perceber que a cisgeneridade é posta como o próprio local da
normalidade, mobilizando uma série de aparatos para assegurar a manutenção da
fronteira entre normal e anormal. Como estratégia política, nomear esse conjunto de
dispositivos como cisnormatividade se faz necessário. Em outro texto, fazendo uma
análise teórica crítica, viviane (2014) define que a supremacia da condição cigênera
poderia ser pensada a partir de três premissas, sendo elas: A binariedade, a pré-
29
�discursividade e a permanência. A partir desse conceito, poderíamos traçar um paralelo
de que a cisgeneridade estaria para as performances de gênero como a
heterossexualidade estaria para as sexualidades. A binaridade falaria da premissa de
unicamente dois arranjos opostos e complementares para os corpos (homem x mulher/
macho x fêmea). O caráter de pré-discursividade falaria da premissa de que a divisão
binária é naturalmente dada e por fim a permanência diz da suposição de que os arranjos
corporais atrelados a performance de gênero seriam estáveis, permanentes e imutáveis
no decorrer da vida. Essas três premissas, para a autora, atuam no sentido de marcar as
não conformidades como da ordem do erro. Dois termos então podem ser usados para
descrever os processos de inferiorização decorrentes dessas premissas, sendo eles
cissexismo e cissupremacia. (v. 2014)
A partir das três premissas apontadas por viviane, nos é possível pensar a própria
constituição de corpos generificados. O pressuposto de pré-discursividade do sexo
quando alinhado com a afirmação da biologia como marcador da diferença atravessa as
outras duas premissas, sendo elas a binaridade (duas opções disjuntivas para os corpos)
e a permanência (tal qual dado ‘naturalmente’ por alguma força transcendente, sexogênero seria imutável por toda a vida).
O movimento de naturalização da condição cisgênera cria uma dualidade
marcada por fronteiras muito bem vigiadas. Dentro da linha delimitada se encontram as
trajetórias esperadas para todas as pessoas, fora, o campo das anormalidades. Um
interessante termo que nos ajuda a pensar sobre a compulsoriedade de determinadas
trajetórias de vida é a noção de memória de futuro. Sobre isso, Hailey Kaas comenta
que:
Nossa memória do futuro é cisgênera, ao passo que o ritual já está
prescrito, é um evento pré-determinado do futuro, normalizado,
esperado, acatado, e qualquer tentativa de interrupção ou desvio é
considerada um ultraje, execração, um atentado contra a ordem natural
das coisas, contra o que deus fez, contra a biologia, contra a saúde.
(KAAS, 2014)
Ao pensar em memória de futuro, Hailey nos lembra que as formas de interação
com o sujeito são por vezes mediadas pelas expectativas de continuidade dos marcos
identitários e corporais. Embora impossível, a continuidade é supostamente mantida
pelo discurso médico-psiquiátrico de desordem e correção.
Diante do exposto até aqui, se faz necessário nomear que defendo conceituações
alinhadas com perspectivas despatologizantes. A ênfase na defesa dessa perspectiva se
30
�faz urgente no exercício de teorização (e em especial no meu trabalho). Vivemos um
momento de disputa onde as organizações políticas trans*, apesar de todas as
precariedades, começam a pressionar e questionar instituições poderosas na construção
de verdades, como a Associação Americana de Psiquiatria (APA). A atualização do
código internacional de doenças mentais foi mote para organização de ativistas e
teóricas trans* em prol da retirada do termo Transexualismo dos vocabulários
psiquiátricos. No centro da disputa que atravessa fronteiras de países está a base da
construção dos diferentes modelos de “tratamento” oferecidos por instituições de saúde
para pessoas trans*, posto que considerar ou não a existência de uma patologia mental
desloca a forma como as instituições dialogam conosco.
Como ponto que me reafirma a urgência de pensar perspectivas de cuidado
despsiquiatrizadas, de forma crua, no momento da consulta endocrinológica, o meu
próprio corpo é inevitavelmente lugar de disputa, o que dissolve em mim algumas
barreiras entre espaço/discurso público e privado (percebendo meu corpo como
encruzilhada/zona de intersecção) e entre pessoa que pesquisa e objeto. Entender que a
própria materialidade pode ser ferramenta de luta me remete a um webdocumentário
experimental chamado trans*lúcidx. Nele, enquanto imagens autodocumentadas por
pessoas trans* mostrando seus processos de transição corporal são exibidas, a pessoa
que narra descreve poético-politicamente as formas como sente sua vivência. Em
determinado momento uma frase me atravessa: “O meu corpo não é pacífico porque ele
não pode ser, ele é uma máquina de guerra. Não uma guerra por território, mas o
contrário. Sempre o contrário.” (Trans*lucidx, 201320). Penso então que a suposta
pacificação dos corpos trans* é em suma, a proposta da patologização. Esse
realinhamento pode ser visto como base de praticamente todas as técnicas de
modificação material do sexo.
A campanha Stop Trans Patologization21 surge no momento político onde a APA
anuncia o início da revisão do seu manual Diagnóstico e Estatístico de doenças mentais
(DSM) e a atualização para a quinta versão. O DSM, assim como o CID (Código
internacional de doenças, organizado pela Organização Mundial de Saúde) é um
documento determinante em muitos países do que se considera ou não uma patologia
mental. A homossexualidade figurava no catálogo de doenças até que, através de
20
Disponível em http://vimeo.com/78746529
Campanha iniciada no contexto europeu e posteriormente difundida para vários contextos que visa questionar a
supremacia do discurso psiquiátrico na significação das vivências trans*
21
31
�organização política de grupos gays, deixa de ser considerada como tal. A vivência
trans* entretanto, apesar do amplo debate, segue constando na atualização para o DSM
5.22
Nesse ponto, resgato o irônico texto de Sandy Stone chamado O império contraataca – um manifesto pós-transexual. Nele, a autora disseca a construção médicopatológica da transexualidade enquanto categoria de vivência unificada pelo sofrimento
compulsório com o próprio corpo (nomeado coletivamente como ‘disforia de gênero’) e
tece algumas propostas teórico-políticas sobre e para pessoas trans*.:
Para basear as práticas de inscrição e leitura que formam parte desse
chamado deliberado a dissonância, sugiro que percebamos as pessoas
trans* não como uma classe nem como um problemático terceiro
gênero, mas sim como um gênero literário (genre), um conjunto de
textos encarnados cujo potencial para alcançar uma disrupção
produtiva das sexualidades estruturadas e dos espectros do desejo
ainda tem que ser explorado. 23(STONE, 1987. P 19)
O chamado que Sandy faz à dissonância pode ser entendido como a proposta de
criação de contra discursos que nos instrumentalizem na disputa por nossas próprias
vidas e sanidades mentais. Nesse contexto, podemos entender que dissonância é
inclusive o ato de negar o diagnóstico de transtorno mental imposto às construções
corporais que fujam das designações cisnormativas. Sobre esse tema, podemos entender
ainda junto a Miguel Missé (um dos idealizadores da campanha Stop Trans
Patologization -2012) que um dos efeitos mais perversos da patologização é criar um
paradigma a partir do qual pensar modificações corporais. (MISSÉ, 2010). O manifesto
divulgado pelo site da campanha reflete esse questionamento crítico ante as capturas a
que corpos não cisgêneros estão constantemente submetidos. Resgato então um pequeno
trecho do documento no qual é posto que:
O paradigma no qual se inspiram os procedimentos atuais de atenção à
transexualidade e à intersexualidade os converte em processos
médicos de normalização binária. De “normalização” já que reduzem
a diversidade a somente duas maneiras de viver e habitar o mundo: as
consideradas estatística e politicamente “normais”. E com nossa
22
Depois de grande série de debates, protestos e negociações, a quinta versão do DSM ao ser lançada retira o termo
transtorno de identidade de gênero, porém, inclui a categoria de disforia de gênero parra se referir a experiências
trans*. Apesar de algumas pessoas considerem essa troca um avanço, considero que ainda não é a forma ideal de
representação das pessoas trans* nos sistemas de saúde.
23
Livre tradução de: “Para basar las prácticas de inscripción y lectura que forman parte de este llamado deliberado
a la disonancia, sugiero que percibamos a los/as transexuales no como una clase ni un problemático tercer
género, sino como un género literario (genre), un conjunto de textos encarnados cuyo potencial para lograr una
disrupción productiva de las sexualidades estructuradas y los espectros del deseo aún tiene que ser explorado.”
32
�crítica a estes processos, resistimos também a termos a que nos
adaptar às definições psiquiátricas de homem e mulher para poder
viver nossas identidades, para que o valor de nossas vidas seja
reconhecido sem a renúncia à diversidade na qual nos
constituímos. Não acatamos nenhum tipo de catalogação, nem
etiqueta, nem definição imposta por parte da instituição médica.
Reclamamos nosso direito a autodenominarmos. (Manifesto da
Rede internacional pela despatologização Trans*24)
Não são raras as narrativas de pessoas trans* que esbarram em violências
institucionais, inclusive das instâncias que deveriam acolher e ajudar em nossas
demandas. Não a toa, na tentativa de criar dispositivos que contraponham a lógica da
hegemonia excludente, grupos de pessoas trans* começam a nomear algumas práticas (e
impossibilidades) como resultado da supremacia cisgênera.
Posso resgatar duas reflexões feitas por potentes mulheres já citadas, para pensar
o que se opera quando tento brincar como espelho e situar meus sujeitos políticos a
partir do lugar em que não estão – a cisgeneridade. A primeira delas comenta que “Esta
descentralização da cisgeneridade outrora naturalizada é um processo crítico em relação
aos processos de produção de diferenças, usualmente naturalizadores da 'condição'
dominante e estigmatizadores da 'condição' dominada.” (v, 2014 p.1). Em consonância
com o argumento de viviane, Sandy Stone invoca a proposta de perceber os corpos
como textualizados e traz que:" Uma história que a cultura se narra a si mesma, o corpo
transexual é uma política táctil de reprodução constituída através da violência textual. A
clínica é uma tecnologia de inscrição." (STONE, 1987)
Perceber as inscrições que colonizam e inviabilizam nosso viver é importante
tarefa política ao passo em que, teorizar sobre transexualidades fazendo uso apenas de
perspectivas teoricas que partem do lugar da experiência da cisgeneridade para mim, (se
me for permitido operar uma analogia) é como teorizar sobre processos de negritude
valendo-se apenas dos argumentos de pessoas brancas. Experiência (SCOTT, 1995)
aliada a reflexão teórica pode ser um importante potencializador de críticas. Esse
processo pode parecer estranho quando percebemos que a tradição colonial em que nos
inserimos inscreve ainda hoje determinados centros legitimados de produção de
conhecimento. Esses centros são, todavia, materializados em corpos e experiências
específicas que recebem transcendentalmente a legitimação de seus argumentos.
Enquanto proposta política, por crer no argumento de Donna Haraway de que os saberes
são sempre localizados, tentei corporificar a construção desse tópico em corpos trans*.
24
Disponível em http://www.stp2012.info/old/pt/manifesto
33
�Ao pensar criticamente sobre políticas de citação, deixo de lado o que considero ser
produção teórica sobre e opto por recorrer apenas a teoria produzida por e para pessoas
trans25*. Finalizo então recordando viviane v, que nos provoca lembrando que:
“Há pessoas trans* fazendo teoria mundo afora, apesar de aqui no
Brasil, por todos condicionantes sociais excludentes que conhecemos,
estas presenças ainda serem muito pontuais e com pouco poder de
decisão: ainda assim, onde estão elas nos referenciais bibliográficos
quando se abordam questões trans*? Por sua vez, algumas pessoas se
gabam de suas habilidades em línguas coloniais+imperialistas, como o
francês e o inglês: onde estão as traduções das produções de pessoas
trans* mundo afora? (v, 2013. P.3)
Invoco esse trecho para lembrar junto a viviane que política de citação é um
importante elemento na composição de pesquisas científicas. Desse modo, algumas
vozes são silenciadas em detrimento de outras. O convite a ser feito é que
descentralizemos as vozes que comumente falam “sobre” vivências trans* e possamos
dar vazão a potente teorização de sujeitos historicamente vistos apenas como “campo”,
mas nunca como alguém capaz de ocupar os espaços de produção acadêmica.
1.2 Metodologias (des)organizadas – produzindo ciência desde a fronteira.
Como ponto-chave nesse trabalho, pensar metodologias alinhadas com nossas
propostas teórico-politicas se faz necessário. Para tanto, um breve passeio pela
constituição do campo bem como pelos olhares que delineiam sua existência se faz
necessário. Alguns pressupostos me acompanham de maneira mais enfática aqui e aos
poucos, vou explicitando tais referências.
Como já dito anteriormente, me debrucei sobre o contexto institucional da
UFPE, porém com um recorte de tempo e de espaços de circulação específicos. Desse
modo, a metodologia utilizada convida a dialogar com a perspectiva etnográfica onde,
partindo da analítica do familiar, o exercício de estranhamento é proposto. (VELHO,
1978). No texto observando o familiar, Gilberto Velho analisa o campo da antropologia
das sociedades complexas e nos lembra que o conhecimento das situações só é possível
a partir de um conjunto de interações cultural e historicamente situadas. Desse modo a
almejada objetividade neutra, para esse autor, é um elemento impossível, posto que o
estudo antropológico teria sempre um caráter aproximativo, nunca definitivo.
25
Com excessão de Donna Haraway, todas as demais pessoas citadas nesse tópico vivenciam a
experiência da transgeneridade e a partir desse lugar não-cisgênero produzem teoria.
34
�A "realidade" (familiar ou exótica) é sempre filtrada por determinado
ponto de vista do observador, ela é percebida de maneira diferenciada.
Mais uma vez não estou proclamando a falência do rigor científico no
estudo da sociedade, mas a necessidade de percebê-lo enquanto
objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa
(VELHO, 1978. p.129)
O argumento desse autor endossa a perspectiva calcada no referencial
epistemológico feminista onde, concordo com Donna Haraway (1995) de que o jogo
científico é permeado por relações de poder e interesse, fazendo com que a nossa
perspectiva de conhecimento seja sempre parcial e delimitada pelos lugares que
ocupamos. (HARAWAY, 1995). Porém, o fato de não acreditarmos em neutralidade não
nos afasta de buscar objetividade científica. O que entendemos todavia por objetividade
é que precisa ser melhor esclarecido. Enquanto Gilberto Velho fala em objetividade
relativa, Donna Haraway nos fala em objetividade feminista ao comentar que o que é
possível ser visto sob as lentes da ciência só emerge a partir de uma política de
posicionamentos, onde os jogos científicos são constantemente atravessados pelos
marcadores das pessoas que os manipulam.
O deslocamento operado ao assumir a perspectiva parcial de nossos métodos, por
um lado situa posicionamentos político-teóricos importantes em face as perspectivas
adotadas e por outro, segundo Gilberto Velho, nos desobriga do peso da universalização
de nossos dados e nos permite estudar inclusive os contextos em que nos inserimos.
Esse movimento de relativizar as noções de distância e de
objetividade, se de um lado nos torna mais modestos quanto à
construção do nosso conhecimento em geral, por outro lado permitenos observar o familiar e estudá-lo sem paranóias sobre a
impossibilidade de resultados imparciais, neutros. (VELHO, 1978,
p.129)
Reconheço este como um estudo que busca a partir de uma perspectiva situada
observar um conjunto limitado de acontecimentos para então poder trabalhar a analítica.
Constatar certas despretensões me alinha com o pensamento que Nikolas Rose (2013)
desenvolve ao falar sobre cartografias do presente. Para ele, uma cartografia do presente
buscaria não tanto desestabilizar ainda o próprio presente ao apontar as contingências
que lhe atravessam, mas buscaria desestabilizar o futuro ao reconhecer suas aberturas.
Demonstrar que não há somente um único futuro germinando em nosso presente, para
Rose (2013), pode fortalecer nossas habilidades para intervir no presente e assim
modelar um futuro mais habitável.
35
�Presente e futuro são elementos que podem se emaranhar numa complexa trama.
Ao pensar nesta dissertação a partir desse trecho citado, por um lado concordo que meu
objetivo era buscar intervir em algum nível do presente partindo das ferramentas
teóricas e institucionais que uma pesquisa de dissertação me proporcionava. Agora no
momento de finalização e análise, aquilo que fora intervenção no presente já se torna
passado, e o futuro feito presente mostra já os reflexos do que propomos no cotidiano e
na rotina das pessoas com quem buscamos trabalhar.
A Casa na Fronteira – Habitando Zonas de Contato.
Minha vivência e interesse pelo debate de direitos para pessoas trans* antecede o
ingresso no mestrado. Portanto, a eleição do tema é secundária e decorre das
experiências que pude ir tendo em vários níveis (pessoal, acadêmico, político,
profissional). Um dos elementos de angústia foi a preocupação recorrente de não cair em
um modelo de trabalho descritivo, que traçasse um muro entre a pesquisa e o “campo”
se limitando a descrever e analisar os sujeitos que habitam esse último. Em minha
escrita a tensão posta era que os tais sujeitos exóticos, habitantes de um suposto
“universo trans” (BENEDETTI, 2005) circulavam e circulam pelas minhas redes de
convívio e intimidade. Em minha experiência, não se tratava de, aos moldes de um
modelo antropológico clássico, me deslocar a um universo distante/periférico e depois
retornar à civilização com material etnográfico. A impossibilidade dada a priori vem do
inegável fato de que o “universo trans” se situa também na minha própria casa, nos
meus momentos de lazer, nas minhas conversas despreocupadas com pessoas amigas.
Assim, uma dificuldade posta é como operar a dinâmica de imersão/distanciamento
quando parte do “exótico” universo trans* é também o meu universo de vida.
Uma segunda impossibilidade de rigidez de fronteira atravessa meu percurso. Na
medida em que os acontecimentos que analiso foram se tecendo, a própria universidade
de onde parte meu projeto torna-se o campo de minha imersão. Surge então um duplo
entrecruzamento de fronteiras. Meus lugares misturam-se total e inevitavelmente com
meu exercício de pesquisa, convidando-me a exercitar o que Gloria Anzaldua nomeou
como consciência mestiça. Ora eu ocupava a posição de sujeito que pesquisa o tema, ora
eu ocupava o lugar de sujeito atravessado pela relação de amizade, ora eu ocupava os
dois lugares ao mesmo tempo. Recordo Glória Anzaldua em suas teorizações sobre
ocupar múltiplos lugares na cena. A noção de mestiza me chega como forte metáfora
36
�sobre fronteiras tanto materiais quanto epistemológicas. Para esta autora, o
desenvolvimento de uma consciência mestiza é possível a partir da percepção das
diferentes fronteiras que podem atravessar nossas vidas. Tal consciência diz respeito
também a inserção da pluralidade e da ambiguidade nas representações de si.
(AZALDUA, 2005)
Uma pergunta me chega ao me deparar com a leitura de Anzaldua. O que torna
uma escrita mestiza? Essa questão desagua em outras – o que tornaria a minha escrita
mestiza? Poderia eu pensar nesses termos? Cláudia Lima Costa e Simone Ávila definem
que a mestiza de Anzaldua se forja a partir dos interstícios, onde sua consciência
composta pelos diferentes espaços que ela fora levada a ocupar, lhe empresta práticas
textuais/performativas múltiplas que lhe permite operar através dos deslocamentos.
Pensar teoricamente se posso lançar mão da noção de consciência mestiça pode
ser um dos pontos fundamentais desta dissertação. A partir da tradução que Cláudia
Costa e Simone Ávila fazem do conceito, podemos pensar que o convite para observar a
partir dos interstícios é feito. Ocupar diferentes posições simultaneamente e responder a
partir de todas elas parece uma estratégia difícil ao delimitar teoricamente a analítica do
campo. Mas por outro lado, se concordamos com Donna Haraway (1995) de que o saber
é sempre parcialmente delimitado pelos lugares que ocupamos, no momento em que
minha produção só se faz possível a partir do deslocamento constante entre fronteiras,
invocar minha “mestiçagem” pode ser um elemento que ajude a complexificar a análise,
reforçando o convite a corporificar a construção teórica.
Cabe então invocar uma segunda cena como meio de apresentar minha inserção
com o campo.
Cena 2 – A partir do contato com Diego, conheço Dimitri, que iniciava o curso
de cinema na UFPE enquanto terminava uma graduação em publicidade em outra
universidade. Logo na matrícula, Dimitri junta uma relação de documentos, incluindo
portarias de nome social de outras universidades, declaração registrada em cartório de
que ele se reconhecia com esse nome, e comprovantes variados de que os espaços em
que ele circulava também o reconheciam assim. Ao mesmo tempo em que ele me
procura pedindo pra pensarmos juntos meios de garantir os usos do nome social na
UFPE, entrega uma via da documentação ao coordenador de seu curso e protocola outra
na reitoria, endereçando-a ao corpo discente. De sua coordenação a resposta é positiva,
se comprometem a respeitar o nome solicitado e a coordenação se dispõe a conversar
com os professores sobre essa questão. Do corpo discente, ele recebe a mesma reposta
37
�de Diego: a universidade não tem ainda demanda institucional para esse tipo de
solicitação. Dimitri então me convida para organizarmos um grupo com as pessoas
trans* da universidade para aprender como seria possível criar um estatuto de nome
social para a UFPE.
A partir desse ponto, mesmo ainda não sendo esse meu tema de pesquisa,
algumas pessoas começam a me procurar exatamente pela posição ambígua em que eu
me encontrava. Por um lado, me veem como alguém que por estar num departamento de
pós-graduação, saberia mais sobre as nuances burocráticas da UFPE. Por outro me
convidam aos espaços por ser eu também uma das pessoas com interesse pessoal na
legitimação do nome que melhor me representa – Céu. O fato de eu estar entre fronteiras
nesse ponto, é visto pelo grupo como uma vantagem, posto que mesmo antes de ser uma
pesquisadora, meu lugar enquanto par já é reconhecido pelo grupo de pessoas trans* que
timidamente começam a se organizar.
Recordo então um trecho do livro de Glória Anzaldua – borderlands/la frontera
(1999), onde ela pensa sobre a precariedade e o necessário atravessamento dos
diferentes lugares que ela ocupa. Nesse trecho ela reflete sobre como esses diferentes
marcadores estão sempre juntos em todas as situações em que ela se encontre. Desse
modo, seus lugares de lésbica, feminista, seus contextos geopolíticos se fazem como
elementos indissociáveis. Anzaldua reflete então que a junção de todos esses
lugares/marcadores forma e atravessa sua existência e a marcam sempre em fronteiras.
Anzaldua, ao definir sua condição de mestiza tenciona a lógica identitária ao
lembrar das diferentes posições que ela ocupa ao mesmo tempo. Seguindo a mesma
direção, Mary Louise Pratt (1999) trabalha a noção de zona de contato como um espaço
de bordas, onde diferentes posições (identitárias, sociais, institucionais) se tocam,
possibilitando uma zona intersticial com sentidos e finalidades negociáveis, porém,
inegavelmente atravessadas por posições de poder.
Mary Louise Pratt analisa como a expansão colonial européia e suas
“justificativas” criam a separação entre a metrópole e o resto do mundo. Desse modo, a
zona de contato seria o espaço precariamente improvisado em que as diferentes culturas
se tocam e se comunicam. O fato de tal contato se dar (em seu estudo) num contexto de
dominação imperialista obviamente gera dinâmicas assimétricas na comunicação, onde
o que é visto, validado e difundido passa sempre pelo interesse do colonizador.
38
�Penso que ao ampliar um pouco o uso desse termo, é possível observar como
zonas de contato podem ser vistas em diferentes espaços cotidianos, inclusive na
instituição universitária. Tomando essa instituição como um espaço de confluências de
diferentes culturas, vozes e experiências, linguagens de fronteiras são necessárias
quando se busca estabelecer um grupo a partir da vivência de subalternidade, bem como
quando esse grupo já formado busca dialogar com a instituição. Uma palavra proposta
por Mary Louise para pensar nas estratégias da zona de contato é o termo
transculturação. Escapando do maniqueísmo simplista onde, de um lado estariam os
colonizadores espertos, ativos e dominadores de toda produção de sentido e do outro
colonizados passivos recebendo de bom grado tudo o que vem da metrópole, Pratt
lembra que na negociação de sentidos, os povos subjulgados determinam de algumas
formas o que absorvem em sua cultura e como utilizam o que fora absorvido. Ela
comenta que:
Se a metrópole imperial tende a ver a si mesma como determinando a
periferia (seja, por exemplo, no brilho luminoso da missão civilizatória
ou na fonte de recursos para o desenvolvimento econômico), ela é
habitualmente cega para as formas como a periferia determina a
metrópole — começando, talvez, por sua obsessiva necessidade de
continuadamente apresentar e re-apresentar para si mesma suas
periferias e os "outros". (PRATT, 1999 p31)
Nas bordas de grandes instituições como uma universidade, também existem
periferias. Estas, podemos pensar, são constantemente reinventadas posto que a partir da
constante negociação de sentidos e pautas, a dinâmica de visibilizar e invisibilizar
demandas e sujeitos e feita. Meu campo toca nesse ponto. Toca precisamente nas zonas
de convergência de diferentes vozes que, a partir de contextos políticos específicos,
proporcionaram a construção da intervenção que aqui analisamos. Entre lugares
mestizos e zonas de contato, situo esse trabalho.
Das (Des)organizações do acontecimento à Perspectiva Participativa
O trajeto que culmina com a elaboração de uma política LGBT para a UFPE
começa meses antes e atravessa meu processo de dissertação. Enquanto propunha-me a
pesquisar sobre nome social no contexto universitário fui adentrando (ou me deixei
capturar) cada vez mais em algumas perspectivas de pesquisa que buscam ser
participativas. Num primeiro momento, enquanto me afligia por não conseguir prever
precisamente todas as etapas que aconteceriam na organização do campo, fui tendo
39
�contato com alguns teóricos da etnografia. Nesse contexto, Clifford me conforta um
pouco ao assumir que:
Nos novos paradigmas de autoridade, o escritor não está mais
fascinado por personagens transcendentes - uma deidade hebraicocristã, ou seus substitutos no século XX, o Homem e a Cultura. Nada
permanece daquele quadro celestial, a não ser a imagem desbotada do
antropólogo num espelho. O silêncio da oficina etnográfica foi
quebrado por insistentes vozes heteroglotas e pelo ruído da escrita de
outras penas. (CLIFFORD, 1998. p 22)
Olhar no espelho e perceber que minha escrita poderia ser investida de vozes era
um primeiro convite da teoria a perceber meu lugar de fronteira. Essa percepção ganha
eco e potência na proposta que chamarei de pesquisa-intervenção. Sobre esse termo que
concentra em si tanto um conceito teórico quanto uma perspectiva epistemológica, Karla
Galvão Adrião (2014), partindo da reflexão sobre trabalho com grupos, comenta que os
trabalhos em pesquisa-intervenção questionam a dicotomia tradicionalmente posta entre
ciência e política e a inviabilização da participação dos grupos sujeitados na pesquisa. A
pesquisa-intervenção se traduz como ferramenta de mobilização dos espaços coletivos
de participação. (ADRIÃO, 2014).
Nessa concepção, entender a pesquisa como método que pode ser usado na
organização de espaços políticos nos desloca da confortável torre de marfim e nos
convida a colocar os pés no chão. Não fazer pesquisa sobre, mas fazer pesquisa junto e
para grupos subalternos. A perspectiva trabalhada por Karla Galvão Adrião, que posso
tomar também como minha pelas afinidades que se traduzem no fato de ser ela a
orientadora deste trabalho, me dotou aos poucos de segurança para desapegar do modelo
de pesquisa em psicologia “mainstream”, com variáveis relativamente controladas e
etapas que se sucedem com a segurança de uma pré-visibilidade.
Meu campo começa a se compor a partir de duas propostas. 1) partindo da
perspectiva de inspiração etnográfica, começo a acompanhar diferentes espaços
institucionais de debate e deliberação sobre esse tema. 2) aceitando a proposta política
de usar meu trabalho como ferramenta de organização coletiva, sustento a ideia de
compor um grupo de pessoas trans* dentro da UFPE que vivenciem diretamente
impedimentos relativos a políticas de permanência (não só nome social, mas também
acesso a programas de assistência estudantil variados). Um primeiro espaço institucional
pode ser circunscrito como sendo a reunião do conselho departamental do
40
�Centro de Educação, onde a minha participação (que não foi só de pessoa observadora)
pôde ser usada para dar espaço para outras vozes também se apresentarem26.
Uso esse primeiro espaço institucional como mote para reunir um grupo de
pessoas trans*. Seguindo o argumento proposto por Karla Galvão (2014) de que ao nos
percebermos como intelectuais orgânicas à causa em que trabalhamos, podemos (quiçá
devemos) desenvolver estratégias que promovam participação através do nosso trabalho,
foi criado um grupo em espaço virtual onde se convidou algumas pessoas trans* a
estarem junto comigo na reunião do conselho departamental. Essa primeira organização
resultou em um espaço virtual de conversas apenas entre pessoas trans* com algum
vínculo com a UFPE. Essas pessoas curiosamente circulavam majoritariamente entre os
centros de artes e humanidades (Centro de Educação, Centro de Filosofia e Centro de
Artes e Comunicação), fato que espelha terem elas se agrupado a partir da minha própria
rede. Dessas 9 pessoas, 5 estavam na graduação, uma era funcionária terceirizada no
Hospital das Clínicas e duas eram integrantes de um coletivo LGBT atuante na
Universidade chamado Além do arco-íris.
Partindo dessa primeira organização, seis das nove pessoas comparecem a
reunião do conselho departamental do Centro de Educação e a partir de então,
começamos a usar do espaço virtual como meio rápido e prático de nos encontrar e
decidir as possíveis tarefas que poderíamos ter enquanto grupo. O fato de que essa
primeira organização é possibilitada pelo espaço de internet aponta para usos recentes
que as tecnologias de comunicação podem ter em nossos cotidianos. Christine Hine
(2000) caracteriza nossos tempos como necessariamente imbrincados no que segundo
ela, alguns autores chamam de cyberespaço. Porém, não teríamos ainda condições de
prever as consequências da inserção de tecnologias em diferentes aspectos da nossa
vida. Segundo ela, a etnografia poderia nos emprestar ferramentas valiosas no estudo
das relações que acontecem dentro da rede.
Percebo o que tal autora aponta como modos de (des)organização nos espaços
virtuais caracterizados pela fragmentação tanto na dinâmica de composição, quanto nas
etapas de decisão coletiva. Desse modo, pensar no atravessamento que tecnologias de
comunicação como o facebook tiveram nesse trabalho, me convida a pensar formas
contemporâneas de manifestação do próprio campo etnográfico.
26
Amplio o convite que recebi para outras pessoas trans*, e na reunião, essas pessoas também pedem a fala.
41
�Na medida em que a organização ia acontecendo, imprevisibilidade era uma
palavra que constantemente assombrava-me, porém, esbarro em uma frase de Antônio
Marcuschi que propõe que: “O fundamento da criatividade linguística parece situar-se
muito mais no âmbito do não previsto.” (2000). Perceber que o movimento de abertura
pode ser um potencializador do meu campo surge como um convite a exercitar a
criatividade no jogo de produção científica. Ao mesmo tempo, entender pesquisa como
ferramenta de justiça social me provoca a questionar constantemente para quem
direciono meu trabalho (FINE et all, 2006). Essa pergunta feita no texto para quem?
atravessa ao mesmo tempo questões metodológicas e bases ético-políticas do trabalho
acadêmico. Partindo dessa perspectiva nos é possível abrir um diálogo com o projeto
para uma ciência pública27. Partindo do pressuposto de que dados científicos podem ser
ferramenta de mobilização de/para políticas públicas, entende-se que a produção desses
dados é um direito das populações em situação de desigualdade (APADDURAI, 2006)
Dialogo então com as propostas metodológicas da pesquisa-ação participativa crítica
(Critical PAR28). Maria Torre (2012) define essa perspectiva como uma epistemologia
alinhada com noções de democracia e justiça social e que busca elaborar metodologias
que promovam a participação crítica de grupos em situação de desigualdade.
No nosso contexto, optamos por usar o termo pesquisa-intervenção29 para marcar
nossa posição de que fazer pesquisa na nossa perspectiva pode também ser proposta de
intervir. Com isso, tentamos diluir a separação que ainda há entre concepções de
extensão universitária e pesquisa acadêmica. Na diferenciação hegemonicamente posta,
caberia as atividades de extensão o contato com as pessoas e a “prática” enquanto a
pesquisa se limitaria ao campo da reflexão e das abstrações teóricas. Diluir essa
separação é, portanto, uma proposta política, epistemológica e metodológica.
Delineamentos Metodológicos
Uma vez que foram apresentados os pressupostos epistemológicos, se faz
necessário objetivar os procedimentos que delimitam a construção dessa dissertação.
Trata-se de um estudo qualitativo com viés feminista e inspiração etnográfica. Do
27
Projeto organizado por pesquisadoras do departamento de psicologia da Universidade da Cidade de Nova York
(CUNY) que tem por objetivos colocar pesquisa acadêmica como ferramenta de acesso a direitos por grupos em
situação de desigualdade. Ver www.publicscienceproject.org
28
Em inglês critical participatory accion research
29
Esse ponto será discutido no segundo capítulo teórico analítico.
42
�campo teórico feminista tomo como base olhares epistemológicos de concepção de
ciência ao passo em que a inspiração etnográfica empresta ferramentas teóricometodológicas que ajudam a alcançar os objetivos propostos.
Sobre o viés qualitativo, entende-se que os métodos não podem ser considerados
em independência ao tema e objeto estudados (FLICK, 2004). Desse modo, pensar
metodologias nos exige níveis de contato com o campo e a compreensão de que este
interpela constantemente o olhar analítico. Uwe Flick (2004) lembra ainda que, a
pesquisa qualitativa considera a comunicação do pesquisador com o campo como parte
explícita da produção de conhecimento, o que aponta a afinidade entre alguns
pressupostos da pesquisa qualitativa e nossos objetivos. Como ferramentas, o uso do
diário de campo foi um importante atravessamento na construção do campo e na
posterior análise. Sobre esse instrumento, podemos pensar junto a Roberto Cardoso de
Oliveira (1998) que sua importância provém do fato de que se trata, todavia de um
registro de memórias do acontecimento presente, que posteriormente nos possibilitam
resgatar dados importantes para a reflexão. Desse modo, tal autor comenta que a
memória constitui um dos mais importantes elementos na redação de um texto e o diário
de campo pode ser um aliado nos processos definidos por ele como presentificação do
passado. (OLIVEIRA, 1998)
O uso do diário no momento de análise me permite presentificar situações em
nuances que, de outro modo se perderiam no passar dos dias. Concordo com o trecho
citado de que ao invocar elementos presentes nele, podemos operar uma
“presentificação do passado”, atualizando este sob as lentes teóricas que tornam possível
a análise. Meus registros do campo se compuseram por quatro elementos, sendo eles: 1 conversas informais com informantes-chave, 2 – relato de momentos de organização e
trabalho em grupo, 3 – registros da participação em espaços institucionais e 4 documentações publicadas (sendo estas, as duas portarias publicadas no diário oficial e
matérias jornalísticas que marcam diferentes momentos de nossa mobilização).
Apesar de ser um tema que atravessa meus espaços profissionais e pessoais
desde antes do mestrado, se faz necessário marcar o trajeto apresentado e analisado
nessa dissertação em limites temporais. Desse modo considero que meu campo se inicia
em fevereiro de 2014 quando conheço Diego e termina em maio de 2015 com o evento
de lançamento da campanha #MeuNomeImporta. Nesse entremeio, o número de
participantes de cada etapa varia, o que faz com que o que Clifford (1998) caracteriza
43
�como heteroglossia do campo etnográfico, atravesse com diferentes tons os momentos
dessa pesquisa.
Para esse autor, alguns modelos etnográficos visam questionar a autoridade do
autor único materializado na figura do etnógrafo e tentam ilustrar que os interlocutores
podem interpelar a construção teórica a partir de seus lugares de fala. Esta, porém é uma
tensão teórico-política ainda em aberto. Ainda sobre os procedimentos, o campo onde
me inseri, como já comentado, foi a Universidade Federal de Pernambuco. Meus
sujeitos de pesquisa em suma apresentavam em comum a característica de ter
participado ativamente no processo de re-construção da portaria de nome social e,
posteriormente ao fechamento do meu campo, do processo que culmina com a
implementação da política e da Diretoria LGBT da UFPE30. Posso dividi-los em dois
grupos: o primeiro composto unicamente por estudantes trans* e o segundo por
docentes/servidores e integrantes de coletivos que somam forças à construção. Desse
modo, podemos organizar graficamente os momentos do campo em três esferas
representadas no diagrama abaixo:
Figura 1 - Gráfico dos momentos do campo
Marco esses três momentos do campo como uma síntese que ilustra tempos
diferentes de nossas movimentações políticas. Tais momentos são atravessados por
nuances que, a partir da análise poderão ser melhor destrinchadas. Desse modo, em
especial no segundo capítulo teórico-analítico, os acontecimentos que culminam na
reconstrução da portaria de nome social são apresentados mais detalhadamente.
30
Importante ressaltar aqui o protagonismo da professora Luciana Vieira, vinculada ao departamento de psicologia
no diálogo com diferentes instâncias da instituição.
44
�2. A Captura e a Dissonância – Pensando Institucionalizaçõesdas
Dinâmicas Trans*
Neste capítulo, tenho por objetivo pensar sobre pensar sobre processos culturais
de (des)legitimação do nome social através de suas capturas institucionais. Partindo da
análise de políticas de garantia do nome social, viso discorrer sobre como se percebem
algumas interpelações das experiências de transgeneridade nos nossos contextos. Busco
então fazer o campo dialogar com os marcos teóricos, trazendo assim a análise.
Pensar sobre processos que transpassam a vivência trans* de uma forma crítica
nos pede uma complexificação das formas de observar os variados atravessamentos a
que nos submetemos na cena coletiva. Seguindo os pressupostos de que a experiência
(SCOTT, 1995) cruza nossa produção teórica e de que os lugares que ocupamos
inevitavelmente delimitam a parcialidade de nosso constructo (HARAWAY, 1995) tento
invocar o conceito de consciência mestiza como proposto por Gloria Anzaldua para
tornar possível a tessitura desse trabalho acadêmico. Assim sendo, começo esse capítulo
invocando mais uma cena de minha experiência que inevitavelmente se imbrica nas
entrelinhas desta dissertação. Convido então a um breve passeio por alguns corredores
do sistema judiciário pernambucano.
Era outubro de 2014. Numa cadeira no primeiro andar do Fórum de Joana
Bezerra, eu aguardava junto com mais seis pessoas o momento em que o Juiz me
chamaria para a sala onde ocorria a audiência de retificação do registro civil de Jhon.
Trata-se de um amigo de longa data a quem pude acompanhar toda a transição e que
havia solicitado junto ao Centro Estadual de Combate a Homofobia (CECH) a revisão
de sua documentação. Sendo ele trans*, a solicitação era para que o nome “social” fosse
o único a constar em todas as documentações oficiais e por ser ele trans* os processos
burocráticos atuais exigem uma longa série de etapas e protocolos, incluindo uma
audiência judicial com a intimação de três testemunhas que, diante do juiz,
assegurassem a veracidade da identidade afirmada pela pessoa solicitante. Eu era uma
dessas três ‘testemunhas’. Enquanto tentava entender os caminhos que esse tipo de
demanda deveria necessariamente percorrer, eu acionava meu lugar de alguém que se
propõe a teorizar sobre tais movimentos e exercitava o estranhamento de tudo aquilo.
De fato, para mim não fazia muito sentido todo aquele aparato técnico-burocrático
mobilizado ao redor da decisão (externa) se o Estado reconheceria quem aquele sujeito
45
�se diz ser. Passamos a tarde inteira naquele corredor discutindo que os níveis de
dificuldade postos no processo seriam “decididos” pelo juiz. Assim sendo, era como se
no fim, tudo desembocasse numa personalização do sistema, onde a pessoa juíza,
imbuída de todos os seus valores, decidiria quais provas seriam necessárias ao seu
veredito. Nessa tarde específica, tivemos um bom encaminhamento, pois segundo a
advogada do CECH que nos acompanhava, o processo foi parar na melhor vara possível
no Estado de Pernambuco, posto que o juiz responsável era conhecido por suas decisões
de vanguarda no que diz respeito a demandas LGBT. O juiz convida Jhon e a advogada.
Estando ele nervoso, a companheira solicita entrar junto. Nós, testemunhas, esperamos
fora. Passa-se muito tempo e nossa ansiedade nos faz imaginar toda trama de
acontecimentos possíveis. Eles saem. O representante do Fórum nos diz que o juiz
dispensou as testemunhas. O relato do solicitante e de sua companheira, junto ao da
advogada do CECH mais todas as documentações que comprovam seu reconhecimento
público no masculino, seriam suficientes. Porém, eles saem com muita raiva. Apesar de
o juiz ter, segundo eles, agido da melhor forma possível, sem perguntas invasivas e sem
patologizar a cena, uma estagiária de direito ficou extremamente incomodada com a
relativa ‘naturalidade’ que esse tema estava sendo tratado, e se dirigindo a ele no
feminino, começa a fazer perguntas dignas de um psiquiatra, como por exemplo como
ele (tratando sempre no feminino) fazia sexo. Se ele odiava seu genital, se na infância
ele brincava de carrinho ou de bonecas. A advogada do CECH interfere, dando um corte
ríspido na estagiária, pergunta se o juiz necessita de mais alguma informação e com a
negativa, a audiência se encerra. Meses depois a sentença favorável é expedida e Jhon
pode enfim começar a odisseia de passar em todas as instituições responsáveis e solicitar
a troca de seus documentos (escolares, de responsabilidade do cartório, carteira de
reservista junto ao exército, carteira de habilitação no Detran etc).
Invocar essa história me é importante nesse primeiro momento porque ela me
insere num complexo debate que percebo, também delimita e atravessa todos os demais
acontecimentos do campo. A relação constante entre o desvio e a norma se atualiza no
cotidiano de praticamente todas as pessoas trans*. Poderia esta parecer uma
universalização abstrata, porém se percebemos que nossa vida coletiva inevitavelmente
é possibilitada a partir do contato com diferentes instituições, a relação entre estar fora e
estar dentro é atualizada.
Percebo que esta é nas entrelinhas, uma dissertação sobre dicotomias. O conjunto
de pares dicotômicos aqui apresentados se atualizam em suas zonas de contato,
46
�nos possibilitando pensar em como diferentes bordas criam interstícios. Nesse capítulo
poderemos trabalhar uma primeira grande dicotomia que compõe a própria temática a
que nos propomos. Tal nó pode ser entendido como a tensa relação entre estar dentro ou
fora de normas. Essa dinâmica é perpassada pelo contato direto com diferentes
instituições. Na intenção de apresentar a discussão que permeia esse tema, invoco outra
ficção vivida no percurso da dissertação.
A cena ocorre em Julho de 2014 no corredor do hospital das clínicas. Enquanto
esperava, começo a conversar com Lana31, uma menina de 19 anos que, com o apoio da
mãe, havia iniciado a transição aos 13 anos. O fato de ter começado o processo de
hormonização no início de sua puberdade fez com que seu corpo não adquirisse
caracteres “masculinos”. O que lhe garantia o que comumente chamamos como
passabilidade cisgênera32. Converso com Lana e ela me comenta que não conhece
nenhuma outra pessoa trans*, não por falta de oportunidade, mas por opção mesmo.
Para ela a possibilidade de ser associada com esse grupo pesa de tal forma que ela
prefere se distanciar e evitar o convívio. Nesse processo de apagamento da própria
transgeneridade, o ponto que lhe finca compulsoriamente nesse lugar ainda é sua
documentação. No início de sua transição (aos 14 anos), o uso recorrente e proposital de
seu nome de registro nas cadernetas e chamadas escolares fez com que ela decidisse
abandonar a escola. Na dinâmica de sua vida, ela me diz acreditar que a única forma de
conseguir voltar a estudar ou trabalhar é quando der entrada no processo de retificação
dos documentos. Assim, com o nome feminino com o qual se reconhece, ela não seria
mais constrangida na escola e poderia seguir seus planos de vida. Seu grande desejo era
conseguir passar no ENEM e estudar na UFPE.
O relato do encontro com Lana possui uma relação direta com a história da
audiência anteriormente relatada. Ambas falam do processo de conseguir legitimação a
partir da relação com o poder judiciário. Desse modo, podemos abrir questões que nos
ajudem a pensar do que se tratam as atuais políticas direcionadas a pessoas trans*
31
Nome fictício.
Denominamos como passabilidade o “ato de passar por” pessoa cis. Quando se consegue tal nível de transição que
o corpo apaga todos os marcadores que “denunciem” a condição trans*.
32
47
�2.1 Nomes e Superfícies.
Uma das grandes pautas quando pensamos em políticas para pessoas trans* é a
garantia de uso do nome social. Esse ponto é tencionado em/a partir de diferentes
instituições, como o ministério de saúde, secretarias de educação e órgãos variados.
Porém, inevitavelmente ao abordar essa questão, nosso pensamento bifurca em
duas vias. Por um lado, precisamos entender toda a materialidade que os nomes
carregam através do efeito performativo que podem evocar (e não raro o fazem). Por
outro, potencializa nossa discussão se atentamos para o jogo político que se apropria da
pauta do nome social e o joga nas cenas como moeda de barganha com e para a
população trans*.
2.1.1 Existir performativamente
Quando pensamos em discursos, desde Austin (1990) já ouvimos o convite a
perceber que a percepção da fala como meramente descritiva é limitada. Desse modo ao
propor que em certas condições dizer é em si, fazer, Austin nos chama atenção para a
perspectiva do caráter performativo da linguagem e usa o já bastante citado exemplo de
que quando no contexto do casamento é proferida a expressão "aceito" um ato está
ocorrendo. Ele comenta que ao usarmos uma sentença performativa, ou como podemos
chamar, um performativo, não estamos só indicando ou representando alguma realidade
isolada do ato discursivo, mas o caráter performativo (e não meramente descritivo) surge
da constatação de que em determinados contextos, a ação é realizada através do
performativo. (AUSTIN, 1990)
Quando emitimos um performativo, a ação é efetuada. Porém é necessário um
conjunto de condições ritualizadas para que o efeito de ação seja considerado. Desse
modo, todo um rito deve ser acionado para que um performativo produza efeito como
tal. (AUSTIN, 1990). O jogo de enunciados linguísticos pode ser entendido como uma
variação entre enunciados descritivos e performativos. Enquanto nos primeiros há certa
separação entre a linguagem e o mundo de coisas dadas, nos performativos, se faz
impossível separar a ação da linguagem. Esse segundo elemento, contudo, não é uma
construção teórica inédita. Podemos perceber já em Wittgenstein a concepção da ideia
de jogos de linguagem para ilustrar que o sentido das palavras não emana
transcendentalmente a partir de seu uso descritivo, mas é sempre relacionada com
contextos e objetivos específicos. Desse modo, a mesma palavra pode ser utilizada com
48
�finalidades e sentidos diferentes, configurando o que tal autor chama de "jogos de
linguagem." (RUI; DONAT, 2008)
O efeito performativo desses jogos de linguagem atravessa materialidades e
constitui sujeitos. O que nos faz crer que algo da ordem de uma interpelação discursiva
atravessa a constituição e a significação das materialidades. Atos de fala se convertem
em efeitos de materialidade, onde o que importa por ser inteligível, o é sempre através
da linguagem. Recordemos a citação de Butler do livro Linguagem, poder e identidade,
onde ela propõe que “ser o destinatário de uma alocução linguística não é meramente ser
reconhecido pelo que alguém é, mas sim que se conceda a alguém o termo pelo qual o
reconhecimento se faz possível” (1997, p. 22). Os jogos de reconhecimento e de criação
de termos são mediados por embates complexos perpassados pelas dinâmicas de quem
tem a legitimação cultural de proferir enunciados de verdade. Na hierarquia de
enunciados, Foucault nos fala em Os Anormais, de como se estabelece na cultura
ocidental uma hierarquia de falantes onde, a partir da criação de certas “condições de
possibilidade” os atos de fala adquirem seu efeito performativo e produzem ação no
mundo. Desse modo, um dos instrumentos de grande influência na vida de pessoas
trans* é o discurso de peritos. Sobre ele, podemos pensar que a certa medida, com a
reforma do sistema jurídico ocidental, um novo dispositivo começa a ser acionado para
conferir valor de cientificidade às decisões judiciais. Trata-se do perito, que através da
manipulação de suas ferramentas discursivas, goza de certo privilégio nos jogos de
demonstração judiciária. (FOUCAULT, 2010). Um dos campos que fora chamado a
ocupar a posição de perito é o campo da medicina. Em especial da psiquiatria.
Inaugurando o que Foucault entende como uma imbrincada fusão entre os dispositivos
médico-jurídicos. (FOUCAULT, 2010)
Na ritualística coletiva, o estatuto de perito dota certas pessoas com os poderes
de manusear as interpelações constitutivas. Todas e todos nós podemos sentir em nossa
própria materialidade os efeitos desse ritual. (BUTLER, 1997; PRECIADO, 2002).
Seguindo essa linha de argumentação, mesmo antes de nosso nascimento, a invocação
performativa já nos atravessa. Quando investido de legitimidade científica, o perito
anuncia “é um menino/é uma menina” fazendo com que nossa materialidade seja
instantaneamente moldada a partir de expectativas anteriormente pré-concebidas. No
Manifesto Contrassexual, Preciado comenta que “Nenhum de nós escapou dessa
interpelação. Antes do nascimento, graças a ecografia – uma tecnologia célebre por ser
49
�descritiva, porém não é senão prescritiva – ou no momento mesmo do nascimento, nos é
assignado um sexo feminino ou masculino.” (2002 p.119)
Preciado entende o processo da interpelação performativa como uma primeira
violência que a cultura nos impõe. O caráter de artificialidade da norma binária é
mascarado pelo aparato científico que se dispõe a ‘descrever’ a realidade do sexo tal
qual ele seria, e a partir desse lugar mobiliza contextos e instituições cuja função é
estabilizar sujeitos dentro dos limites daquelas mesmas normas advindas da interpelação
fundante. Uma das estratégias de estabilização é a imposição de um nome próprio que
em nossa cultura linguística é em geral compulsoriamente marcado como masculino OU
feminino.
A ambiguidade é, em muitos casos, desestimulada e a tabela de nomeações
disponível se encarrega de não deixar espaço para dúvidas. Ainda para Preciado,
perceber criticamente o caráter constitutivo dessa interpelação permite ironizar a
construção biomédica dos discursos sobre a transexualidade através de suas correções e
nos convida a entender que todas as pessoas passam pela “mesa de operações”
(enquanto conjunto de intervenções semiótico-técnicas) que ao fim, molda os limites de
nossas performances. Nessa argumentação, quando a operação performativa é efetuada,
o nome próprio com seu caráter de moeda de troca fará a reiteração constante dessa
primeira interpelação performativa. (PRECIADO, 2002)
Pensar que o nome é um dos instrumentos de estabilização do sexo nos ajuda a
entender toda a enorme cena que envolve a remota possibilidade de mudar de nome
perante o Estado. Para que Jhon conseguisse a permissão do juiz, a estabilidade de sua
condição, sendo comparada com a estabilidade da interpelação performativa que já
havia sido supostamente dada no seu nascimento, deveria ser judicialmente provada.
Podemos nesse ponto pensar que o discurso de especialistas termina por agenciar
as constituições de sujeito no campo da transgeneridade ao mesmo tempo em que parece
haver todo um sistema de conhecimentos sobrepostos em detrimento de outros que
sustentam perspectivas hierárquicas de enunciação.
Atravessando o olhar que aqui é apresentado, podemos invocar o pensamento
pós-colonial que nos ajuda a analisar como a linguagem mediada por instituições pode
se converter num instrumento de colonização da diferença. Advogo que em relação as
pessoas trans* a problemática se complexifica quando, ao mesmo tempo em que se faz
necessário pensar enunciados emanciatórios e despatologizantes, o embate discursivo é
atravessado e mediado por instituições que, para o bem e para o mal, regulam nossas
50
�vidas coletivas. Como exemplo basta lembrarmos que não foi suficiente para Jhon se
identificar com esse nome e fazer com que todo o seu círculo de convívio assim o
reconhecesse e respeitasse. Há, cercando toda a cena, um conjunto de efeitos objetivos
que atuam no sentido de conceder (ou negar) legitimidade a sua trajetória, amarrando-o
a uma forma de viver materializada ao redor de uma identidade supostamente imutável
invocada/reificada constantemente pelo nome feminino que seus pais marcaram.
Invocando sempre o convite de Donna Haraway (1995) precisamos afirmar
durante a nossa construção de pensamento que as construções técnico-científicas não
são, sob nenhuma medida, inocentes. Não podemos, portanto, esquecer que em nossos
tempos e contextos praticamente todas as instituições são herdeiras do projeto colonial
europeu.
Grada Kilomba (2010), no texto chamado A Máscara, lança mão de um objeto
corriqueiramente utilizado durante o processo de colonização para mostrar como ele
pode ser uma dolorosa metáfora que nos ajuda a enxergar efeitos do próprio processo de
dominação colonial. Desse modo, ao apresentar a máscara que senhores brancos
obrigavam pessoas escravizadas a usar, ela comenta que essa peça fora um instrumento
material de tortura cuja função era evitar que trabalhadores comecem cana de açúcar ou
feijão enquanto trabalhavam nas plantações33. Porém a principal função desse
instrumento utilizado por mais de trezentos anos de exploração colonial era, para essa
autora, criar um regime de mudez e medo.
Invoco a metáfora da máscara tal qual Kilomba traz por concordar com a
percepção da autora de que esse objeto, devidamente historicizado e geopoliticamente
localizado, pode simbolizar o próprio projeto colonial e as marcas que até hoje são
visíveis nas organizações coletivas. Assim, para Grada Kilomba:
A máscara representa neste sentido, o colonialismo como um todo.
Este objeto simboliza a política sádica branca de conquista e
dominação e seus regimes brutais de silenciar os chamados “outros”.
Tenho a intenção de lembrar essa máscara como um símbolo da
mudez e da violência e como esses silenciamentos e violências são
reintroduzidos na vida cotidiana. Em outras palavras estou preocupada
com duas questões principais: quem de fato pode falar? E o que
acontece quando falamos? 34 (2010, p.2)
Numa livre tradução minha, Kilomba descreve assim o instrumento: “Essa máscara foi uma peça muito
concreta, um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de trezentos anos.
Era composta por um bit colocado dentro da boca do sujeito apertado entre a língua e a mandíbula e
fixado atrás da cabeça por duas cordas: uma em torno do queixo e a segunda em torno do nariz e da
testa”. (2010, p.1)
34
Live tradução de: “The mask represents, in this sense, colonialism as a whole. It symbolizes the white
sadistic politics of conquest and domination, and its brutal regimes of silencing the so called ‘Other.’ I
33
51
�No nosso campo, partindo das perguntas de Kilomba, suspeito das respostas. A
afirmação social enquanto Jhon (e de todas as pessoas trans*) em alguns momentos
acaba cerceada no contato com instituições, o que gera a necessidade do embate político
desde
dentro
na
direção
de
criar
espaços
possíveis
de
legitimação
das
autodeterminações. Invocando a metáfora da fala, Kilomba nos pergunta quem de fato
pode falar? Jhon não pôde falar por si, e sua demanda só fora atendida quando posta
numa certa linguagem e apresentada pela advogada. Pergunta similar já nos fazemos a
partir da leitura de Gayatri Spivak, quando o próprio título do livro (pode o subalterno
falar?) nos dá pistas sobre os caminhos de sua retórica. Fazendo uma crítica a concepção
do sujeito na filosofia de Foucault e Deleuze, Spivak contrapõe suas visões a partir da
invocação de uma geopolítica do conhecimento. Ela comenta que apesar desses dois
filósofos (franceses) defenderem que se as pessoas oprimidas tiverem oportunidade
poderão falar e conhecer suas condições, eles parecem as vezes esquecer seus locais de
fala. Spivak contrapõe então a geopolítica instalada e pergunta se, do outro lado da
divisão internacional do trabalho (o lado não europeu) e desde dentro de toda uma série
de graves violações epistemológicas, poderia mesmo o subalterno falar? (SPIVAK, 2010)
Spivak nos provoca lembrando que há uma trama muito mais complexa do que
parece ser posta a partir da leitura do primeiro mundo sobre os processos de constituição
do sujeito subalterno. Com essa autora podemos perceber que, as possiblidades de falar
por si e conhecer suas condições são muito diferente se o sujeito oprimido é obrigado a
usar desde sempre máscaras silenciadoras.
Recordo então um potente texto intitulado ensaio de epistemologia transgênera
escrito por Leila Dumaresq, que a partir de sua formação em filosofia, pensa elementos
que atravessam as vivências trans*.
Vejam então que a diferença entre aderir ao desígnio do poder
biomédico para nossos corpos ou não é a diferença entre a
inteligibilidade ou não. Sim, eu sou ininteligível enquanto mulher.
Este é o preço que paguei quando decidi expressar o que sentia na
vivência. E se sou ininteligível, logo sou vulnerável ao interdito,
justificado pelos mecanismos que já descrevi. É assim pessoas
transgêneras precisam de tutela do estado e da medicina. Como nós
somos ininteligíveis, nosso comportamento e testemunho de nada
valem. Por este motivo, quando muitos dizem “responsabilidade” eu
intend to remember this mask as a symbol of speechlessness and violence, and how these –
speechlessness and violence – are restaged in everyday life. In other words, I am concerned with two
main questions: Who can indeed speak? And what happens when we speak?”
52
�prefiro dizer “inteligibilidade”. Quando pensamos na inteligibilidade,
vemos como o sistema não resolve os problemas das pessoas
transgêneras: Ainda que autorizem cirurgias e tratamentos hormonais
que necessitamos; que retifiquem em nossos documentos o nome e o
sexo; Jamais nos devolverão a inteligibilidade. E o pior, a necessidade
de tutela em cada um destes passos nada mais é que a afirmação da
nossa não inteligibilidade. Isto é o mesmo que negar e interditar nossa
parrésia; de falar abertamente sobre nós. Da ousadia de negar um
desígnio pétreo, nos punem interditando nossa afirmação que originou
todo o processo. (DUMARESQ, 2015)35
Ininteligibilidade pode ser pensada como a condição mesma de subalternidade.
Para Leila, a tutela é a própria confirmação da ininteligibilidade enquanto
impossibilidade de agenciar discursos de si. A pergunta de Spivak é aqui respondida de
prontidão. Não, pessoas trans* não podem falar. Aqui há uma ambiguidade a se
considerar, sim, nós falamos, criamos discursos e formas de vida, porém quando em
contato com um cistema36 de verdades supostamente estabilizadas, nossa fala é
desconsiderada, infantilizada, aprisionada, esvaziada. Em muitos casos, o único local
possível de fazer a voz ecoar é quando ela se deixa capturar pelo discurso psiquiátrico
da desordem mental. Não raro, o laudo desse “perito” é um documento imposto tanto
pelos sistemas médicos quanto jurídicos, para só então, pensar possibilidades de olhar
para demandas trans*.
Um termo que podemos invocar nesse ponto do texto pensado também a partir
de Spivak, é a noção de violência epistemológica. Ao analisar o processo de colonização
da índia pelos ingleses, ela aponta que no projeto de expansão e dominação européia,
não só a violência física fora usada, mas uma série de constantes imposições de
verdades e intervenções diretas nos sistemas de conhecimento. (SPIVAK, 2010)
Tomando como exemplo o contexto indiano, Spivak mostra como a violência
epistêmica opera enquanto processo que visa introduzir a versão dos dominadores na
construção de conhecimento e no contexto colonial, esta passa a ser mediada pelo grupo
dominador. Podemos nesse ponto nos perguntar o que esse exemplo nos ajuda a pensar
sobre a relação de pessoas trans* com o sistema médico-jurídico. Spivak nos ajuda
comentando que em sua proposição teórica, “Não se trata de uma descrição de ‘como as
coisas realmente eram’[...] Trata-se, ao contrário, de oferecer um relato como uma
35
Fala proferida num evento na UFRJ em novembro de 2015 e disponibilizada em:
http://transliteracao.com.br/leiladumaresq/2014/11/ensaio-de-epistemologia-transgenera/
36
Termo usado com ironia por diferentes autoras trans* para lembrar que a organização social é pensada por e para
vivências de cisgeneridade.
53
�explicação e uma narrativa da realidade foram estabelecidas como normativas”. (2010.
p48)
É inegável que há uma narrativa sobre transgeneridades estabelecida como
normativa. E esta pode ser percebida quando o discurso das instituições sobre sujeitos
vai de encontro ao discurso das próprias pessoas sobre si. Um exemplo notável é o texto
do DSM 5 que, apesar de toda a mobilização política de grupos variados, em sua
atualização apenas substituiu a categoria de transtorno de identidade de gênero por
disforia de gênero, mantendo, porém, duas categorias de critérios diagnósticos, uma para
crianças e outra para adolescentes e adultos. O jogo político que sustenta a existência da
categoria diagnóstica ainda hoje é a própria percepção ocidental da experiência trans*
como uma falácia. Como se a autodeterminação trans* fora apenas um discurso
distorcido sobre a verdade inerente ao sexo sendo, portanto, uma fantasia da ordem das
psicoses.
Os jogos de verdade sustentados pelas violências epistêmicas cotidianas geram
uma lógica de tutela. Se já é dado que pessoas trans* não podem falar dentro de um
sistema cisnormativo, há de se ter quem o possa. Aqui adentramos então numa
complexa vereda que me incita a pensar sobre como se originam demandas e como elas
escoam quando em relação com o Estado37.
2.2. Amarrando demandas com o nó identitário.
Um primeiro movimento em direção a afirmação de política pública é o
mapeamento de demandas coletivas. Para tal, há de se pensar sobre alguns elementos
como a composição de movimentos sociais, a relação destes com o Estado na criação de
agenda e a organização política ao redor de um núcleo articulador (que em nossos
contextos, podemos pensar que acaba sendo a identidade). Considerando o caminho
traçado nesse capítulo, creio que esse percurso nos ajuda a seguir entendendo a partir de
nosso campo como um elemento aparentemente simples como a garantia de nome social
para pessoas trans*, pode se converter num ponto nodal (LACLAU e MOUFFE, 1985),
local de encontro de diferentes discursos em disputa por hegemonia. Entendo que estas
são questões difíceis amarradas às macropolíticas porém, novamente faço um convite
37
Entendendo aqui também a relação com diferentes instituições de setores como saúde, educação e/ou
assistência social e que, de alguma forma, compõem a macroestrutura que denominamos Estado.
54
�para voltarmos o olhar para os acontecimentos que compõem o campo para a partir
deles ir traçando sentidos e teoria.
Um recorte do meu diário pode nos ajudar a prosseguir a escrita. Trata-se de uma
reunião que aconteceu no Centro de Educação da UFPE em virtude de uma reportagem
veiculada na carta capital sobre uma travesti que passa no vestibular e que em poucos
meses seria aluna de pedagogia naquele centro.
Fevereiro de 2015. É marcada uma reunião do conselho departamental
do CE onde o nome social entraria como pauta. Por saber das
inserções de Karla com temáticas trans*, Daniel (o diretor do centro de
educação) a convida e ela, por sua vez, repassa o convite para mim.
Como se trata de uma reunião aberta, abro uma conversa com as
pessoas trans* amigas e as convido a irem comigo. (...)
Peço o microfone e vou lá na frente. Comentei o caso de Diego
(perguntei antes se ele se incomodaria de ser usado como exemplo).
Apontei que ele circulava pelo CE a quase dois anos e que nunca teve
sua demanda legitimada inclusive naquele mesmo prédio. Comentei
um pouco da sua peregrinação pela UFPE e provoquei as pessoas
apontando que sua voz não ecoou na mídia, o que invisibilizou suas
demandas, atropelando-o com o processo burocrático da nossa
instituição. Falei da importância de termos um regimento interno que
desse garantias às pessoas que vão entrar, mas também as que já estão
na UFPE. Perguntei se aquele era um espaço de encaminhamentos, ao
me responderem afirmativamente propus então que o conselho
enviasse uma solicitação a reitoria para a formação de um grupo de
trabalho que se propusesse a escrever um estatuto de nome social para
a UFPE. Propus também que enquanto isso não era feito, pensássemos
alguma forma mais urgente de acolher as demandas de nome social das
pessoas já matriculadas, incluindo aí a Maria Clara, mas não só.
Terminei minha fala. Logo em seguida, pediu a fala uma menina do
DA de pedagogia, que falou que vivemos um momento histórico
ímpar, posto que finalmente vamos ter uma pessoa trans* na UFPE.
Me perguntei se ela escutou o que eu tinha acabado de falar. Seguiramse os encaminhamentos. Daniel puxou então os encaminhamentos que
se dividiram em três. 1 – Garantir o nome social no siga de Maria
Clara, assim falou Daniel, ao que todes nós começamos a falar ao
mesmo tempo. Dimitri pediu a fala e lembrou que era injusto
modificar só para uma pessoa e eles ficarem sem. Posto isso Daniel
alterou o texto da primeira proposição para: Garantir no siga o nome
social da Maria Clara e das outras pessoas trans. 2 – Propor a criação
de um GT para pensar a elaboração de um estatuto de nome social para
a UFPE. 3 – Recepcionar enquanto coordenação do centro, Maria
Clara em seu primeiro dia de aula. O Conselho departamental
escreveria uma carta com essas proposições e encaminharia ao
gabinete do Reitor ainda nessa semana. Pauta finalizada. (Diário de
Campo, 2015)
Voltando a esse relato certo tempo depois do acontecimento, me ocorrem
algumas questões. De algum modo ele ilustra minhas relações em alguns momentos
55
�“diretivas” com o campo sobre o qual me proponho teorizar, fato que me convida a
introduzir a concepção de mestiçagem no meu trabalho. Transito entre fronteiras, pois
me percebo sendo a todo momento tanto alguém que compõe um estudo de inspiração
etnográfica quanto uma pessoa diretamente interessada e inevitavelmente envolvida com
os jogos políticos e seus encaminhamentos. Para além dessa questão, esse
acontecimento nos ajuda a perceber o momento de criação de uma pauta específica para
pessoas trans* - a inserção de nome social na nossa instituição. Mas me surpreendi
quando observo que a tensão posta era se seria essa uma demanda particularizada na
figura de Maria Clara ou se seria uma agenda coletivizada e, portanto, estendida a todas
as pessoas trans* da UFPE.
1. Particulares e Universais
Recordo um ensaio intitulado Entre o Coletivo e o particular – a difícil escolha
do ativismo, onde, ao resenhar o texto vivendo de amor de bel hooks, a autora que
assina como Tiasue traça uma comparação entre a vivência particularizada ou
coletivizada e a partir desse contraponto, invoca duas figuras para ilustrar os diferentes
caminhos da demanda política. Seriam elas a celebridade e a militante. (TIASUE,
2015)38
A pergunta que esse texto nos faz é se haveria um limiar entre a influência do
contexto particular na construção de agendas militantes. A autora comenta que o
problema de basear os discursos apenas na vivência individual é que ele personaliza a
causa a que se refere, criando mártires, não agendas coletivas. Desse modo, duas figuras
se fazem possíveis a depender do posicionamento ante o debate, a celebridade e a
ativista. Para Tiasue, a diferença básica e ontológica entre essas duas posições de sujeito
é que a celebridade atua para si ao passo em que a militante atua para o coletivo.
(TIASUE, 2015)
O tema posto de forma um pouco ácida nesse ensaio pode ser entendido como
um complexo elemento que atravessa a constituição de movimento social. A pergunta
posta é se há em algum nível a possibilidade de partir da experiência singular para
construir uma coletividade sem cair em personalizações que esvaziem o embate político.
No recorte de campo que apresentei, é visível essa tensão quando, apesar de
______________________________________________
38
Texto disponível em https://peganomeupower.wordpress.com/2015/11/28/entre-o-coletivo-e-oparticular-a-dificil-escolha-do-ativismo/
56
�reconhecermos a importância da vivência pessoal de Maria Clara ter sido veiculada em
diferentes mídias, nosso trabalho nesse momento precisou ir no sentido de coletivizar
essa demanda. Tentamos diluir o lugar de celebridade que se gera a partir da relação
midiática e criar um sentido de coletividade no que era posto ali. Contudo, podemos
também nos questionar sobre qual sentido de coletividade fora sustentada e em quais
pontos ancorava-se.
Joan Scott, ao apresentar os enigmas da igualdade, pontua que a relação entre
grupos ou indivíduos é uma controvérsia ainda em aberto. A questão, para ela, é posta
como uma escolha disjuntiva onde uma opção necessariamente ignora a outra (SCOTT,
2005). Como saída, Scott apresenta sua visão de que as duas perspectivas não são
excludentes, mas precisam ser observadas com mais complexidade.
Argumentarei, ao contrário, que indivíduos e grupos, que igualdade e
diferença não são opostos, mas conceitos interdependentes que estão
necessariamente em tensão. As tensões se resolvem de formas
historicamente específicas e necessitam ser analisadas nas suas
incorporações políticas particulares e não como escolhas morais e
éticas intemporais. (2005 p.14)
Pensar em termos de igualdade e diferença nos empresta termos que entrecruzem
o pensamento. Desse modo esbarro com dois pares dicotômicos nesse ponto da
argumentação: igualdade x diferença e particular x universal. Percebendo que essas
tensões se atravessam, creio que separar-lhes mesmo a nível didático e ainda assim
manter a densidade crítica que tais conceitos exigem é tarefa difícil. Todavia concordo
com o argumento de Scott de que se pensamos tais termos enquanto paradoxo, a suposta
disjunção é diluída, deixando espaço para introduzirmos a contingencialidade de cada
cena/construção política.
Venho durante todo o texto operando uma universalização a partir de um
enunciado guarda-chuvas – trans*. Mas por outro lado, o paradoxo se estabelece quando
lembro que em seu uso, tal palavra visa marcar em si a impossibilidade da
universalização ao redor de um mesmo termo, fazendo um convite a tencionar as
particularidades de uma vivência impossível de ser capturada numa só experiência. Me
pergunto se ao invocar a palavra trans* eu estaria operando com uma igualdade que une
determinado grupo de sujeitos sob uma mesma prerrogativa. No capítulo anterior, ao
tentar definir a quem esse trabalho se dirige, optei por traçar uma ficção de universal a
partir do negativo. Aqui, busco suporte em Joan Scott a partir da proposta de que a
exclusão pode ser um elemento de composição de grupo e que uma mesma exclusão
57
�sofrida a partir de determinadas características é o que pode gerar a identificação ao
redor de uma causa, proporcionando o reconhecimento de si como atravessado por essa
relação de desigualdade. (SCOTT, 2005).
Perceber que a composição de grupo pode se dar (e talvez em geral o aconteça) a
partir do negativo nos abre margem para resgatar a afirmação feita já na introdução do
livro Contingência, Hegemonia e Universalidade, escrito por Judith Butler, Ernesto
Laclau e Slavoj Zizek de que:
Os novos movimentos sociais se apoiam com frequência nas
reivindicações da identidade, porém a identidade em si nunca se
constitui plenamente; de feito, posto que a identificação não é
reduzível a identidade, é importante considerar a brecha ou
incomensurabilidade entre ambas. (2000, p.7)
Percebo que no exemplo do meu campo, o processo de identificação era
indispensável para a formação de grupo e a posterior tentativa de gerar demandas
coletivas. Mas pensar se essa identificação surgiria naturalmente a partir de determinado
marco identitário é um passo importante. Joan Scott nos empresta uma pista. O que nos
uniu nesse primeiro momento não necessariamente foi uma identidade por si, mas sim a
experiência de desigualdade quando em comparação com todas as outras pessoas
cisgêneras que estudam na UFPE e nunca precisaram passar meses se expondo por entre
gabinetes burocráticos para que seu reconhecimento não fosse desconsiderado por
professores e atas de chamada. A vivencia de Diego era, por consequência, similar à de
Dimitri e a de Guilherme e a de Morgan. E a similaridade da negação de um direito39 é o
que nesse momento nos possibilita a organização política. A identidade de grupo surge
então a partir da percepção da desigualdade fincada na hierarquia das diferenças.
É nesses momentos – quando exclusões são legitimadas por diferenças
de grupo, quando hierarquias econômicas e sociais favorecem certos
grupos em detrimento de outros, quando um conjunto de
características biológicas ou religiosas ou étnicas ou culturais é
valorizado em relação a outros – que a tensão entre indivíduos e
grupos emerge. Indivíduos para os quais as identidades de grupo eram
simplesmente dimensões de uma individualidade multifacetada
descobrem-se totalmente determinados por um único elemento: a
identidade religiosa, étnica, racial ou de gênero. (SCOTT, 2005. P. 18)
39
Poderíamos aqui problematizar também a concepção de direito e suas supostas universalidades. Mas por ora
basta lembrarmos que o direito ao respeito e a não exposição pública deveria ser base dos regimentos
institucionais na educação.
58
�Nessa perspectiva, podemos perceber que a demanda por política pública para
pessoas trans* parte da experiência de desigualdade. O que nos alivia de certa forma dos
critérios de uma identidade supostamente estabilizada. Sobre a impossibilidade da
unidade na cena política, Laclau analisa o que chama de novos movimentos sociais e
defende que o agente social deve ser entendido como uma pluralidade que se constitui
através de diferentes interpelações que geram distintas posições de sujeito. Desse modo,
a unidade fixa e homogênea do agente social torna-se uma ficção impossível.
(LACLAU, 1983). Para Laclau, na contemporaneidade só poderemos obter uma
percepção teórica dos sujeitos em relação com a cena coletiva se considerarmos a
precarização dos elementos de estabilização desse sujeito. A totalidade configura-se
como uma ficção que já não nos cabe. (LACLAU, 1983)
Opera-se aqui um deslocamento analítico. No jogo teórico não mais buscamos
um sujeito político que represente uma entidade unificada compartilhada por todo um
grupo social. Pensando a partir da noção de posições de sujeito, nos é possível
complexificar um pouco mais o olhar para perceber que apesar de haver uma situação de
desigualdade que nos une ao redor de um tema, esse fato não é suficientemente estável
para nos amarrar em um mesmo nó identitário. Paradoxo ainda é uma palavra possível.
Se o que nos une é uma situação de opressão, a materialização de demandas através de
uma política é ponto que nos ajuda a pensar uma série de questões.
Garantias e Controvérsias – Das autodeterminações ao Estado
Quando pensamos em políticas para o segmento trans* um dos primeiros pontos
que nos ocorre é a reivindicação de nome social. Tal ponto é pautado em diferentes
espaços como no sistema único de saúde, setores da educação, entre outros. Porém antes
de creditar naturalidade a essa demanda, creio que nos cabe entender o que ela significa
e, por consequência, como em alguns espaços sua implementação ocorre.
Como ponto importante nesse debate, podemos lembrar que o ministério da
saúde lança uma portaria em agosto de 2009 na qual especifica que:
Art. 4º Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e
acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente
limpo, confortável e acessível a todos. Parágrafo único. É direito da
pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado,
acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em
virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual,
59
�identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de
saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe:
I - identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em
todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar
o nome social, independente do registro civil sendo assegurado o
uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por
número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas
ou preconceituosas; (MINISTÈRIO DA SAÚDE, 2009) .
A partir desse trecho grifado, inicia-se uma campanha do ministério da Saúde em
parceria com o movimento nacional organizado de pessoas trans40 inclusão do nome
social como um dos direitos das pessoas que usam o SUS torna-se alvo de campanha em
parceria do ministério com o movimento social trans* organizado.
Figura 2 - Campanha da carteira de nome social no SUS
Resgato essa campanha porque ela me ajuda a entender que em relação ao nome
social, algumas nuances atravessam a cena. O relato de um amigo sobre sua experiência
no SUS torna-se emblemático.
Não sei como existem pessoas que acham suficiente o tal "nome
social", (que já começa errado pelo termo, porque meu nome não é
40
Em especial a Antra (articulação nacional de Travestis e Transexuais).
60
�apenas social, não é nome de "guerra", não é nome fictício, é o meu
nome). E não sei para que existe carteira de nome social no SUS, se de
qualquer maneira eles não vão respeitar. Estou agora no retorno de
uma consulta e por mais que esteja escrito meu nome na carteira, os
funcionários fazem questão de falar o nome de rg bem alto e fazer uma
confusão em meio a outras pessoas. Estou prometendo para mim
mesmo que essa é a última vez que estou acessando esse "sistema de
saúde" de merda. (diário de campo, 2015)
Precisamos lembrar que o SUS não é uma estrutura homogênea cujos
pressupostos ideológicos são compartilhados por todas as pessoas que nele trabalham.
Em relação ao nome social, vemos dois movimentos. Por um lado, a campanha
financiada pelo Ministério divulgando a portaria que cita o uso do nome social como um
direito mostra uma instância preocupada com o acolhimento da população trans*.
Porém, quando confrontamos essa campanha com a experiência de sujeitos no cotidiano,
percebemos uma disparidade. Apesar da portaria, o relato que infelizmente é comum é
que o efeito de acolhimento e respeito se investe de uma personalização na ponta do
serviço e acaba por ser decidido pela pessoa que estiver atendendo.
O paradoxo de particulares e universais mais uma vez é aqui atualizado, o que
me faz recordar o debate entre Butler, Laclau e Zizek quando ainda na introdução, nos é
apresentada a tensão sobre quando o discurso universalizante dos direitos humanos
esbarra nas particularidades das múltiplas formas de vida. A tensão apontada por esses
autores é que se a universalização de direitos ao redor da categoria de humanos é sempre
invocada, ela acaba por deixar esborrar vivências.
Em um grande sistema como o SUS, a “fiscalização” dos preceitos assegurados
na portaria é uma garantia difícil ao passo em que estratégias como o cartão SUS são
importantes ferramentas na inclusão de pessoas trans* nos serviços de saúde. Porém me
questiono então se ao fim, poderíamos pensar os usos das políticas de nome social como
estratégias de inclusão-excludente. Para pensar nesses termos, voltemos a Giorgio
Agamben.
No livro Homo Sacer, Agambem analisa o conceito de biopolítica e propõe uma
trama de conceitos para pensarmos sobre a hierarquização das vidas no sistema político
contemporâneo. A noção de homo sacer é resgatada por ele como condição metafórica
dos seres humanos em relação ao poder soberano. Agambem opera uma dicotomização
dos viventes entre vidas humanas, consideradas politicamente qualificadas e vidas nuas
- que dado o caráter de homo sacer, são vidas insacrificáveis, ou seja, sua morte é isenta
de dignidades e não representa uma perda suficientemente significativa para se
61
�constituir em um sacrifício. São, portanto, vidas matáveis (AGAMBEN, 2007). Homo
Sacer, ou homem41 sacro é um conceito resgatado do direito romano arcaico e diz dos
seres que não poderiam ser sacrificados aos deuses, posto que o sacrifício, segundo
Agambem, representaria a dignidade máxima da morte. Ao mesmo tempo, o homicídio
de um homo sacer não seria passível de punição, o que faz com que qualquer um cuja
vida fosse considerada humana pudesse matar um homo sacer sem acarretar em
consequências perante o Estado. Homo Sacer fala então de uma dupla exclusão – tanto
das leis divinas quanto das leis humanas.
Para Agambem, nos sistemas políticos contemporâneos, o limiar entre vida
vivível e vida matável decorre da relação com o sistema jurídico. Quando a vida cessa
de ter valor jurídico e não é reconhecida pelo Estado, a condição de sujeito é negada e a
vida torna-se nua, desprotegida, matável sem punições. A relação entre vida nua e
ordenamento do sistema jurídico se dá pelo fato de que o poder soberano se institui a
partir do que o autor denomina como estados de exceção. As exceções ajudam a compor
os limites da norma, o que as tornam necessárias para o estabelecimento do poder
soberano. Desse modo, as exclusões precisam, de algum modo paradoxo, serem
incluídas dentro do sistema que as gera. Para Agambem:
A situação, que vem a ser criada na exceção, possui, portanto, este
particular, o de não poder ser definida nem como uma situação de fato,
nem como uma situação de direito, mas institui entre estas um
paradoxal limiar de indiferença. Não é um fato, porque é criado apenas
pela suspensão da norma; mas, pela mesma razão, não é nem ao menos
um caso jurídico, ainda que abra a possibilidade de vigência da lei.
(2007, p. 26)
Muito antes de afirmar que o nome social é uma estratégia de inclusãoexcludente, minha intenção é problematizar sobre seus efeitos para a população trans*
entendendo ser essa uma discussão complexa. Acredito, contudo, que a teorização de
Agambem pode nos ajudar a pensar em como operam as estratégias de captura dos
elementos que compõem o fora.
O conceito de vida nua tal como trabalhado por Agambem se aproxima da
proposta butleriana de vidas precárias. Sendo esta, uma possível decorrência da teoria
do abjeto, Butler define como precárias, todas as vidas cujas mortes não serão choradas
(2010). Entendo as aproximações possíveis, mas para esse momento do trabalho, pensar
41
Podemos problematizar aqui a constante universalização do termo homem como equivalente de pessoa nas
diferentes teorias.
62
�em termos de vida nua me empresta a lente conceitual necessária para perceber os
mecanismos de exclusão que operam nas normas jurídicas.
A garantia de nome social é uma necessidade e possibilita tanto a inserção das
pessoas trans* nas instituições quanto reafirma o reconhecimento coletivo de suas vidas.
Porém, o direito ao uso do nome social através de documentos ou portarias acaba
condicionado ao modo como as pessoas que operam esse direito vão ou não estar
dispostas a reconhece-lo. Empiricamente, e pensando no contraponto que o relato do
diário de campo faz com a propaganda da política do SUS, me pergunto se em casos
como o relatado há alguma punição prevista. O documento que institui o “direito” ao
nome social e com isso nos abre a possibilidade da carteira do SUS não orienta como
proceder em casos de omissão ou negação desse reconhecimento. O sistema jurídico
mostra uma brecha nesse ponto quando, o direito garantido pela política do SUS pode
ser desconsiderado em detrimento do nome que consta no documento de identidade.
Desse modo percebo que a composição de uma inclusão-excludente pode ser
contingencial, operando de acordo com a situação e o contexto.
Uma questão importante é que, se percebo esta política como a ponta de um
iceberg que pode ou não produzir efeito para as pessoas a que se propõe, me pergunto
quais pontos seriam necessários para garantir sua eficácia e que nos possibilite construir
de maneira crítica, ferramentas que desde dentro da linguagem jurídica ofereçam pontos
de apoio e garantia. Voltemos então à UFPE.
2.3.1Esquentando as “letras frias da lei”
Não basta a existência da letra fria da lei, mas ela precisa ter vida,
circular e fazer sentido para as pessoas que pretende atingir. (Diário de
campo, 2015)
Início esse tópico lembrando de um dos argumentos registrados em meu diário
de campo e proferido por Luciana Vieira no gabinete do reitor. O contexto era a reunião
que marcamos para apresentar nossa proposta de portaria. Na ocasião, ela abre uma
brecha com as propostas apresentadas e lança o argumento de que uma lei instituída não
é suficiente sem uma campanha e sem trabalho de sensibilização da comunidade
acadêmica. A partir desse argumento nos foi possível dar início a uma série de parcerias
que culminam na campanha apresentada no capítulo seguinte.
63
�Invoco essa passagem por ser ela emblemática para a discussão que venho
traçando até aqui. A partir da frase de Luciana podemos pensar então dois caminhos
para uma lei como a normativa de nome social. Ela pode ser figurativa, compondo a
“letra fria” ou ela pode circular, ser contraposta, tensionada, melhorada e abrir espaços
institucionais de diálogo. Tentamos operar uma passagem do primeiro para o segundo
ponto. Para entender melhor como se deu a trama, voltemos um pouco na história.
Poucas semanas depois da reunião do conselho departamental do Centro de
Educação nos surpreendemos quando numa manhã, sem avisos, foi publicada a portaria
normativa nº 1, de 20 de fevereiro de 201542. Lançada sem avisos, a publicação
certamente reflete o momento político a que a UFPE estava passando43. Sobre o que esse
documento representa no contexto político em que ele aparece me deterei no próximo
capítulo, mas para agora podemos através de uma breve análise, observar os discursos se
cristalizam na proposta do primeiro documento institucional da UFPE direcionado
especificamente para pessoas trans*.
Um trecho específico desse documento traz que:
Parágrafo Único - Por nome social entende-se aquele pelo qual o
travesti ou transexual escolhe ser reconhecido, identificado e
denominado no meio social.
Art.2 O estudante maior de 18 anos poderá requerer por escrito, a
inclusão do seu nome social pela UFPE no ato de matrícula ou a
qualquer momento no decorrer do curso
Parágrafo único - Os estudantes menores poderão requerer o direito
mediante apresentação de autorização por escrito dos pais e/ou
responsáveis. (PORTARIA NORMATIVA nº 1 de 2015, UFPE)
Esses trechos recortados da primeira portaria compõem quase todo o corpus do
documento de uma página. Trago-os por crer que nos apontam elementos sintomáticos
da discussão sobre os usos de um documento que diz respeito a pessoas trans. Já no
parágrafo único do artigo primeiro o documento esbarra com os problemas de nomeação
e reproduz a mesma gafe que textos jornalísticos a todo momento fazem. Se por um lado
a portaria traz a separação entre transexual e travesti, universaliza todos no masculino,
dando a entender em seu jogo de concordâncias, tratar-se de o aluno travesti. No artigo
segundo traz duas brechas, se por um lado não direciona qual órgão e qual procedimento
se incumbirá de receber as demandas de solicitação de nome social, ao lidar com
menores solicita autorização por escrito dos pais, demonstrando um
42
43
Em anexo.
O contexto era de eleições para o cargo de reitor. Esse atravessamento será melhor discutido no capítulo seguinte.
64
�desconhecimento sobre nuances da população a que o documento se dirige. Sobre esses
pontos – que ao fim constituem praticamente todo o corpus do documento, vale nos
determos brevemente.
Ponto de embate na disputa das transidentidades, a nomeação travesti é tida
como uma encruzilhada conceitual, posição identitária marcada pelas ambiguidades de
definições (BARBOSA, 2010; HOLANDA, 2014). Certo descolamento da categoria
psiquiátrica de transexualismo gera a suposta separação em dois grupos, o que faz com
que grande parte do movimento social de pessoas trans* no Brasil opte por definir-se
através de duas categorias – travestis e transexuais. Não é meu interesse nem objetivo
nesse trabalho dissecar nuances das autoidentificações trans*, embora suspeite que uma
possível arqueologia dessa diferenciação desaguaria em taxonomias médicas. Ponto
importante para esse momento é o fato de que a construção do documento institucional
da UFPE, de um modo ambíguo abre espaço para que interpretemos travesti como um
elemento masculino. Assemelha-se assim mais a textos jornalísticos do que ao modo
como pessoas que se definem como travestis percebem-se. Enquanto os primeiros
insistem em tratar no masculino expondo inclusive o nome de registro sempre que
possível, as travestis usualmente tratam-se e reivindicam-se como pertencentes ao
feminino44. (CARVALHO, 2011). O segundo ponto que podemos problematizar ao
pensar sobre a eficácia de um texto com valor de lei é ao refletirmos sobre os passos de
sua aplicabilidade. Nesse ponto, o artigo segundo garante que discentes maiores de
idade podem solicitar a inclusão de seu nome social, porém em parte alguma do
documento é especificado qual órgão é responsável por atender essa demanda. Sendo a
portaria o único documento institucional a tratar desse tema, ela deixa em aberto
informações fundamentais sobre seus procedimentos de implementação. O que nos faz
crer que esse texto, para ter eficácia, necessariamente precisaria ser complementado com
campanhas explicativas. O último ponto que me chama atenção nesse documento é a
solicitação de que menores de idade só podem solicitar a alteração de nome com uma
autorização por escrito dos pais. Seria essa uma reivindicação coerente não fosse o
detalhe que se dirige especificamente a pessoas trans*, um grupo muitas vezes
marginalizado pela própria família. Marília Amaral (2012) aponta em seu trabalho como
nas trajetórias de vida das travestis acompanhadas por ela, fora necessária a reinvenção
44
Marcos Benedetti (2005) afirma que o reconhecimento de travestis no gramatical feminino é inclusive uma
posição política que reforça a revindicação do movimento social de respeito e garantia a essa construção
corporal e subjetiva.
65
�de uma rede de apoio onde, diante da impossibilidade de manutenção dos vínculos
parentais, essas mulheres trans* precisaram rearticular suas concepções de família
criando pequenas comunidades entre si. Ainda são escassos estudos que apontem para a
relação de pessoas trans com suas famílias, porém, recordo a reflexão de Sarah
Schulman (2002) sobre violência famíliar direcionada a pessoas LGBT. Para essa autora,
a família é a primeira e mais potente instituição a que é dada a função de manter as
normas sociais. Quando em relação a pessoas LGBT, muitas vezes o sistema familiar
opera no sentido de afirmar o status da heterossexualidade compulsória. De modo
enfático, Sarah conclui que nas experiências das pessoas LGBT, “usualmente, a família é
o refúgio das crueldades da cultura.” (2002, p 76). Esperar então que as famílias de
todas as pessoas trans* que sejam menores apoiem o suficiente para solicitarem elas
próprias o uso do nome social para seus filhos e filhas, infelizmente é uma realidade que
ainda não condiz com as experiências do cotidiano. (SCHULMAN, 2002)
Na ficção teórica composta até aqui, me ocorre pensar que o que Luciana Vieira
nomeou como esfriamento das letras da lei, quando relacionado especificamente aos
processos de nome social, podem ser as capturas apontadas por Agambem nos moldes
de uma inclusão que, por seus próprios meios, acaba mantendo as exclusões.
Pensar nomeações nos convida a percorrer um trajeto como o que fora
apresentado aqui. Se os atos de fala podem produzir realidade, podemos entender como
o ato de autoenunciar-se é capturado pelos sistemas jurídicos (quando não também
médicos). Desembocamos então na inevitável tensão entre particulares e universais,
onde, parece ser a questão de nome social um elemento paradoxo que se situa no
interstício desse debate ao mesmo tempo em que nos permite visualizar a dinâmica de
composição dos espaços dicotômicos de disputa pela hegemonia discursiva.
Me pergunto se o nome social seria um direito universalizado a partir da figura
de uma humanidade de certa forma transcendente ou se seria esse uma necessidade
comunitária atravessada por especificidades de cada contexto. Os princípios de
Yogyakarta advogam essa questão em nome do Direito à Igualdade a Nãodiscriminação. Joan Scott nos provoca ao refletir sobre essa igualdade e como ela se
constitui como um paradoxo ao redor da constante pergunta de o que nos une e o que
nos separa. Em considerando ser esta uma especificidade de uma determinada
comunidade, sendo ou não baseada na concepção de uma humanidade inata e
compartilhada igualmente por todas as pessoas (e poderiamos aqui problematizar noções
de quem tem acesso à cidadania e poderiamos resgatar mais uma vez Agambem
66
�para pensar se o homo sacer é tão humano quanto os demais e caso não, o que delimitaria
essa des-humanidade).
Recordo Ernesto Laclau (2002) quando, ao pensar sobre direitos humanos
universais nos pergunta se a afirmação de especificidades comunitárias é incompatível
com a busca por direitos universais. Se sim, ele completa que talvez esta seja uma
incompatibilidade positiva posto que ela nos abre novas questões, exigindo novas
negociações e novos jogos de linguagem. Concordo com Laclau e percebo que para
além de seus usos mais mesquinhos (como possível instrumento de inclusãoexcludente) as políticas de nome social invariavelmente trazem em seu bojo a
impossibilidade de unidade política de demandas. O que nos obriga a repensar
constantemente sobre os limites da política identitária ao passo em que, o paradoxo das
nomeações se imbrica com o paradoxo mesmo das identidades e das igualdades e nos
provoca bem no cerne das universalizações hegemônicas. Mas Laclau, Butler e Zizek
(2002), em seu diálogo lembram que as capturas normativas necessitam do fora para se
constituir e as hegemonias tornam-se possíveis somente a partir da dinâmica de
antagonismos que instaura a fissura bem no meio da cena política. A fissura, a
dissonância e a incompatibilidade obrigam a uma constante negociação de fronteiras
onde o que vai escorrendo pelo caminho, é o próprio sujeito com suas concepções,
limites e os jogos de linguagem utilizados para nomear a si e a sua própria vida.
Nesse capítulo tive por objetivos pensar sobre processos culturais de composição
e captura das pautas de nome social. Foi possível refletir sobre como o nome torna-se
um elemento importante no diálogo com as instituições e no caso das vivências trans*
como a ressignificação do nome se depara com processos jurídicos de podem mascarar
normativas sob mantos burocráticos. Desse modo, perceber as dinâmicas que as pautas
de nome social podem ter se faz importante.
67
�3. Nós e Des-organizações prático-teóricas – fazer pesquisa e fazer
política para e com pessoas trans* na UFPE
Nesse capítulo tenho como objetivos 1) refletir sobre a organização política
envolvendo discentes trans* e docentes que culminou na reconstrução coletiva da
portaria de nome social da UFPE; e 2) analisar processos de inserção no/do campo que
se veem interpelados pelo que podemos definir junto a Gloria Anzaldua como
consciência mestiza (1999).
Um elemento importante para pensar sobre perspectivas de ciência que se propõe
crítica é sua relação com os sujeitos a quem/sobre quem se dirige. Nesse ponto, algumas
considerações importantes podem ajudar na análise dos elementos que compõem esse
trabalho. Lembro um trecho da entrevista feita por Karla Galvão Adrião (2015) com
Michelle Fine onde, ao falar sobre posições de privilégios, Michelle usa uma metáfora
de sapatos para ilustrar o conceito. Ela associa a posição de privilégio com um caminho
sem obstáculos, onde é fácil caminhar. Essa facilidade dificultaria o entendimento de
porquê outras pessoas tropeçam. A solução apontada por Michelle é então que, a
pesquisadora esteja ciente das facilidades (posições de privilégio) que ela
inevitavelmente carrega e esteja disposta a dialogar com as outras pessoas sobre como
estas por vezes nascem com os cadarços amarrados para que tropecem pelo caminho.
(ADRIÃO, 2015).
A metáfora dos cadarços amarados me faz pensar uma série de questões quando
observo meu campo. Penso ser possível potencializar a proposta de conversar com as
pessoas sobre seus caminhos “tortos” se, em conjunto, invoco a pergunta de Gayatri
Spivak (2010) sobre o sujeito subalterno e me questiono sobre quem pode falar e dentro
de quais códigos e jogos linguísticos essa fala é legitimada. Essa pode se converter em
uma pergunta sobre epistemologias que então pode invocar perguntas sobre
metodologias. Sobre essas questões tratará esse capítulo, na medida em que vou
tateando um possível conceito de pesquisa-intervenção em psicologia, por acreditar na
necessidade de nomear percursos e escolhas/campos conceituais.
3.1Do contexto do acontecimento
Um ponto inicial de analise desse capítulo é o próprio processo de materialização
de demandas ao redor de um grupo de interesse. Porém, alguns elementos
contingenciais interpelam as construções e os acontecimentos aqui narrados.
68
�Portanto, alguns pontos-chave serão evocados a fim de situar a reflexão teórica num
tempo-espaço amarrado em questões políticas. Invoco então uma linha de tempo que
ilustre alguns acontecimentos registrados em diário de passado, para em seguida ir
comentando mais profundamente cada um deles.
Figura 3 - Linha de tempo dos acontecimentos do campo
A partir dessa linha de tempo, podemos visualizar mais detalhadamente os
acontecimentos que culminam na publicação da segunda portaria e no lançamento da
campanha de divulgação e sensibilização sobre os usos de nome social na UFPE. Por
meio desse gráfico, os acontecimentos podem ser melhor visualizados. Os tamanhos
diferenciados apontam para os níveis de contato mais ou menos que tive nesse
momento.
Para contextualizar a cena que envolve essa linha entre os anos de 2014 e 2015 é
importante lembrar que a pauta de nome social vinha sendo debatida em diversas
universidades no Brasil, desse modo, quando na UFPE começamos a levantar essa
questão, no início de 2014 mais de vinte universidades públicas45 do Brasil já tinham
seus próprios estatutos internos que versavam sobre usos de nome social nestas
instituições. Desse modo, quando na UFPE esse debate vai ganhando corpo, o
argumento de que quase todas as outras Universidades Federais do país já dispõem de
seu próprio estatuto é um argumento mobilizador. Tratarei desse ponto mais
45
Dados de um levantamento feito por mim na época, onde constatei que entre os anos de 2011 e 2014 muitas
universidades começaram a publicar seus regimentos que versam sobre políticas para pessoas trans*. Uma
hipótese possível é pensar se a entrada dessa pauta na cena universitária brasileira estaria diretamente ligada a
certa difusão de estudos de inspiração feminista e queer (COLLING, 2015) em nossas universidades,
especialmente num contexto teórico político que podemos pensar como pós- butleriano.
69
�detalhadamente quando pensar sobre o debate de candidata/os46 a reitor.
Marco os limites temporais dos acontecimentos aqui relatados como iniciando
com a trajetória de Diego e finalizando com o evento do lançamento da campanha de
divulgação da portaria de nome social. Entre esses dois marcos temporais, encontros
transversais foram ocorrendo e me interpelando na construção de um olhar sobre a
problemática. Desse modo, creio que contextualizar esse trajeto ajuda a presentificar as
cenas que se fizeram no decorrer do meu trajeto no campo.
Abaixo seguem descrições de cada uma das etapas que estão na linha do tempo.
1 – Primeiro semestre de 2014 - Acompanhamento da trajetória de Diego
Esse acontecimento já foi citado na introdução dessa dissertação e é o que
considero como o primeiro encontro tanto com o campo quanto com a problemática que
eu viria a discutir. Resgatando brevemente esse ponto, Diego é um jovem que então
tinha 16 anos e iniciava sua transição. No então ele cursava licenciatura em teatro no
Centro de Artes e Comunicação da UFPE (CAC). Ao solicitar seu nome social ainda em
2014, as pessoas do seu departamento não souberam como agir, o que o faz iniciar uma
peregrinação por diversos setores da UFPE. Seu departamento recomenda que ele
procure informações no corpo discente, que o encaminha para a Pró-Reitoria de
Assuntos Acadêmicos (PROACAD) que finalmente lhe diz não haver demanda para
essa questão. O tempo desses deslocamentos consome metade do semestre letivo, as
chamadas chegam com um nome feminino e violências familiares decorrentes da não
aceitação de seu processo de transição se somam com as violências e deslegitimações
institucionais em algumas aulas. Como decorrência, ele abandona sua graduação na
UFPE.
Acompanhar essa trajetória me convida a entender a urgência de pensar políticas
afirmativas direcionadas a pessoas trans* em nossa universidade. Começo então a
circular informalmente pela rede de estudantes trans* já existentes na UFPE e
começamos a conversar também informalmente sobre como seria possível mobilizar a
construção de um estatuto de nome social.
2 – Setembro de 2014 - Reportagem do jornal folha de Pernambuco sobre ausência de
Política de nome social na UFPE
46
Havia uma mulher como concorrente.
70
�Trago esse recorte como acontecimento de campo porque pela primeira vez um
jornal se dispôs a fazer uma matéria sobre a ausência de políticas para pessoas trans* na
UFPE. Após entrevistar Diego, que então já havia trancado o curso, o jornalista
entrevista Maria Clara que se preparava para prestar vestibular. Dois pontos me chamam
atenção na composição dessa matéria: 1) ao sair como matéria especial publicada no dia
da parada da diversidade ela começa a jogar um certo foco para como a UFPE
responderia às demandas específicas de assistência e garantia de direitos para
segmentos de alunos que vivenciam desigualdades sociais e; 2) essa reportagem me
chamou atenção para os lugares mestizos (ANZALDUA, 1999) que eu começava a
ocupar quando, através de sua rede de relações, o mesmo repórter chega, através de uma
indicação, a mim com a solicitação de que eu respondesse a entrevista enquanto
“especialista” que estuda sobre o tema proposto.
A partir dessa publicação, certo debate sobre nome social na UFPE começa a
despontar47.
3 – Janeiro de 2015 - Repercussão da aprovação de Maria Clara
Maria Clara é aprovada no vestibular e anuncia sua inscrição em pedagogia.
Nesse momento ela já possuía certa projeção nas redes sociais enquanto cyberativista e
escrevia para uma coluna na revista eletrônica Capitolina. Desse modo, ao passar ela
escreve um manifesto que é amplamente divulgado, chegando inclusive a grandes
veículos como o G1 e a Carta Capital48. Uma rede de televisão local grava uma
entrevista com ela e filma sua mãe raspando sua sobrancelha. Essa reportagem,
veiculada em tv aberta em um jornal do horário do almoço e transmitida para todo o
Estado de Pernambuco também gera certa comoção e mais uma vez lança foco para
como a UFPE viria a se adaptar a essa “nova” demanda.
4 – Fevereiro e 2015 Reunião do Conselho Departamental do Centro de Educação sobre
nome social na UFPE
Esse é um dos primeiros espaços institucionais que se dispõe a discutir sobre
nome social na universidade. Tendo em vista a repercussão tomada pela aprovação de
47
Logo após a publicação, o Diretório acadêmico de ciências sociais organiza uma roda de conversas sobre esse
tema
48
Tratam-se de veículos de informação. O G1 é um portal virtual da rede globo e a Carta Capital uma revista
veiculada tanto em mídia impressa quanto eletrônica
71
�Maria Clara, o centro a que ela se direcionaria decide pensar coletivamente sobre essa
questão mesmo antes das aulas começarem. Um ponto importante a ressaltar é que esse
centro possui uma organização diferenciada dos demais centros da UFPE, no período
em que estes acontecimentos são descritos. Uma vez por mês o conselho departamental
se reúne em caráter deliberativo para discutir sobre as questões que dizem respeito ao
Centro de Educação. A diferença prática em relação às outras reuniões de conselhos de
centros é que essa é uma reunião aberta a toda a comunidade acadêmica. Ela acontece
num auditório e tem seus horários e pautas sempre divulgados com antecedência na
internet. Essa contextualização é importante para ajudar a entender como se deu o nosso
acesso a esse espaço deliberativo.
Em fevereiro de 2015, uma das pautas da reunião mensal seria debater o nome
social na UFPE. Por ser um espaço de acesso livre, o Prof. Daniel (Diretor do Centro de
Educação) convida a profª Karla Galvão, pelas suas inserções com a temática abordada
que repassa o convite para mim. Entendendo a importância desse primeiro espaço,
iniciamos uma organização de pessoas trans* ao redor do tema. Desse modo, ao receber
o convite e saber do acesso livre desse espaço, abro uma conversa no facebook com as
pessoas trans* da UFPE que faziam parte da minha rede naquele momento, explico do
que se trata a reunião e convido todas/os a ir comigo.
Essa conversa inicial inclui nove pessoas. Dessas, cinco estão na graduação, uma
é funcionária terceirizada no Hospital das Clínicas e duas são integrantes de um coletivo
LGBT atuante na Universidade chamado Além do arco-íris. Seis dessas nove pessoas
comparecem à reunião. Algumas nuances desse momento foram registradas em meu
diário de campo, mas como forma resumida, cabe dizer que, como encaminhamento,
tivemos três pautas elaboradas durante a reunião. A partir do meu registro no diário de
campo as pautas foram:
1 – garantir o nome social no siga de Maria Clara, proposta que se
alterou após reclamações das pessoas trans* presentes para Garantir o
nome social no siga de Maria Clara e das outras pessoas trans.
2 – Propor a criação de um GT para pensar a elaboração de um
estatuto de nome social para a UFPE.
3 – Recepcionar enquanto coordenação do centro, A Maria Clara em
seu primeiro dia de aula. (DIÁRIO DE CAMPO, 2015)
As duas primeiras pautas foram enviadas para a Reitoria como deliberação do
Centro de Educação em uma carta que solicitava ainda uma resposta rápida da
Universidade para essa questão. Um ponto que aparece pela primeira vez nesse
72
�momento e que é um importante atravessamento da cena é que já começam a ocorrer as
campanhas de eleição de reitor, e antes da reunião do conselho departamental ocorrer, o
Prof, Edilson, um dos candidatos, pede a fala para se apresentar enquanto candidato. No
término de sua fala, ele e toda a sua equipe se retiram. O próprio prof. Daniel é também
candidato a Reitor, porém nesse momento nenhuma menção a sua candidatura é feita.
5 – Fevereiro de 2015 Publicação da Primeira Portaria
Ainda em Fevereiro de 2015 é lançada uma primeira portaria de nome social
para a UFPE. Contendo uma página e alguns erros graves, ela fora elaborada sem a
consulta a pessoas próximas ao tema. Trouxe alguns elementos de reflexão sobre essa
portaria no capítulo anterior, mas enquanto acontecimento de campo ela foi um
elemento organizador que possibilitou a junção de um grupo disposto à atuação prática
para intervir nessa questão.
Após isso, abro uma conversa novamente no facebook com as pessoas da
organização anterior e envio a portaria. Começamos a discutir sobre ela e chegamos ao
consenso de que esse documento é falho e insuficiente. Como proposta de ação,
começamos a convidar mais pessoas para a conversa e em conjunto, começamos a traçar
planos. Uma primeira e importante pessoa inserida nesse processo foi a professora do
Departamento de Psicologia Luciana Vieira que, por sua vez, já vinha tentando inserir a
pauta da criação de uma portaria de nome social há certo tempo. Assim, uma vez
lançada a primeira portaria, decidimos redigir nossa própria proposta, com críticas a
primeira. A referida profª então oferece uma sala do departamento de psicologia para
esse trabalho em conjunto.
6 - Fevereiro de 2015 - Organização coletiva para escrever uma nova portaria
Encontramo-nos então num sábado no Centro de Filosofia e Ciências
Humanas
(CFCH) e nos direcionamos a sala 12 do sétimo andar. Novamente o encontro começara
em espaço virtual para então decidirmos pelo momento de reunião. Estão presentes
nesse momento algumas das pessoas que foram para a reunião do conselho
departamental do CE, a profª Luciana Vieira e uma pessoa representante de um coletivo
LGBT. Começamos nos apresentando e em seguida fazemos uma leitura crítica da
portaria publicada. Havíamos combinado de levar portarias de outras universidades para
a partir da comparação podermos criar um documento com o que consideraríamos
importante. Escolhemos como base as portarias da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade
73
�Federal de Minas Gerais (UFMG). A partir da leitura destas três iniciamos nosso texto
levantando pontos importantes. No final da tarde tínhamos um texto de quatro páginas
que sintetizava o que de melhor encontramos nesses três documentos e acrescentamos
elementos que previam o uso dos banheiros e assistência estudantil para pessoas trans*.
Fechamos o dia com um documento praticamente pronto.
7 – Março de 2015 - Reunião na Reitoria para apresentar nossa proposta de portaria.
Esse acontecimento fora um ponto emblemático da trama. A partir da
coordenação em psicologia marcamos uma reunião diretamente com o reitor (e aqui se
faz importante lembrar que ele concorria a reeleição). Luciana Vieira estaria presente
junto com a profª. Kaliane Rocha, coordenadora da graduação em Psicologia. Ficou
deliberado que dois discentes que estiveram no momento de redação do documento
também estivessem. No dia, Karina Moutinho, também professora do departamento de
psicologia se soma ao grupo. Como discentes vamos eu e Guilherme. Chegando o
momento da reunião, estão presentes o Reitor, a pró-reitora de assuntos acadêmicos,
uma representante da pró-reitoria de assistência estudantil (PROAES) e um
representante da pró-reitoria de comunicação. Apresentamo-nos e Luciana Vieira pede
permissão para apontar o porquê da portaria lançada ser insuficiente. Em seguida, certo
tom de surpresa pôde ser percebido quando apresentamos um documento já pronto do
que viria a ser, para nós, um modelo de portaria mais ideal. Luciana apresenta ponto por
ponto o texto que elaboramos e ao fim, com exceção de um único parágrafo que dizia
respeito a uma organização interna da PROAES sobre critérios de vulnerabilidade, todo
o texto foi aprovado e imediatamente encaminhado para o setor jurídico da universidade.
Luciana propôs ainda que fizéssemos uma grande campanha de sensibilização para essa
questão, posto que a mera existência da lei não garantiria o acesso a essa informação por
toda a comunidade acadêmica. Combinamos então uma reunião com a equipe da recémlançada Pró-reitoria de Comunicação.
8- Março de 2015 - Publicação da nova Portaria
Poucas semanas depois da nossa reunião no gabinete do Reitor, uma nova
portaria é publicada. O departamento jurídico não havia modificado nada no nosso texto
que, passou imediatamente com a sua publicação, a ser a portaria válida na UFPE.
74
�9 – Abril de 2015 - Debate entre candidatos a Reitor sobre questões LGBT
Um acontecimento que é sintomático do que acontecia na UFPE nesse momento
político foi um debate com os/a candidatos/a49 a reitor, sobre demandas do segmento
LGBT. Esse momento é atravessado por alguns elementos curiosos como o fato de ter
ocorrido em um espaço fora da universidade e de ter sido organizado e inclusive
mediado por pessoas ligadas a um movimento social já atuante em Pernambuco a alguns
anos, mas que porém não era ligado à UFPE. O espaço onde o debate ocorreu foi uma
conhecida casa noturna dos circuitos LGBT’s de Recife e se deu aos mesmos moldes que
debates com candidatos a prefeito de Recife e a governador do estado. Começando o
debate, sendo ele específico sobre e para a população LGBT da UFPE, estavam
presentes discentes e docentes integrantes de grupos de pesquisa sobre sexualidade,
coletivos estudantis, pessoas da equipe de campanha dos/a candidatos/a e pessoas
interessadas no tema. No decorrer das interpelações todos os cinco mostraram certo
desconhecimento. Confusão com termos e respostas que buscavam ‘sair pela tangente’
foram presentes durante toda a noite nos discursos das cinco pessoas do debate. Porém,
fora a primeira vez que candidatos a reitoria da UFPE foram diretamente interpelados
sobre como a universidade passaria a se posicionar com as demandas do contingente
LGBT que integra a comunidade acadêmica.
10 – Abril de 2015 - Campanha junto à PROCIT
Como combinado na reunião na reitoria, conversamos com a equipe de designers
da pró-reitoria de comunicação (PROCIT) e a partir de então passamos a ter reuniões
regulares para elaborar uma campanha de divulgação da recém-lançada portaria. A
proposta foi criar linguagens simples e práticas para fomentar informações sobre o
funcionamento da portaria ao mesmo tempo em que sensibilizaríamos pessoas para o
debate. A equipe da PROCIT adere a nossa proposta e passa a indicar uma variedade
grande de possibilidades. É criado um nome para a campanha que pudesse ser usado em
redes sociais, desse modo a hastag #meunomeimporta passa a circular, enquanto
pequenos vídeos começam a ser gravados. Cartazes também são espalhados por toda a
universidade e também são pensadas intervenções nos banheiros como forma de fazer as
pessoas pensarem sobre esse tema.
11 – Maio de 2015 - Lançamento da campanha de Sensibilização e Conscientização e da
49
Importante marcar que eram quatro homens e uma mulher.
75
�política LGBT da UFPE.
Através de um evento, a equipe da PROCIT apresenta os produtos da campanha
e a recém-criada política LGBT da UFPE. Nesse evento, composto por mesas temáticas
sobre diversidades, foi anunciada a criação de uma diretoria LGBT da UFPE.
Uma vez contextualizada a cena que envolve os acontecimentos, podemos usar
desses elementos para pensar questões analíticas que permeiam a trama. Dividi a
organização dessa análise em dois momentos. Primeiro me debruçarei sobre questões da
própria organização política. Em seguida, sobre questões transversais que compõem
especificidades de uma política de nome social.
3.2 Da organização política como objeto de análise
Pensar em termos de organização política torna-se uma complexa tarefa. Porém,
compor algumas categorias ajudam a organizar a escrita através de um caminho mais
linear. Se entendermos que a sociedade se configura como um espaço ético-político que
pressupõe articulações contingentes (BUTLER, LACLAU E ZIZEK, 2000) podemos
perceber que a universidade se configura como um microcontexto que reproduz
elementos de ordem macropolítica. Creio então que posso tomar emprestado o conceito
de sociedade trazido pelos três autores e refletir que uma grande instituição universitária
pode também ser entendida como um espaço ético-político marcado por articulações
contingentes. Desse modo, discorrer sobre algumas dessas articulações que dizem
respeito a nossa construção política, é interesse desse capítulo.
Ponto que ajuda a entender a conformação da cena coletiva, o conceito de
hegemonia empresta lentes conceituais ao olhar para os acontecimentos da/na UFPE.
Por hegemonia podemos pensar o conjunto de relações que visa ocupar a centralidade do
campo social. Essa centralização, fortemente vinculada ao ideal de representação, se dá
por meio de práticas articulatórias. Hegemonia, no contexto teórico que invoco, é
indissociável da categoria de antagonismo. A articulação entre antagonismos e práticas
hegemônicas é o que dota a cena de seu caráter contingencial, instaurando a fissura bem
no cerne das composições democráticas. (LACLAU E MOUFFE, 1985).
Algumas palavras-chave saltam aos olhos aqui: articulação, representação e,
antagonismo. E sobre elas, podemos perceber na constituição do campo exemplos
práticos enquanto nos perguntamos como elas se fizeram presentes na nossa
76
�organização política.
Em princípio, podemos perceber como forças externas começam a tencionar o
espaço da universidade de modo que a instituição se vê com a responsabilidade de dar
respostas diante do “novo” acontecimento que a mídia noticiava – uma estudante
travesti na graduação. Essa articulação entre diferentes vetores de força propicia uma
abertura para que o nome social passe a figurar como pauta em diferentes espaços.
Uma primeira dicotomia percebida e que acompanha toda a discussão da política
é a relação entre os lugares dentro-fora. Se o debate é motivado pelo argumento do
acesso à universidade como projeto de vida possível para pessoas trans*, fazer mais
pessoas marginalizadas poderem estar dentro desse espaço torna-se uma posição
política. Duas dimensões diferentes do que denomino nesse momento como o ‘estar
fora’ da Universidade podem aqui ser invocadas.
Na relação com as linhas de poder que atravessam o campo, a mídia local tornase um vetor importante e capaz de tencionar os gabinetes institucionais da universidade
desde fora, emprestando argumentos utilizados inclusive no espaço da reunião do
departamento onde nome social fora pauta pela primeira vez. Esta é uma perspectiva do
fora que pode ser pensada como implícita aos processos de organização social que
marcam a universidade como um espaço de formação, portanto com um tempo limitado
de inserção das pessoas nesse cotidiano. Uma segunda perspectiva do estar fora pode ser
pensada quando lembramos da relação das pessoas trans* com os espaços educacionais.
Diante de uma trajetória de violências que tem como consequência o apagamento das
diferenças nos espaços formativos, podemos pensar que as pessoas trans* por vezes são
expulsas arbitrariamente desses locais (TORRES, VIEIRA 2015). Desse modo, esse
segundo “estar fora” possui um significado diferente do primeiro devido à
compulsoriedade com que se dá.
Entendendo o trajeto das pessoas trans* pelo sistema educacional, podemos
perceber que a universidade enquanto projeto de vida toma um lugar de reparador de
trajetória. Sendo culturalmente posta como um local privilegiado de formação bem
como espaço legitimado de produção de conhecimento, o acesso de grupos subalternos
(SPIVAK, 2010) a esse meio tenciona a lógica de organização social que até pouco
tempo marcava as universidades brasileiras como espaços de elite. A inserção e
manutenção de estudantes trans* nas universidades públicas torna-se então um projeto
77
�político-ideológico cujos efeitos começam a despontar no campo acadêmico50.
Tencionar a instituição nesse processo de inserção e manutenção de estudantes
trans*, propondo pautas específicas para esse segmento, requer a inserção dentro dos
espaços institucionais de disputa. Podemos lançar mão dos conceitos de hegemonia e
antagonismo para refletir sobre tais movimentações nas esferas políticas
Não há demanda?! Sobre Hegemonias Cistêmicas51 nos campos universitários
Em um primeiro momento do campo, no ano de 2014, quando na história de
Diego e Dimitri a resposta dada pela universidade é de que não há demanda de nome
social, apesar de os dois terem solicitado em momentos diferentes, convida a algumas
reflexões. Naquele momento é possível perceber que, apesar da demanda se mostrar,
prevalece um pensamento hegemônico sobre o funcionamento das instâncias
universitárias. No momento em que os dois buscam o direito ao uso de seus nomes
sociais, a hegemonia de um pensamento/ideologia de que não há demanda nem pautas
de discentes trans* na UFPE é ainda tão forte, que a forma de organização institucional
sobre esse tema não é desestabilizada.
A presença de pessoas trans* na instituição universitária era então algo
ininteligível, posto que mesmo com os sujeitos presentes reclamando suas existências
institucionais, o argumento de que não há demanda é usado mais de uma vez para
justificar a ausência dessa pauta nos espaços administrativos.
Relembro então o conceito trabalhado por viviane v. (2014) de Cis+supremacia.
Esse termo trata da percepção de que os espaços coletivos se configuram como
instâncias que desconsideram existências trans*. Extremamente atravessado por
estereótipos e preconceitos, o olhar coletivo passa a associar o fato de que o único lugar
possível de encontrar mulheres trans* é em trabalhos sexuais precarizados e sempre nas
noites e madrugadas (v, 2014). Quando se trata de homens trans, podemos pensar que o
imaginário coletivo ainda não encontra representações, delegando a essas existências tal
lugar de ininteligibilidade que nem as margens lhe são creditadas. Guilherme Almeida
Em setembro de 2015 ocorreu na cidade de Salvador –BA o seminário internacional desfazendo gênero.
Nele, um dos grupos de trabalho me chamou atenção e motivou minha ida ao evento. Tratava-se do que pôde ser
percebido como o primeiro espaço acadêmico totalmente coordenado por acadêmicas trans* em um evento de
grande porte no país. Não à toa, o tema do Gt fora “o conceito de cisgeneridade como resistência epistêmica.”
51
Uso essa palavra como uma referência ao deslocamento que algumas teóricas trans* fazem ao pensar que o
sistema coletivo é totalmente forjado por e para experiências cisgêneras.
50
78
�(2012) argumenta que a maior parte da sociedade não considera possível a transição do
feminino para o masculino. Para ele, tal fato deve-se ao forte olhar falocêntrico que
impregna as representações sobre a existência masculina. Sendo assim, na representação
coletiva o pênis é um elemento posto como demarcador compulsório das masculinidades
e sem ele, estas seriam impossíveis (ALMEIDA, 2012). Temos então dois diferentes
problemas dicotomizados no modo como algumas hegemonias percebem as pessoas
trans*. De um lado uma sub-representação que credita às mulheres trans* o mercado do
sexo como local de vida possível atrelado ao apagamento de todas as outras
possibilidades (v, 2014) e do outro lado, uma não representação, que concebe os corpos
dos homens trans como da ordem do impossível (ALMEIDA, 2014).
Algumas representações que marcam as vivências trans* sempre a partir do erro
e da impossibilidade partem de uma supremacia da experiência cisgênera, posta como o
lugar da normalidade e do previsto para todas as vidas. (KAAS, 2014). Esse pensamento
hegemônico se atualiza na UFPE quando diz a duas pessoas trans* que suas vidas e
trajetórias dentro da instituição não constituem uma demanda institucional forte o
suficiente para modificar as formas de tratamento direcionadas a eles. Elas deveriam,
portanto, resignar-se diante de uma supremacia cisgênera que definiu que seus corpos
são e serão sempre femininos.
Gerar demanda a partir do antagonismo.
Como primeira medida de enfrentamento, era preciso então transformar
situações cotidianas de constrangimento em demanda. Desse modo, reunir um grupo de
pessoas que naquele momento estivessem enfrentando a mesma situação foi importante.
Se há uma hegemonia dos significados, posições de antagonismo desde dentro se fazem
necessárias. O primeiro movimento foi então o de coletivizar as demandas no diálogo
com a instituição. Para Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1985), antagonismo é uma
palavra que possui relação com a noção de conflito. Desse modo, entendendo conflito
como uma situação de oposição cuja intenção é desestabilizar a suposta solidez do que
está posto (hegemônico) a relação de antagonismo se faz necessária ou mesmo
indispensável na constituição do campo político.
Percebo no desenvolver do meu campo que uma primeira relação de
antagonismo se estabelece em duas vias. A primeira delas trata das questões vindas de
fora do campus universitário, quando um veículo de notícias publica uma matéria sobre
79
�a inexistência de políticas de nome social na UFPE, mostrando inclusive os discursos
contraditórios que a instituição sustentava (a partir dos representantes do setor de
comunicação na época). A segunda relação estabelece-sequando formamos um primeiro
grupo ao mapear por meio de nossa rede as pessoas trans* existentes na universidade.
Ambas relações já pontuei anteriormente.
Cabe lembrar que diversos fatores somam-se, formando uma conjuntura que
torna a instituição aberta a dialogar sobre temáticas trans*. Ponto cuja importância deve
ser destacada é o movimento gerado com o início das campanhas de eleição para reitor.
Desse modo, o campo de disputas se intensifica, fazendo com que diversas pautas que
comumente seriam entendidas como “de menor valor”, sejam postas com elementos de
campanha e ferramenta para apontar as insuficiências das outras chapas para com o
segmento representado pelas demandas específicas.
Uma trama de eventos emaranhados se forma rapidamente, instaurando conflitos
na posição anterior da instituição. São eventos simultâneos, porém é possível perceber
que os ataques às insuficiências institucionais frente a pessoas trans* que mais
reverberam num primeiro momento, partem da mídia. Em setembro de 2014, com a
reportagem sobre discentes que não conseguiram o direito ao nome social, e em janeiro
do ano tal, num veículo de maior circulação, com a expectativa de como a instituição vai
responder a aprovação de Maria Clara no vestibular. Esses dois movimentos não foram
únicos. Muito antes já ocorrem tentativas de compor essa demanda desde dentro52,
porém, o momento e o contexto político em que são publicadas as duas matérias – em
especial a segunda – favorece sua dispersão e a promessa de organizar políticas
institucionais a partir dessa pauta por três das cinco chapas que disputam o cargo de
reitor.
Partindo do conceito de antagonismo para pensar o campo político da UFPE,
vejo que esta é uma posição polivalente, que na construção de respostas às demandas
específicas de pessoas trans*, emergiu de formas e lugares distintos. De fato, entender o
campo social e político como um espaço de disputa me convida a perceber que a
desestabilização das concepções hegemônicas e das representações cristalizadas é uma
tarefa fundamental. Essa desestabilização pode tanto ocorrer através da abertura da
instituição para o diálogo com grupos de interesse, como também pode ocorrer a partir
52
A própria profa. Luciana Vieira, mesmo antes dos eventos aqui relatados já vinha desde 2013 tentando dialogar
com representantes de alguns setores administrativos da UFPE com a finalidade de organizar um grupo de
trabalho para compor um estatuto de nome social para a nossa universidade.
80
�da necessidade de rearticulação dos argumentos num contexto de disputa coletiva pelos
espaços de poder. Tanto o primeiro quanto o segundo movimento, pressupõem uma
organização política de cunho democrático.
Os processos de democratização das instâncias universitárias evocam palavras
como diálogo, projetos coletivos, dialética, mas ao mesmo tempo, se pensamos uma
radicalização das propostas democráticas, precisamos entender que o que está em jogo
no fim é sempre a disputa pela hegemonia. Seja esta materializada numa hegemonia dos
espaços de decisão, seja uma hegemonia no campo das articulações das ideias e
representações. Porém, o lugar de tais hegemonias é sempre instável, posto que
elementos como o conflito, a fissura e as contradições circundam sempre a suposta
estabilidade das hegemonias. Tais relações são, portanto, indissociáveis dos lugares de
antagonismo. (LACLAU e MOUFFE, 1985) Toda essa movimentação torna o campo
político sempre arenoso, escorregadio e atravessado por linhas de fuga que, numa
metáfora deleuziana (DELEUZEE GUATTARI, 2004) desterritorializam a cena política
permitindo a abertura às novas questões e posições.
No momento em que os acontecimentos que marquei se deram, a UFPE inteira
borbulhava como um imenso campo de disputas. O que de certa forma, fez a instituição
responder às provocações da mídia e de diferentes grupos internos (chapas adversárias,
movimentos estudantis) com a publicação apressada da primeira portaria de nome
social. Nossa intervenção mais diretiva inicia-se então nesse contexto, onde uma
primeira organização mais concreta se faz possível como resposta a esse documento.
3.3 Analíticas Transversais
Contextualizado o campo político de um modo mais amplo, creio que uma série
de questões que transversalizam os acontecimentos podem oferecer uma análise da
conjuntura política e das mudanças trazidas por esses acontecimentos ao cotidiano da
UFPE. Desse modo, elegi algumas das questões que tangenciam a construção e a
implementação de políticas institucionais para pessoas trans*. Sendo elas 1) as
conjunturas que fazem das pautas LGBT’s uma bandeira institucional, 2) problemáticas
relacionadas ao uso dos banheiros e 3) as dinâmicas complexas entre representação e
lugar de fala a partir dos cartazes da campanha #meunomeimporta. Entendo meu campo
como um microcontexto que reflete em si questões de ordem macropolítica dos próprios
processos de percepção e tratamento dado às pessoas trans* em
nossos
81
�contextos históricos e sociais.
Da Pauta LGBT como bandeira política
Um elemento que me chamou atenção foi perceber que nas eleições que
movimentaram a UFPE, pautas específicas de grupos minoritários foram invocadas na
cena pública como proposta de campanha de alguns candidatos. Podemos pensar
brevemente em como essa agenda se instala como um elemento positivo, e como apenas
nessas últimas eleições, os grupos que disputam o espaço hegemônico optam por
dialogar diretamente com as pessoas LGBT presentes na UFPE.
Cabe aqui dizer que não me interessa enquanto proposta de análise, a
personalização dos argumentos em um ou outro candidato. Creio que de fato suas
convicções e posicionamentos pessoais sobre o tema são fundamentais para o
desenvolvimento de um diálogo mais aberto com a população LGBT. Contudo, a análise
das crenças e convicções pessoais de cada um dos candidatos me exigiria um maior
debruçamento sobre as nuances dessa questão específica. Penso que nesse momento me
é mais estratégico entender cada candidato não como um indivíduo em si, mas sim como
a materialização de um coletivo cujos atos e discursos são previamente pensados.
Arbitrariedade das propostas políticas, portanto, é um elemento que penso ser
amenizado pelas decisões coletivas sobre a campanha de cada candidato.
Invocar dois elementos fazem-se necessários para justificar a absorção do
discurso sobre LGBT’s dentro da universidade: 1º) a mídia feita ao redor da aprovação
de Maria Clara joga luz para o tema dentro da UFPE na medida em que aponta que
grande parte das universidades públicas tem seus regimentos internos enquanto na
UFPE essa pauta nunca fora posta pelos representantes administrativos e, 2º) a comoção
gerada com a divulgação dessa aprovação fortalece a necessidade de diálogo da
instituição com grupos (de pesquisa, de movimento social) que atuem desde dentro da
universidade.
Há três momentos emblemáticos que ilustram essa questão. Sendo eles:
1) A reunião do conselho departamental do Centro de Educação;
2) A publicação da primeira portaria normativa sobre nome social na UFPE;
3) O debate dos candidatos especificamente sobre pautas específicas para o
segmento LGBT’s e que ocorreu numa famosa boate “gay” da cidade.
Escolho esses momentos como emblemáticos por serem eles pontos onde emergem
82
�e começam a circular uma série de discursos que podem ser nomeados como “LGBT
Friendly” (FRANÇA, 2006). Sobre o conceito de gay friendly ou mesmo LGBT friendly,
Isadora Lins França argumenta tratar-se de um movimento que se expande nos anos
1990 quando o que até então era apenas um “gueto” passa a ser visto como um potencial
mercado consumidor (FRANÇA, 2006). Não podemos desconsiderar que em épocas de
eleição, a disputa é, sobretudo, pelos votos que podem eleger grupos como
representantes. Desse modo, considerar que o segmento LGBT é importante e que
também deverá ser representado por quem estiver no comando da instituição é um
argumento forte nos momentos de campanha.
Sobre os três momentos que ilustrei, o primeiro deles (a reunião do Centro de
Educação) é marcado pelo clima de eleição que já atravessa os espaços da UFPE.
Resgatando um trecho do diário de campo, trago que:
Antes de começar de fato a reunião, a fala é solicitada por Edilson,
candidato a reitor que usa desse espaço para se apresentar e falar um
pouco de sua trajetória. Tal fato anuncia o clima que passa a circundar
a UFPE, pois as eleições de Reitor se aproximam. O próprio Daniel é
também candidato a reitor, porém nesse momento, só Edilson e sua
equipe fazem promoção de campanha. Ao terminar sua fala ele e toda
a sua equipe – pessoas com camisa de sua campanha – se retiram.
(DIÁRIO DE CAMPO, 2015)
Temos, portanto dois elementos, um candidato que se faz presente na reunião do
conselho departamental apenas para apresentar sua campanha e logo em seguida se
retira com toda a sua equipe, e o fato de que o próprio coordenador da reunião era
também candidato, apesar de não explicitar isso no momento da reunião. Ao fim da
reunião do conselho departamental, uma carta é enviada pelo Centro de Educação
solicitando que a instituição responda sobre nome social. Penso que devemos considerar
esse ato em duas vias. Trata-se de uma solicitação feita e assinada por um dos Centros
da UFPE e reafirmada fortemente pela mídia da época. Mas também, trata-se de uma
solicitação de uma pauta até então nunca pensada institucionalmente, feita por um
candidato a reitor, consequentemente, representante de um grupo “oponente” a equipe
que então ocupa os cargos de gestão na reitoria. Pensar nessas duas vias talvez nos ajude
a entender a nebulosa e rápida publicação da primeira portaria de nome social.
Poucas semanas após o envio da carta, numa manhã sem anúncios prévios, uma
portaria é publicada. Como já mencionado anteriormente, esse documento de uma
página, apresenta problemas sérios de elaboração, o que torna visível que fora
construído sem nenhum diálogo com as diversas instâncias da própria universidade que
83
�entendem e pautam questões de diversidade e gênero. Posso pensar então que o tom de
“resposta” que esse documento possui pode ser lido tanto como um meio de apaziguar
as acusações de que nossa universidade não é um local possível para pessoas trans*
quanto se apropriar dessa demanda antes das eleições, de modo que, grupos rivais
percam a ferramenta argumentativa da ausência de políticas específicas para essa
população e com isso, percam uma moeda de barganha.
Os argumentos de moeda de barganha aparecem com mais força no momento do
debate com candidatos sobre demandas LGBT’s. Algumas nuances atravessam esse
momento. Acontecendo algum tempo depois da publicação da primeira portaria, nós já
havíamos refeito a proposta da portaria e a reitoria já havia retificado o documento,
publicando o texto que nós criamos. Contudo, nesse ponto passo para o debate de
candidatos por considerar esse momento emblemático da discussão. Das nuances que
atravessam a cena, posso destacar alguns elementos que me chamam atenção como: 1) o
local onde ocorreu; 2) o grupo que organizou o debate e, 3) a (des)organização dos
candidatos ao tentar responder questões postas. Sobre essas questões específicas, um
certo modus operandi do movimento social organizado do Estado de Pernambuco se fez
presente. O debate sobre questões que dizem respeito ao contexto da universidade
ocorreu fora dela, num “gueto” comercial localizado no centro da cidade. O debate fora
organizado também num horário incomum para uma atividade da universidade - na noite
de uma sexta-feira. O debate fora mediado por integrantes do grupo leões do norte, uma
ONG fundada em 2001 que atua em defesa da cidadania LGBT. Essa ONG organiza
sempre em parceria com a mesma boate, os debates nas eleições do Governo do Estado
e da Prefeitura do Recife sobre pautas LGBT.
Houve, portanto, nessa pauta, um movimento que coloca as eleições para reitor
da UFPE no mesmo patamar político que as eleições para governador e prefeito da
capital do Estado. Inclusive a organização do debate fora a mesma53.
Quando interpelados/a
por questões sobre
enfrentamento a violência
“homofóbica” dentro da instituição (esse fora o termo usado por algumas pessoas no
dia) apenas duas das cinco pessoas apresentaram propostas de criação de ações
específicas embora ainda não nomeassem como políticas LGBT. De fato, após o debate,
esses dois candidatos se dispuseram a criar dentro de sua gestão um espaço para discutir
sobre a cena LGBT na UFPE. As outras três pessoas assumiram posicionamentos
53
Blocos de perguntas e respostas e em seguida considerações mais gerais para apresentar as propostas de cada chapa
para o segmento LGBT da UFPE.
84
�escorregadios e quando confrontados diretamente, tentavam sair pela tangente sem
apresentar propostas muito objetivas.
Os contextos de disputa instalados, somados às expectativas geradas ao redor dos
olhares que a mídia começa a mostrar sobre a UFPE, propiciam que tanto políticas de
nome social quanto outras demandas do segmento LGBT possam aparecer na cena
coletiva de forma ambígua. Ao mesmo tempo em que o campo político mostra (ou a ele
é exigido) uma abertura para debater essas questões, os motivos que levam
determinados grupos a incorporar pautas minoritárias podem ser variados. Porém, tais
fatos nos ajudam a impulsionar o debate e encontrar aberturas institucionais para
dialogar com os gestores e criar estratégias de afirmação das nossas propostas.
O Complexo ‘xixi’das pessoas trans*
Uma das categorias de análise pode ser a questão do uso dos banheiros por
pessoas trans*. Sendo uma pauta considerada “complexa” o direito ao uso do banheiro
se converte num ponto nodal (LACLAU E MOUFFE, 1985) que agrupa diversos
sentidos. No texto da portaria, tratamos esse tema com o trecho a seguir:
Art. 8º É assegurado o direito ao(à) requerente utilizar, de acordo com
sua identificação de gênero autodeclarada, os espaços apartados pela
divisão binária dos corpos (toaletes e vestiários). (PORTARIA
NORMATIVA nº3 de 2015, UFPE)
Com a inclusão desse parágrafo, pretendíamos garantir respaldo institucional
caso viessem a ocorrer violações no direito ao uso do banheiro mais adequado às auto
identificações. Contudo, na prática essa questão capilariza em nuances que
complexificam as vivências trans*. Um ponto que me chamou atenção foi que, logo
após o lançamento da portaria, enquanto estávamos tendo reuniões regulares com a
equipe da PROCIT, um representante do Centro Acadêmico de Vitória54 vem até uma
das reuniões e nos traz uma problemática. Segundo ele “um rapaz” fora retirado a força
pelo segurança da universidade de dentro do banheiro feminino. Nas palavras dele o
rapaz era “muito afeminado”, mas ainda assim as pessoas presentes na situação o
consideraram como um homem e acionaram o segurança. Ao apresentar essa questão, o
professor responsável questiona sobre como proceder nos casos em que esse parágrafo
“falha” e nos pergunta como garantir que de fato só mulheres usem o banheiro
54
A UFPE atualmente passa pelo processo de interiorização das universidades e possui seu campus
dividido em três. Um em Recife, outros dois com menos opções de cursos um em Vitória de Santo Antão,
uma cidade da zona da mata Pernambucana e o último em Caruaru, cidade no agreste Pernambucano.
85
�feminino. Luciana Vieira então faz toda uma explicação sobre os termos apropriados a
se usar quando falar de pessoas LGBT e o que significa cada um deles e devolve o
questionamento de porque essa pessoa então se sentiu ameaçada no banheiro masculino.
Observando essa situação me ocorreram dois questionamentos. O primeiro e
mais obvio é se diante de toda a cena, alguém se lembrou de conversar com a pessoa e
ouvir seus motivos antes no lugar de defender que “o rapaz” gostava de “causar” por
isso foi usar o banheiro feminino. Essa questão se atrela a uma segunda que é a
percepção de que as pessoas trans* estão constantemente submetidas a réguas
regulatórias que definiriam seus níveis de veracidade enquanto pessoa trans*. O ponto
extremo e final dessa régua seria uma passabilidade cisgênera55 plena. Caso esse ponto
não seja atingido, a possibilidade de que suas narrativas e processos de identificação
sejam automaticamente tidos como falaciosos é sempre presente. Desse modo, me
pergunto se essa pessoa seria realmente “um rapaz” ou se seria uma pessoa trans* que
por seus próprios motivos, na situação não performou o feminino de acordo com os
critérios cisnormativos estipulados pelo grupo em questão.
A exigência de passabilidade é uma questão que desponta fortemente com a
sempre “polêmica” questão do uso dos banheiros. Preocupa-me pensar que os corpos
(em especial os corpos “ainda” em transição) comumente passam por uma régua
regulatória que decide os níveis de masculinidade e feminilidade das performances para
então julgar qual banheiro esse corpo poderá usar. Recordo uma fala de uma das pessoas
do meu campo sobre usar banheiros da universidade durante sua transição. Em uma
conversa informal ele comenta que:
Teve uma época da transição que eu não me sentia confortável para
usar banheiro nenhum. Se eu fosse no masculino ou no feminino, as
pessoas estranhariam. Eu tinha medo de ir no banheiro masculino e
sofrer agressão ou mesmo assédio sexual e no banheiro feminino as
vezes as pessoas me olhavam de cara feia. Daí passei a evitar usar
banheiro na universidade, mas quando não tinha jeito mesmo, eu ainda
preferia usar o feminino porque apesar de tudo ainda era o menos
perigoso. (DIÁRIO DE CAMPO, 2014)
Falar sobre o uso dos banheiros num documento institucional é extremamente
importante, posto que, uma vez publicado, esse texto assume um caráter normativo que
o converte em um argumento que protege as pessoas de violações desse direito. Porém,
55
Chamamos de passabilidade o processo de apagamento de marcadores da transgeneridade nos corpos.
Hailey Kaas (2013) define passabilidade como: “O termo 'passar' significa que algumas pessoas trans*
'passam como cis' dentro da lógica social ciscêntrica. Ou seja, que no geral, em situações cotidianas, essas
pessoas não são percebidas como sendo trans*, de acordo com um conjunto de critérios cissexistas
(aparência, por ex.)”.
86
�com esse trecho do diário e com a questão posta no campus de Vitória, percebo que o nó
desse elemento passa mais uma vez pelos critérios de adequação da performance de
gênero. Prevendo algumas recapturas normativas, tentamos deixar o texto o mais aberto
possível, ressaltando no parágrafo oito que o uso do banheiro é assegurado “de acordo
com sua identificação de gênero autodeclarada”. Porém, para “o rapaz” que fora
expulso do banheiro, essa afirmação não foi suficiente.
Ao pensar sobre como o texto da portaria não foi suficiente na prática, lembrome de uma reflexão já feita no capítulo anterior sobre como dar vida a documentos,
tornando-os como parte do cotidiano da instituição. No caso dos banheiros, percebo
como estratégica a campanha feita junto com a PROCIT que tentou num primeiro
momento, abordar essa questão. Para tal, foram pensadas instalações fixadas em alguns
dos banheiros mais movimentados de todos os prédios. Consistia em um grande adesivo
nos espelhos com a hastag #meunomeimporta e o convite era para que as pessoas
tirassem fotos na instalação dos espelhos e compartilhassem com a hastag, assim elas
seriam automaticamente postadas nas páginas que os profissionais da PROCIT fizeram
em diferentes redes sociais com o facebook e o instagram. O intuito dessa instalação era
criar um ambiente interativo que fizesse as pessoas de todos os centros refletirem sobre
o direito de pessoas trans* utilizarem os banheiros em que se sentem mais confortáveis.
É difícil definir critérios de avaliação da receptividade de uma campanha de
sensibilização de grande alcance. De modo que, no tempo dessa dissertação, não ouso
ainda medir eficácia ou não dessa instalação específica nos banheiros e seus níveis de
afetação da grande comunidade acadêmica da UFPE. Contudo penso nessa intervenção
como uma tentativa lúdica de inserir no cotidiano das pessoas um questionamento que
ainda insiste em ser posto como complexo. Se insistirmos tanto na divisão binária dos
banheiros quanto em sua estrutura enquanto espaço coletivo, as pessoas trans*
permanecem como incômodos em ambientes feitos para corpos supostamente
estabilizados. Enquanto não podemos mudar a cultura de separação compulsória desse
espaço, o que pudemos fazer divide-se em dois momentos: 1º) garantir o direito ao uso
desse espaço abrindo margem para questionamentos e 2º) investir numa campanha
informativa que objetivou fazer as pessoas conhecerem o regimento que garante o
acesso a esse espaço, concordando elas ou não.
Para diluir as tensões postas e vivenciadas em relação ao uso dos banheiros,
outras etapas são necessárias e seguem em andamento na nossa universidade. Porém, de
um modo mais amplo, acredito que diante da divisão de determinados espaços ainda
87
�que coletivos como pertencentes a esferas do público ou do privado, o sagrado espaço
do banheiro entendido como zona de intimidade e exposição, continuará sendo um
espaço hostil e ameaçador para pessoas trans* sem passabilidade cisgênera.
Identidade, Representação e Locais de Fala. Um pequeno grande entrave na
campanha #MeuNomeImporta
No decorrer das reuniões com a equipe da Pró-reitoria de comunicação, foi
pensada uma grande campanha que proporcionasse identificação positiva do maior
número de pessoas possível com a questão do uso do nome social. Desse modo, foi
decidido que além de vários discentes trans* de diferentes centros, participariam da
campanha docentes e técnicos administrativos. Foram convidadas 16 pessoas que
falariam brevemente algo sobre si em pequenos vídeos veiculados na internet e
participariam de um ensaio fotográfico para a confecção de cartazes.
O tema da campanha #meunomeimporta foi escolhido como meio de sintetizar a
proposta de positivar por meio de mensagens afirmativas a importância do respeito ao
nome social. Como produtos, tivemos pequenos vídeos veiculados tanto na internet
quanto nos intervalos da TV universitária56; 16 diferentes cartazes trazendo discentes,
docentes e técnicos administrativos; intervenção nos banheiros de todos os centros com
uma instalação no espelho e faixas espalhadas por todo o campus.
Figura 4 - Alguns cartazes da campanha #meunomeimporta com discentes trans*
56
Espaço vinculado a UFPE cuja programação é transmitida em sinal aberto através do canal 11.
88
�Figura 5 - Alguns Cartazes da Campanha com pessoas Cis de diferentes lugares
No lançamento da campanha, houve um incômodo por parte de algumas ativistas
trans* sobre a presença de pessoas cis nos cartazes usando a hastag #meunomeimporta.
Esse ponto é curioso e marca um embate contemporâneo presente nos contextos de
ativismo e organizações políticas trans*. A questão posta é se pessoas cisgêneras
possuem legitimidade para protagonizar temas relativos a experiências trans*.
Voltamos com essa questão a um complexo debate que envolve perspectivas
distintas ao redor de temas como identidade, lugar de fala, representação e
representatividade, autodenominação.
Entendendo a identidade como um paradoxo (SCOTT, 2005) pensar seus limites
é um desafio necessário. Sendo esta uma noção evocada para delimitar grupos como
iguais entre si e diferentes dos outros, possui ainda em nossos contextos um poder
organizador considerável. A problemática que complexifica o debate sobre identidades é
que se faz sempre necessária a demarcação de um dentro e de um fora.
Junto com a lógica identitária, a campanha gera em algumas pessoas certo
desconforto por trazer tanto a questão de representação quanto de lugar de fala.
A campanha ao usar gente trans* e gente cis evoca e atualiza a pergunta sobre
quem pode falar em pautas trans*. Não me cabe aqui responder essa questão, contudo
um importante complemento deve ser incorporado na pergunta inicial enquanto
denunciador de perspectivas. Trata-se de questionar se a busca é por falar sobre ou falar
com e ainda para pessoas trans*. O primeiro modelo (falar sobre) já é material
constitutivo de estudos de caso desde a constituição da medicina e da psiquiatria como
campos de estudo e intervenção. Desse modo, falar sobre pessoas trans* é uma postura
existente desde a fundação das próprias categorias psiquiátricas que descrevem o
fenômeno da transexualidade. (Não creio que Harry Benjamin escrevera seu tratado
direcionando suas escritas e “descobertas” às pessoas trans* que lhe eram objeto de
89
�estudo).
Falar com e para pessoas trans* desloca a possibilidade de diálogo para outros
campos e abre a possibilidade da criação conjunta de contextos democráticos. Contudo,
a contundente crítica feita a um detalhe da campanha desloca mesmo essa percepção. A
hastag #meunomeimporta não deveria ser usada nos cartazes de pessoas cis porque para
essas pessoas, seus nomes sempre importaram, ao passo em que o das pessoas trans* nos
cartazes da mesma campanha, são sempre deslegitimados em todos os espaços. É um
argumento que afirma de fato uma situação de desigualdade que parece não ter sido
levada em consideração na elaboração dos cartazes. Porém, a questão é um pouco mais
complexa que isso. Ao usar esse argumento no lançamento da campanha, a ativista
invoca nas entrelinhas perguntas que são fundamentais para pensarmos a organização
política ao redor da identidade. Um ponto que pode ser aqui levantado a partir dessa
questão é a diferenciação entre as categorias existências cis e trans*. Essa diferenciação
reflete na categoria da experiência como elemento constituinte das vidas (SCOTT, 1995)
ao passo em que pode-se também perguntar se experiência se configura como elemento
indispensável ao entendimento das questões específicas.
Recordo um texto no qual Sofia Favero (2016) reflete sobre o que para ela parece
ser um movimento atual por parte de alguns grupos de ativismo que pregam que
somente vozes trans* sejam acionadas para falar sobre temas trans*. Para ela, parece
haver um imaginário coletivo de o lugar de fala, legitimado pela experiência específica a
esse segmento, passa a configurar os próprios processos de identidade na medida em que
prende os debatessem caixinhas identitárias. Concordo em partes com o argumento de
Sofia e percebo que se a lógica identitária é perniciosa e segregadora, buscar redes de
alianças é um elemento estratégico. Porém, em se tratando de grupos silenciados (e
assassinados) por todo um sistema normativo, esse diálogo com pessoas trans* deve se
dar entendendo sempre a metáfora dos cadarços de Michelle Fine que já trouxe no
começo do capítulo (ADRIÃO, 2015).
Sobre os cartazes da campanha #meunomeimporta, é possível entender a questão
posta no lançamento deles. Mas, importante recordar que a intenção era dissolver o foco
que aponta somente as pessoas trans* como da ordem do exótico e tentar gerar uma
empatia na comunidade acadêmica ao retratar pessoas entre docentes, servidoras
administrativas, discentes de diferentes centros. Os cartazes espalhados em cada centro
eram, portanto, de pessoas desse centro específico.
Considero que na elaboração dos textos dos cartazes, a saída posta na última
90
�frase desloca o sentido negativo. No final da pequena apresentação, não se encontra a
frase meu nome importa (pois para as pessoas cis sabe-se que jurídica e socialmente há
uma importância já automaticamente atribuída ao nome legitimado em seus
documentos). A frase que aparece no fim dos cartazes é então “Eu sou fulana e me
importo com o nome social.” Um pequeno detalhe como esse, desloca um pouco os
sentidos ao apontar que não se trata de uma representação, nem de ocupar os locais de
fala de pessoas trans* e falar por. Mas trata-se da proposta de gerar empatia na
comunidade acadêmica através da identificação com as personagens que aparecem na
campanha falando que pensar e respeitar o nome social é importante.
Limites da pesquisa e da intervenção
Com a explanação das analíticas transversais, é possível voltar o olhar sobre os
processos que configuram um trabalho como pesquisa-intervenção. Os pressupostos
epistemológicos e as perspectivas ético-políticas se convertem em margens que
delimitam um curso para a ficção teórica que ora componho. Desse modo, o resgate dos
acontecimentos feito até aqui ajuda a refletir sobre a organização teórico metodológica
que apresento.
Podemos perceber que a história da psicologia é atravessada por algumas
palavras que se investem de polissemias. Pensar intervenção em relação com a
psicologia é certamente uma das encruzilhadas teóricas que bifurcam em distintas
perspectivas e epistemologias. A multiplicidade de significantes desse conceito aponta
para as variações encontradas no próprio campo da psicologia bem como suas disputas
internas sobre métodos, objetos e sujeitos. Uma perspectiva mais “tradicional” de
intervenção pode ser pensada em consonância com certo modelo de psicologia ainda
hoje vigente. Magda Dimenstein (2000) nos convida a perceber que o que ela chama de
cultura profissional da psicologia ainda é atravessada por um ideário individualista e
psicologizante. Como consequência, opera-se um descolamento do campo “psicológico”
dos contextos e atravessamentos sociais e a intervenção enquanto atuação psicológica
parte de alguma teoria transcendente e é totalmente entendida como uma ação sobre o
indivíduo. Nesse modelo, a atuação enquanto intervenção pode ser associada com a
manutenção de um status de normalidade, onde a psicologia refaz seu pacto com a
psiquiatria para manter sujeitos dóceis e produtivos.
Através de uma breve genealogia da psicologia, podemos encontrar efeitos desse
91
�modelo de intervenção em diferentes espaços de atuação como escolas, hospitais, setores
do sistema judiciário, entre outros. Pensando sobre essa perspectiva, recordo uma fala
contundente de Juliana Perucchi57 ao afirmar que “a psicologia fez um pacto com a
mediocridade em troca do seu estabelecimento enquanto ciência.” (2013). Longe de
seguir o dito popular e, como diz o ditado popular “jogar o bebê junto com a água do
banho”, percebo e chamo atenção para o fato de que a psicologia, tanto em teoria quanto
em possibilidades de práticas, pode ser pensada como uma caixa de ferramentas em um
sentido deleuziano58. Deste modo seu estabelecimento enquanto disciplina autônoma é
atrelado ao fato de que o conhecimento e a técnica produzidos por essa disciplina
produzem efeito no cotidiano das diferentes situações em que tal caixa de ferramenta
seja invocada. Advogo para o fato de que pensar intervenção em psicologia torna-se um
ato político, posto que o que entra em jogo é a disputa por projetos de hegemonia de
perspectiva que organizem a cultura profissional (DIMENSTEIN, 2000) ao redor de
determinadas concepções de sujeito e de sociedade.
Sendo um conceito polissêmico, o uso da noção de intervenção em psicologia
pode ter seu sentido atualizado quando se desvincula do ideário individualista
psicologizante. Nessa segunda perspectiva, podemos chegar numa necessária
conceituação de intervenção partindo do questionamento do nosso lugar na produção de
conhecimento e no modelo de teorização que desenvolvemos. Uma conversa entre
Deleuze e Foucault (FOUCAULT, 2012) empresta pistas para desenvolver esse trajeto.
Ao pensar sobre o lugar dos intelectuais na construção teórica, eles chegam ao ponto de
pensar os limites entre teoria e prática e concluem ser impossível desenvolver a teoria
sem o enredamento de uma prática. Porém para os dois autores, a prática não se
constitui como uma aplicação da teoria nem, de forma contrária, a prática seria uma
inspiração da teoria. O que segundo eles pode ser visto é uma rearticulação das relações
teoria-prática onde nenhuma das partes pode ser percebida como um processo totalitário.
Ambos podem ser vistos como indissociáveis, configurando esse processo como parcial
e fragmentário. (FOUCAULT, 2012). Na medida em que o intelectual se encontra
engajado em seu “campo” de estudo, reflexão teórica e prática política são facetas de um
mesmo elemento. Nesse contexto, o papel do intelectual seria combater as variadas
formas de poder onde ele se entranha - nas verdades, no discurso, nas ordens
57
Essa fala foi feita numa roda de conversas sobre a relação da psicologia com pessoas trans* organizada por nós aqui
na UFPE em 2013
58
Falo desse termo um pouco mais adiante.
92
�do saber. Sendo ferramenta de combate, a teoria poderia ser pensada como prática. Daí
que esses autores em diálogo invocam a noção de que a teoria é uma caixa de
ferramentas. É preciso que funcione, que sirva. (FOUCAULT, 2012).
Observando as proposições de Deleuze e Foucault com uma lente pós-colonial,
podemos resgatar a crítica de Spivak (2010) sobre o ponto nodal que pensa teoria e
representação. Para os dois autores franceses não existe mais representação, só ação,
considerado que quem fala e age é sempre uma multiplicidade, mesmo que seja só uma
pessoa. Spivak pede cautela com a recusa da ideia de representação na teoria, pois esse
movimento pode esconder um apagamento dos contextos históricos e geopolíticos, o que
de certo modo transcendentaliza a teoria.
Para pensar a relação entre teoria e intervenção a noção de participação se faz
também importante. Podemos encontrar em Paulo Freire59 apontamentos para elaborar
essa questão. Ao pensar sobre modelos de pesquisa acadêmica que toquem de alguma
forma na problemática que atravessa contextos sociais de vulnerabilidade, Paulo Freire
comenta que:
Se pelo contrário, a minha opção é libertadora, se a realidade se dá a
mim não como algo parado, imobilizado, posto aí, mas na relação
dinâmica entre objetividade e subjetividade, não posso reduzir os
grupos populares a meros objetos de pesquisa. Simplesmente não
posso conhecer a realidade de que participam a não ser com eles como
sujeitos também deste conhecimento. (FREIRE, 1986 p35)
Falas como essa provocam questionar a dissociação entre a pessoa que pesquisa
e o objeto a ser pesquisado. Vemos então um deslocamento que visa dar um outro
sentido aos lugares da pesquisa científica. O sujeito da pesquisa entendido como parte
do campo que irá fornecer as informações/dados necessários pode passar a ser entendido
como agente ativo na produção de conhecimento. O deslocamento operado pela
mudança na perspectiva converte-se numa crítica ao modelo de produção hierárquico e
nos convida a entender que quem melhor conhece o contexto de opressão é o sujeito que
experiência.
A crítica a um modelo de ciência que visa a neutralidade e a imparcialidade é um
importante elemento no conhecimento de perspectiva feminista pós-estrutural
(HARAWAY, 2005). Associado a isso, atentar para possíveis usos do conhecimento
59
A perspectiva de poder trabalhada na obra de Paulo Freire é alvo de críticas no debate contemporâneo em especial
nos apontamentos pós-estruturais. Contudo, sua obra é um elemento importante no debate sobre participação e
nas questões que posteriormente, sob influências também de outras fontes, puderam ser nomeadas como
pesquisa ação participativa crítica e como pesquisa-intervenção.
93
�hegemônico e das verdades advindas destes se torna uma proposta epistemológica capaz
de situar nosso fazer científico em projetos preocupados com justiça social (FINE et al,
2010).
A citação anterior de Paulo Freire aparece como uma potente provocação onde,
as formas de construção de conhecimento são postas em cheque, pois ele nos lembra da
impossibilidade de conhecer a realidade de outras pessoas sem a participação dessas
pessoas no processo. Participação foi uma palavra recorrente no decorrer dessa
dissertação. Fato que fora reforçado pelo contato do nosso grupo de pesquisa60 com as
pessoas que trabalham no the public science project61, na Universidade da Cidade de
Nova York (CUNY). De um dos encontros surge um manifesto publicado no livro do V
Jubra e assinado por Michelle Fine, Karla Galvão Adrião e Jaileila Menezes. O texto
elaborado por elas tendo como foco opções ético-epistemológicas na pesquisa com
juventudes marginalizadas foi chamado Manifesto sobre a Pesquisa Crítica e
Participativa da Juventude e traz que:
Em nossa pesquisa nos comprometemos com:
O brilho e a sabedoria daqueles que mais sofreram com as injustiças;
Aqueles que são sistematicamente marginalizados tem o direito de pesquisa; retomar a politica,
ciência pública e criar pesquisas para a luta social;
Procurar juntar pessoas radicalmente diferentes e reunir os nossos conhecimentos para construir uma
vasta pesquisa coletiva;
Juntas, Criamos pesquisas para:
Desafiar os equívocos coletivos sobre dinheiro, poder, sexo, orientação sexual, raça, deficiência e
quem ou não deve receber educação;
Documentar os circuitos de desapropriação e privilégio, utilizando quadros interseccionais que
reconhecem todas as formas como vivemos, participamos e transformamos o mundo.
Romper lógicas corporativas, heteronormatividade, supremacia branca e o pensamento elitista
Não descansaremos até:
Construir uma ciência pública, participativa e ativista além das fronteiras, ligadas a movimentos
sociais pela/para/sobre a juventude; e então devemos:
Expandir a imaginação radical política para o que deve ser, através de ação direta, relatos empíricos,
mídia social, teatro popular, e prometemos:
Gerar pesquisa crítica em nossas comunidades locais ao passo que criamos laços, além de fronteiras,
para ativar a motivação e nossa rede de contatos de pesquisas pelas comunidades.
(FINNE, 2014, p.381)
Este potente manifesto aponta para um entendimento da ciência como
60
Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana (Labeshu). Em especial as pessoas que trabalham
diretamente com Karla Galvão Adrião.
61
Fazendo sempre uma necessária autocrítica descolonial, o nosso contato com as pesquisadoras da CUNY se
fortalece quando Karla Galvão decide fazer pós-doutorado com Michelle Fine. O projeto para uma ciência
pública , termo que vem sendo desenvolvido por elas dentro da psicologia questiona a relação de para quem a
ciência é feita e, usando propostas teóricas de Paulo Freire, Martin Baró e Kurt Lewin elas desenvolvem
metodologias que coloquem a produção de conhecimento como um direito público especialmente direcionado a
grupos em situação de desigualdade. Para mais informações, ver: http://publicscienceproject.org/
94
�necessariamente implicada com a política ao mesmo tempo em que traz de formas muito
objetivas os posicionamentos ético-politicos que atravessam o nosso fazer científico.
Podendo inclusive ser ferramenta de luta usada por grupos em situação de desigualdade.
Nos nossos contextos, temos usado o termo pesquisa-intervenção para marcar um
posicionamento crítico sobre os efeitos da nossa pesquisa. Karla Galvão Adrião (2014)
sugere o uso do termo pesquisa-intervenção-pesquisa para marcar um trajeto onde a
pesquisa produz efeito no mundo ainda enquanto é feita, num continuo que marca a
continuidade e indissociação entre ação e pensamento.
Apesar da proposta do termo pesquisa-intervenção-pesquisa como meio de
afirmar uma continuidade (ADRIÃO, 2014), opto pelo uso de pesquisa-intervenção por
entender que essas duas palavras já conseguem abarcar em si os pressupostos desse
campo teórico. Uma pergunta possível nesse ponto é se essa dissertação pode ser
pensada como um processo de pesquisa-intervenção.
Da Ação e Seus Reflexos
Pensando a pesquisa-intervenção como um processo simultâneo de reflexão
sobre a ação em um ciclo que se retroalimenta, vemos diluir a fronteira entre pesquisa e
extensão universitária. Chamo aqui de extensão o modelo existente nas universidades
brasileiras que defende que a formação se dá a partir de um tripé – ensino, pesquisa e
extensão. Nesse contexto extensão é vista como o espaço de ligação entre a universidade
e a sociedade através de ações que “apliquem” o conhecimento produzido em projetos
direcionados a população. A separação entre campos de pesquisa e de extensão apontam
para os pressupostos que marcam esses campos como diferentes, sendo um o local da
ação e outro da reflexão.
Pesquisa ação participativa crítica é um termo que apresenta similaridades com a
noção de pesquisa-intervenção e pode ser pensada como pesquisa alinhada com
princípios de democracia e justiça social. Pesquisa, vista sob o viés participativo, tornase uma prática inclusiva determinada a produzir conhecimento como ferramenta de
mudança social (TORRE, 2014). Partindo desses elementos, é possível entender que a
pesquisa quando convertida em ferramenta acessada por grupos vulneráveis se vê
inevitavelmente envolta no contexto sócio histórico e político dos grupos a que pretende
acessar.
Recordo a citação de Paulo freire de que para entender os contextos de opressão
95
�a pesquisa necessariamente deveria englobar a participação dos grupos a que se
direciona, entendendo que o sujeito que vivencia possui um conhecimento sobre sua
própria vida que não deve ser desconsiderado em detrimento do conhecimento
acadêmico. Marisa Lopes da Rocha (2003) ao pensar sobre metodologias participativas
no contexto brasileiro defende que a pesquisa-intervenção pode ser pensada como uma
tendência das pesquisas participativas de investigar as coletividades em sua diversidade
qualitativa, assumindo intervenções de caráter sócioanalítico (ROCHA, 2003). Para ela,
a pesquisa-intervenção representa uma ruptura com os modelos tradicionais das políticas
positivistas de pesquisa. Tal autora traz que
A pesquisa afirma, assim, seu caráter desarticulador das práticas e dos
discursos instituídos, inclusive os produzidos como científicos, substituindose a fórmula “conhecer para transformar” por “transformar para conhecer”
(Coimbra, 1995). Podemos, então, destacar, para a formulação da pesquisaintervenção, referenciais importantes como uma certa concepção de sujeito e
de grupo, de autonomia e práticas de liberdade e a de ação transformadora.
(ROCHA, 2003. P. 67)
Essa citação convida a olhar para o campo desta pesquisa-intervenção, onde um
deslocamento fora operado. Se na composição de uma ficção teórica os passos iniciais
eram acompanhados de imprevisibilidade, analisando os acontecimentos agora a partir
de um distanciamento temporal pode-se levantar algumas questões. Para Marisa Lopes
Rocha, o deslocamento efetuado pela pesquisa-intervenção é a substituição do conhecer
para transformar pela proposta de transformar para conhecer. O deslocamento então é
entre as ordens em que aparecem os campos da ação e da reflexão teórica transformada
em conhecimento sobre o fenômeno.
Desvincular a noção de pesquisa-intervenção das concepções de intervenção
vinculadas a lógicas liberais e patologizantes é então um exercício importante enquanto
entendemos que a proposta é revestida, sobretudo de posicionamentos epistemológicos
que assumem a vinculação com ideais emancipatórios de conhecimento. A crítica a
velha torre de marfim da academia como um campo deslocado da realidade social é
feita.
Pensar pesquisa-intervenção em psicologia nos convida então a um
deslocamento e autocrítica do próprio campo da psicologia. Propondo alternativas
participativas que nos distanciem dos falaciosos ideais de neutralidade, a pesquisa pode
ser entendida como ferramenta a partir da qual ação não sobre, mas com grupos
subalternos produz efeito ainda enquanto é feita. Para Marisa Rocha, a pesquisa que visa
práticas de liberdade pode produzir ação transformadora no cotidiano. Desse modo,
96
�o cotidiano pode ser entendido como um tempo/espaço privilegiado para o exercício de
análise das micro e macropolíticas (ROCHA, 2003). Propiciar formas singulares de
participação que “estabeleçam o confronto de subjetividades, a intensificação das
relações de poder e a abertura de espaços polêmicos para o exercício da cidadania tornase hoje imperativo” (ROCHA, 2003. P.69).
Propor metodologias coletivas críticas desarticula o processo de hierarquização
ao passo em que estimula o exercício de práticas democráticas. Nessa perspectiva não
há algo a ser descoberto, revelado, o processo de pesquisa se dissocia de um modelo de
coleta de dados e se entende como um processo de criação conjunta dessas informações.
Esse ato criador e criativo, somado a proposições ético-políticas compartilhadas entre a
pessoa que pesquisa e o grupo participante, gera efeitos de transformação no cotidiano
que podemos enfim nomear como intervenção.
Do Campo que me Afeta e me é
Após o fechamento dos acontecimentos que marcam o campo, o processo de
distanciamento foi necessário para que eu pudesse elaborar reflexões sobre o acontecido.
Desse modo, alinho esse trabalho como de perspectiva etnográfica ao perceber a
dinâmica de aproximação e distanciamento. Percebo um paradoxo então. Se
anteriormente falei do processo de ação e reflexão sobre a ação, a temporalidade para
que ocorram esses elementos pode nos ser um indicativo. Em meio a um campo onde
minhas imersões se confundiam com meu cotidiano, a relação entre aproximação e
distanciamento foi um ponto de difícil manejo. Dessa forma, o fechamento coincidiu
com um processo de distanciamento inclusive geográfico, onde a ida ao Núcleo de
Pesquisas e Práticas em Psicologia, Políticas Públicas e Saúde (PPS) permitiu tecer
outros olhares.
A dificuldade posta é que o processo de distanciamento e de estranhamento se
fez difícil pelo fato de que o campo falava sobretudo da minha própria vida. Meus
interlocutores eram em grande maioria pessoas amigas que frequentavam minha casa em
momentos de lazer. A saída epistemológica que encontramos foi então recorrer a Gloria
Anzaldua e perceber que o desenvolvimento de uma consciência mestiza é um elemento
importante para os processos de objetividade62 desse trabalho. Ouso pensar que um
distanciamento mais completo me foi impossível, posto que todos os temas
62
Objetividade aqui entendida a partir do referencial de Donna Haraway (1995)
97
�tratados também eram questões postas a mim e a minhas corporeidades pelos sistemas
coletivos. Quando Anzaldua tece a percepção que seus lugares a interpelam todos
constantemente, sendo impossível assumir uma única identidade relacional (de negra,
lésbica, chicana etc), ela me empresta ferramentas crítico-analíticas para perceber
constantemente em mim essa mesma confusão de fronteiras. Tanto ao lidar com o grupo,
quanto com diferentes instâncias institucionais que aparecem direta ou indiretamente
nesse trabalho, minha escrita vai se enraizando em processos de vida.
Pensar sobre pesquisa-intervenção nesse contexto é um elemento que emerge a
partir de alguns fatos que em outras perspectivas de ciência seriam vistos como
limitadores. A saber:
1) O grupo de pessoas que se tornam minhas interlocutoras no processo de
constituição do campo podem inclusive ser definidas como minhas amigas.
2) No decorrer do processo de pesquisa, as ações de desigualdade sobre as quais
elaboramos propostas combativas, passam a também pesar sobre mim (como
o processo de modificação do nome nas instâncias institucionais ou a
famigerada consulta63 que patologiza minhas autoconstituições).
Este se torna um trabalho de margens porque nasce das inevitáveis fronteiras. A
proposta da pesquisa-intervenção, atrelada ao referencial epistemológico feminista pósestruturalista que trabalha com a noção de ciência corporificada são pressupostos éticoepistemológicos que possibilitam a construção desse trabalho enquanto discurso de
cientificidade. Anzaldua nomeia como um amasiamento, um encontro entre diferentes
lugares que possibilita processos de transculturação.
Soy un amasamiento, sou um ato de juntar e unir que não apenas produz uma
criatura tanto da luz como da escuridão, mas também uma criatura que
questiona as definições de luz e de escuro e dá-lhes novos significados64.
(ANZALDUA.1999 P.102-103)
A noção de consciência mestiza, no trabalho acadêmico se aproxima do mito do
ciborgue de Donna Haraway (2009). Onde hibridização e confusão de fronteiras são
movimentos inevitáveis às construções herdeiras de projetos sócio-culturais que
desestabilizam percepções identitárias.
Ao refletir sobre metodologias e propostas ético políticas, é importante marcar
63
Falo sobre ela no tópico em que discorro sobre o uso da categoria de cisgeneridade como conceito analítico.
Livre tradução de: soy un amasamento. I am an act of kneading, of uniting and joining that not only has
produced both a creature of darkness and a creature of ligth, but also a creature that questions the definitions of
ligth and dark and gives them newmeanings.
64
98
�que o distanciamento proposto pelo referencial etnográfico (OLIVEIRA, 1998) precisou
na minha experiência se literalizar num descolamento dos contextos e interlocuções.
Desse modo, em um campo que não só me afeta, mas compõe inteiramente meu
cotidiano, um fechamento se torna possível apenas com minha “saída” desse mesmo
cotidiano. Entendo ser esse um paradoxo posto que a saída dos lugares de fronteiras em
que me vi é desde sempre impossível. Porém, o acúmulo de acontecimentos registrados
como campo pode ter um corte objetivo com meu processo de mobilidade acadêmica.65
Após minha saída as reverberações da política de nome social para pessoas
trans* na UFPE continua a ocorrer em uma trama que culmina na criação de uma
diretoria LGBT vinculada diretamente ao gabinete do reitor e tendo Luciana Vieira
como diretora. Com meu retorno três meses depois, continuo acompanhando de muito
perto os acontecimentos na UFPE, porém, dada a limitação de um trabalho dissertativo,
opto por não trazer mais elementos ainda nessa escrita.
Nesse capítulo tive como objetivo pensar sobre as constituições da política de
nome social na UFPE. Para tal, foi necessário dividir a reflexão teórica em dois
momentos. Num primeiro, situar o contexto político como possível elemento de análise
e num segundo momento afunilar as questões na UFPE propiciou observar nuances que
uma política de nome social carrega ao mesmo tempo em que me convidou a refletir
sobre as composições de uma pesquisa-intervenção.
65
No processo de pós-graduação, a mobilidade acadêmica é uma proposta de trocas de experiências onde
passamos alguns meses em outro núcleo de pesquisas eu trabalhe com temáticas relativas ao nosso campo de
interesse.
99
�4. E depois de tanto verbo...
As considerações que aqui seguem não buscam um caráter definitivo, tampouco
se entendem como finais ou conclusivas. Entendo-as como apontamentos de um limite
temporal que marca esse trabalho como uma dissertação de mestrado com um prazo
delimitado de produção. Trago, portanto nas considerações tanto lugares que pude
chegar no desenvolvimento da análise quanto questões que me acompanharam durante
todo o processo, algumas das quais seguem em aberto mesmo depois do texto
dissertativo.
A construção de uma ficção teórica é inevitavelmente atravessada por encontros.
E assim também o meu foi. Pelo meio do caminho fui tecendo encontros com o tema,
com as pessoas que viriam a ser interlocutoras, com a teoria, e em alguns momentos,
encontros com minhas próprias imagens refletidas nos acontecimentos. Como
fechamento desse trabalho algumas questões podem ser postas.
No decorrer dos acontecimentos traduzidos nessas linhas, o estatuto da
experiência (SCOTT, 1995) foi um elemento presente de diversas formas. Tomando
então as devidas precauções, foi possível perceber o limítrofe apontado por Joan Scott
que separa a experiência como legitimadora do que é dito, e seu uso como elemento
capaz de contextualizar as cenas, dotando o campo teórico das contingências necessárias
ao processo de politização da escrita. Tomando os devidos cuidados, essa foi uma
dissertação escrita em primeira pessoa. Mas apesar da lógica de autoria que configura os
processos formativos das nossas pós-graduações, reconheço o que Clifford (1996)
nomeou como heteroglossia. Vozes diferentes interpelam e atravessam a minha voz a
todo o momento. Sejam vozes de autores, das pessoas interlocutoras, dos pares na
academia. Apesar de se afunilar num texto assinado com meu nome (e destaco aqui que
assinado com o nome que realmente importa para mim), as reflexões teórico-analíticas
são frutos de conversas com parte do “campo”, orientações, trocas proporcionadas pela
participação em Gt’s, leituras de blogs e mensagens de internet.
Na dinâmica de tradução que compõe o texto acadêmico, na medida em que
recordo Gayatri Spivak (2010) em sua reflexão sobre jogos epistêmicos que legitimam
formas específicas de falar sobre, me chega junto um trecho de um texto de Mia Couto
(2013), escritor Moçambicano, no qual ele comenta que as vozes ouvidas no caminho
podem por vezes se converter em convites ao exercício da escrita. Mais uma vez a
palavra paradoxo pode aqui ser invocada. Percebendo que são outras vozes que me
100
�convidam a ocupar o lugar da escrita, a preocupação com dois elementos permearam
toda a minha relação com o campo: 1º) o cuidado de não me colocar como representante
das pessoas trans* no decorrer dos acontecimentos desse trabalho, apesar de que em
alguns momentos (como na reunião de março de 2015, na reitoria) estar nesse lugar foi
inevitável; e 2º) nos momentos de escrita e análise, me angustiou a possibilidade de
reproduzir neste trabalho uma postura por vezes frequente em trabalhos apresentados
nos congressos sobre sexualidade e gênero país afora, que é a de focar todo o olhar nos
corpos e vivências trans*, muitas vezes deixando de lado os contextos sociais e políticos
que, inevitavelmente, atravessam todas as vivências. Minha preocupação era de estar
atenta ao fato de que, mesmo a escrita acadêmica pode reforçar estereótipos e reafirmar
as vidas trans* como “exóticas”, como distantes das realidades ‘normais’ e
‘higienizadas’ dessas pessoas autoras.
Desde a minha inserção no programa de pós-graduação, já me era certo que não
era de meu interesse fazer um trabalho sobre pessoas trans*. Ao conhecer (junto a Karla
Galvão) a proposta de pesquisa-intervenção, pude compreender que o meu objetivo e
desejo era finalmente fazer pesquisas junto de e para/com pessoas trans*. A substituição
dessas pequenas palavras pode parecer mero detalhe, mas na perspectiva em que me
situo, refletem profundos deslocamentos ético-epistemológicos que falam inclusive da
nossa relação com o tema estudado. Torna-se possível então pensar ferramentas que
desvinculem esse trabalho das lógicas que viviane v.(2014) nomeou como
Cissupremacistas. Mesmo na apresentação dos sujeitos políticos que apareceriam nesse
trabalho, esse incômodo se fez presente e me convidou a não descrever conceitualmente
a transgeneridade, posto que essa tarefa é lugar comum em diferentes níveis de trabalhos
acadêmicos. Tomando como referência autoras e autores trans* meu objetivo foi o de
refletir analiticamente sobre os lugares onde se instalam e de onde ‘emanam’ a norma
que nomeia e taxonomiza as vivências trans*. Lugares estes que o campo teórico com o
qual dialoguei denominam como o lugar da cisgeneridade.
O uso de alguns conceitos como cisgeneridade, trans*, despatologização, podem
situar essa dissertação em campos teóricos e políticos muito específicos. Contudo, uma
questão me acompanhou do início ao fim da escrita. Fortalecida por estar eu trabalhando
o tempo inteiro com perspectivas teóricas do feminismo pós-estruturalista, a pergunta
que me surgia era se eu poderia entender esse trabalho como de perspectiva
Transfeminista. Venho acompanhando o uso dessa palavra em contextos trans* que
definem, a grosso modo, transfeminismo como sendo feminismo interseccional aliado a
101
�causas trans*. Essa definição não me fora suficiente para me marcar como produzindo a
partir da perspectiva Transfeminista e algumas questões me surgiam. A saber: 1) o que
torna esse campo específico e o diferencia de outros campos do feminismo como o
feminismo pós-estruturalista; 2) o que legitima uma perspectiva como sendo
transfeminista sem cair na falácia identitária simplista de que é transfeminismo porque é
escrito por uma pessoa trans* e; 3) No diálogo com o campo político que circunda esse
termo, me pergunto o que significaria eu me colocar como produzindo também desde
dentro da perspectiva desse conceito.
Essas três questões que se abrem em várias outras me acompanharam durante
todo o percurso do mestrado e me convidaram a exercitar algumas reflexões. Primeiro
me perguntei sobre os pressupostos necessários para que uma perspectiva fosse
considerada Transfeminista. Tive acesso então ao livro organizado por Mirian Solá
(2013) com o título Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos, e mais
posteriormente ao livro organizado por Jacqueline de Jesus (2014) aqui no Brasil
chamado Transfeminismos Teoria e Prática. Sendo os dois únicos livros a que tive
acesso que se propõem a tratar especificamente desse tema, busquei perceber neles
(diretamente ou nas entrelinhas) pressupostos que unificassem as propostas ao redor do
mesmo conceito. Frustrei-me.
Em setembro de 2015 ocorreu em Salvador – BA o segundo seminário
internacional desfazendo gênero. Nele ocorreu um gt coordenado por viviane v, Hailey
Kaas e Jacqueline de Jesus se propondo a discutir o uso da cisgeneridade como
resistência epistêmica. Meu interesse em ir para o evento fora totalmente mobilizado por
esse gt e pelo fato de que essas três pessoas estão entre as mais entusiastas do uso do
termo transfeminismo no Brasil. Levei minhas questões para o espaço de diálogo com as
três e novamente a resposta que obtive é que se tratava ainda de um termo em
construção, o que fazia de seus contornos campos movediços. Outra dificuldade posta
era que no Brasil havia poucas pessoas trans* nos espaços de produção acadêmica, o que
tornava mais difícil construir teoria a partir da experiência trans*. Saí desse espaço com
mais incômodos do que quando entrei e, já em casa, sintetizei o que para mim seriam
então pressupostos de uma perspectiva Transfeminista menos encontrados em outras
correntes do feminismo. A saber:
•
•
Defesa radical da proposta de despatologização das trans identidades.
Uso da cisgeneridade como conceito analítico
Aliado a esses dois pontos, invocar as lentes da interseccionalidade também é
102
�um forte elemento. Percebo então que eu poderia marcar politicamente esse trabalho
como de perspectiva transfeminsta, inserindo-o nas nascentes redes no nosso país.
Porém, para esse momento, entendo que os jogos relacionais (e identitários) de um
campo que se mistura com a própria experiência da transgeneridade colocam-me
questões em nível pessoal que, para agora eu preferi não responder. Assim sendo, adio
um pouco meus diálogos com o campo Transfeminista brasileiro para os momentos pósdissertação e por hora, me abstenho da afirmação política (e dos lugares de fala que ela
invoca) de ser ou não ser Transfeminista. Trago essa questão nas considerações por
entender que ela acompanha o debate de toda a dissertação bem como atravessa algumas
das teorias com as quais busquei dialogar.
No trajeto ficcional dessa dissertação, políticas de nome social foram tomando
forma como necessário elemento de análise. O primeiro capítulo teórico analítico
buscou então perceber como se configuram as dinâmicas culturais que estabilizam
sujeitos ao redor de um nome, fazendo com que o “nome social” soe por vezes como
algo falso, ou de menor valor. Nesse capítulo foi trabalhado o conceito de inclusãoexcludente para pensar estratégias de captura de algumas pautas que mantêm em si os
processos de exclusão. A pergunta é se nome social em alguns de seus manejos
institucionais pode se converter numa estratégia de inclusão-excludente e, como
resultado da análise suspeita-se que, em algumas situações, isso de fato ocorra. Percebo
então que, na medida em que as autodeterminações legitimam a existência das pessoas
trans*, elas se configuram como um direito que entra em conflito com o modelo médicojurídico que recorre ao nome como uma das instâncias de estabilização da interpelação
performática (PRECIADO, 2002). Cabe, pois atentar para as resistências e capturas
normativas que os aparentemente simples processos de nomeação podem ter em nossos
contextos institucionais.
O segundo capítulo teórico-analítico buscou perceber a construção de uma
política institucional como objeto de pesquisa e, atentou para questões que tangenciam a
construção e implementação da política de nome social na UFPE. E buscou ainda
refletir sobre usos político-metodológicos da pesquisa-intervenção em psicologia,
considerando a relação dialética entre ação e construção de conhecimento (ROCHA,
2003).
Voltando o olhar para a UFPE, uma problemática de pesquisa foi posta.
Enquanto a necessidade de fomentar espaços de discussão sobre nome social era
crescente, surgia a necessidade de pensar métodos de atuação na pesquisa que
103
�permitissem diluir em alguns níveis as rígidas distinções hierárquicas entre a pessoa que
pesquisa e as que compõem o campo. A proposta de pesquisa-intervenção surge então
num momento preciso onde os acontecimentos que começavam a se organizar pediam,
aos poucos, posicionamentos mais diretos.
Uma dificuldade sentida foi na dinâmica entre aproximação e distanciamento.
Tomando como base uma perspectiva de inspiração etnográfica, a relação com o campo
se viu nesse trabalho com limites borrados, posto que meu objeto de estudos com seus
interlocutores e os habitantes do “universo trans*” eram e são uma parte de meu próprio
cotidiano. Recordo uma fala de Luis Felipe Rios (2014) na disciplina de Epistemologia
do Conhecimento em Psicologia onde, ao comentar sobre momentos de indissociação
entre a pessoa que pesquisa e o campo, ele responde que acredita que “quando o campo
diz respeito a nossa vida, tudo pode se converter em campo”. (RIOS, 2014). Tal fala,
junto com os constantes apontamentos nos momentos de orientação foram me situando
e, no diálogo com a orientadora, foi possível estabelecer limites temporais para os
acontecimentos que aqui aparecem. A necessidade desse corte temporal vem do fato de
que antes do espaço delimitado já havia outros acontecimentos relativos a esse tema e
depois do fim do “campo” continuei acompanhando outras movimentações que
poderiam ter entrado nesse trabalho. Porém há de se estabelecer um limite, ainda que
ficcional.
O encontro com a perspectiva teórica feminista convidou-me a situar meu
conhecimento e reconhecer a parcialidade como elemento presente na construção
teórica. Fato que alivia o peso posto por ideais de ciência neutra que desconsiderariam
as propostas de uma pesquisa-intervenção, por entendê-la como contaminada por
proposições ideológicas. A perspectiva de objetividade feminista já pede para
reconhecer que essa ficção teórica é inevitavelmente atravessada por pressupostos
ideológicos e pontos de vista que também falam da minha própria percepção política dos
fatos. Assim sendo, não é o fato de o campo me ser constantemente próximo que
deslegitima as possibilidades de objetividade deste trabalho. Nesta perspectiva,
objetividade é sobretudo nitidez de posicionamento.
Ver na pesquisa acadêmica um lugar possível para lidar com proposições de
justiça social ao mesmo tempo em que se faz uma reflexão sobre processos
participativos na construção do objeto e do conhecimento é uma potente proposta da
pesquisa-intervenção. Refletir através da ação com e não sobre grupos em situação de
desigualdade foi a principal proposta do meu caminho no decorrer do mestrado em
104
�psicologia. Esse processo possibilita amadurecimento teórico e político além de
convidar a refletir com profundidades crescentes sobre o lugar que a academia ocupa
diante dos difíceis dilemas da sociedade brasileira. Perceber o lugar da psicologia frente
a situações de desigualdade também é algo que se fortalece com o processo de mestrado.
Ao fim, não percebo essa dissertação como perfeita e finalizada, mas entendo-a como
materialização de um campo processual ainda em aberto, cujos elementos apontados
continuam reverberando no campo e em mim.
Algumas questões aqui apresentadas poderiam e podem se investir de mais
densidade teórica ao passo em que outras podem capilarizar em subtemas de reflexão.
Mas, por ora, concluo essa dissertação com o entendimento de que pensar metodologias
que se preocupem em inserir sujeitos subalternos nos processos de construção de
conhecimento pode ser uma proposta política potente. Participação na construção
coletiva da dialética ação-reflexão nos convida a revisitar a pergunta de Spivak (2010)
de se pode o subalterno falar. A atualização dessa pergunta por meio da pesquisaintervenção e do uso de metodologias participativas passa a ser sobre quais
deslocamentos os jogos de linguagem devem ser feitos na tentativa de deslocar as
violências epistêmicas que marcam lugares como centrais ou periféricos e legitimam
formas específicas de “falar” para que o estatuto de verdade seja creditado. Nos ritos
epistêmicos, dadas todas as vulnerabilidades sociais a que muitas vezes são expostas,
pessoas trans* em suma são privadas do acesso aos jogos discursivos da academia.
Recordo uma recente questão que movimentou o debate em certo campo queer
brasileiro. Em um determinado seminário sobre teoria queer, quando questionada sobre
a ausência de pessoas trans* num grande espaço que se propunha a discutir sobre
políticas de sexualidade e gênero com enfoque queer a pessoa teórica que facilitava a
mesa responde que não há pessoas trans* naquele espaço porque pessoas trans* não
possuem vocabulário para estar naquele espaço. Trago esse recorte por, concordando
com minha rede de convívio, perceber que ele aponta para perspectivas que mais uma
vez coadunam com representações cristalizadas da experiência trans* entendidas sempre
como campo de estudo, nunca como possíveis pares no diálogo teórico.
Enquanto ainda são poucas as chances de encontramos pessoas trans* nos
espaços formais, nos programas policiais televisionados há sempre uma notícia a
ridicularizar e expor especialmente travestis profissionais do sexo. Apesar da nossa luta
constante para que as pessoas tenham rotas de vida mais possíveis, podemos pensar
empiricamente que a grande maioria das pessoas trans* seguem sem acesso a direitos
105
�básicos como saúde e educação enquanto tentam lidar com uma pesada carga de
violência normativa que marca os corpos e estéticas não cisgêneras como da ordem do
erro, do pecado e do que não deve existir.
Segundo dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na
América Latina a expectativa média de vida das pessoas trans* é de 35 anos66. Trata-se
segundo esse órgão de um verdadeiro genocídio onde os dados embora subnotificados,
apontam para o Brasil como líder no ranking anual de assassinatos. O relatório pede
intervenções governamentais urgentes por entender ser esta uma situação de calamidade
invisibilizada.
Como título dessas considerações, invoquei uma composição de Karina Buhr,
cantora recifense que, com o trecho de uma música, empresta-me palavras para sintetizar
meu estado de perplexidade constante diante de violências naturalizadas na mídia, na
suposta banalidade de comentários de internet, nas (im)posições de familiares. Essa
perplexidade acorda em mim a urgência de pensar um continuo entre a criação de
teorizações, metodologias e políticas públicas. Porém, apesar de perceber esforços
crescentes por parte de pesquisadoras/es e ativistas em todo o país, ao fim dessa
dissertação infelizmente sigo constatando junto com a música que, mesmo depois de
tanto verbo, as pessoas trans* seguem morrendo.67
Este trabalho buscou ter o nome social como tema central. Tal escolha torna-se
emblemática quando através dos capítulos teórico-analíticos, podemos perceber que o
nome converte-se em um elemento de materialização das vivências de transição onde,
sua negação ou reconhecimento coletivo fala do estatuto de veracidade concedida às
vidas trans*. Como objetivo buscou-se analisar a relação de pessoas trans* com a
instituição universitária, entendendo ser este um lugar possível de fomentar
66
A matéria divulgada no site da Organização dos Estados Americanos aponta que: A Comissão
Interamericana manifesta particularmente preocupação com a idade jovem das vítimas trans. De acordo com os
dados coletados, 80% das mulheres trans assasinadas tinham 35 anos de idade, ou menos. A violência contra as
pessoas trans, em particular as mulheres, é o resultado de uma combinação de fatores: a exclusão, a
discriminação e a violência na família, na escola e na sociedade em geral; a falta de reconhecimento de sua
identidade de gênero; envolvimento em ocupações que as colocam em grupos de risco mais elevado de violência;
e a alta criminalização. As mulheres trans e outras pessoas que distoam das regras convencionais de gênero são
constantemente visadas por policiais e agentes de segurança pública, que, baseados em seus preconceitos,
tendem a considerá-las criminosas, além de serem, com frequência, discriminadas no sistema de justiça. Ver
em: http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2014/153.asp
67
A referência feita é à música A Pessoa Morre, que traz o trecho: A pessoa morre depois de tanto verbo/
A pessoa morre de fome/ Depois de tanto verbo a pessoa morre/ A pessoa morre/ A pessoa morre.
106
�possibilidades nas trajetórias educacionais e profissionais. Universidade, portanto, pode
ser entendida como parte de um projeto emancipatório onde o acesso e a permanência
de grupos em situação de desigualdade tona-se um projeto político.
Reconhecimento e respeito às autodenominações é tanto a porta de entrada
quanto o primeiro dos pontos que desloca a rede de violências e apagamentos
institucionais e tornam as universidades acessíveis às pessoas trans*. Refletir
teoricamente sobre na medida em que se produz ação prática com/para pessoas trans*
foi o horizonte buscado nesse trabalho.
Por fim, considero que as proposições da pesquisa-intervenção, posta como
ferramenta na construção de justiça social por grupos vulneráveis é ainda um campo a
ser investido academicamente. Do mesmo modo, pensar políticas de acesso e proteção
de pessoas trans* se faz urgente num contexto político de conservadorismo crescente.
Micropolíticas convertem-se em estratégias possíveis na medida em que recordo o
trecho do livro Morte e Vida Severina (2000) já citado na introdução onde seu José
responde a Severino que “a vida de cada dia/cada dia hei de comprá-la. (...) não é que
espere comprar/ em grossas tais partidas/mas o que compro a retalho/é, de qualquer
forma, vida.”. Esta dissertação buscou analisar como na UFPE a costura de um pequeno
retalho de vida se fez possível com a implementação da portaria de nome social. Para
um futuro próximo que já se presentifica, seguir tentando costurar outras tramas de vida
possível, se faz necessário.
107
�Referências
ADRIÃO, Karla Galvão. Perspectivas feministas na interface com o processo de
pesquisa-Intervenção-pesquisa com grupos no campo Psi. labrys, études
féministes/estudos feministas - julho/dezembro 2014
Feminismo, Psicologia, e Justiça social: um encontro possível? Uma
entrevista com Michelle Fine. Psicologia & Sociedade, 27(3), 479-486. 2015
AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção: homo sacer, II, I. São Paulo: Boitempo,
2004.
. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2007.
ALMEIDA, Guilherme. ‘Homens Trans’: Novos Matizes Na Aquarela Das
Masculinidades?. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 20, n. 2, p. 513, ago. 2012.
AMARAL, Marília dos Santos. Essa Boneca Tem Manual: práticas de si, discursos e
legitimidades na experiência de travestis iniciantes. 2012. Dissertação (Mestrado).
Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina,
2012.
ANZALDÚA, Gloria. Borderlands/La Frontera: The new mestiza. San Francisco,
Califórnia: Aunt Lute Books, 1987.
2005. La conciencia de la mestiza-Rumo a uma nova consciencia.
Revista Estudos Feministas, 13(3), 704-719.
Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro
mundo. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 229, jan. 2000.
APPADURAI, A. (2006). The right to research. In Globalisation, Societies and
Education, 4(2), 167-177.
ARÁN, Márcia. A transexualidade ea gramática normativa do sistema sexogênero. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, v. 9, n. 1, p. 49-63, 2006.
AUSTIN, J.L. Quando dizer é fazer. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.
BARBOSA, Bruno Cesar. 2010. Nomes e Diferenças: uma etnografia dos usos das
categorias travesti e transexual. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social,
USP.
BENEDETTI, Marcos Renato. Toda Feita: o corpo e o gênero das travestis. Rio de
Janeiro: Garamond, 2005.
BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência
transexual. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
108
�Brasil. Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009: Dispõe sobre os direitos e deveres
dos usuários da saúde. Brasília, 2009. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html>.
BUTLER, Judith. Lenguaje, poder e identidad, Síntesis, Madrid, 1997.
BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. in: Louro,
Guacira L. (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 2000.
Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
. O parentesco é sempre tido como heterossexual? Cadernos Pagu, n.21, p.219260, 2003.
Regulaciones de Género. In Revista la Ventana, n. 23, Universidade Del
México,
2005.
BUTLER, Judith; LACLAU, Ernesto; ZIZEK, Slavoj. Contingencia, Hegemonía,
universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda. Fondo de Cultura
Económica de Argentina: Buenos Aires, 2000.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1998. O Trabalho do Antropólogo. Brasília/ São
Paulo: Paralelo Quinze/Editora da Unesp. 220 pp.
CARVALHO, mario felipe de lima. "que mulher é essa?” Identidade, política e
saúde no movimento de travestis e transexuais. 2011 Dissertação (Mestrado).
Programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. 2011.
CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault – Um percurso pelos seus temas,
conceitos e autores. Belo Horizonte: Autêntica Ed., 2009.
COLLING, Leandro. Que os outros sejam o normal – tensões entre o movimento
LGBT e ativismo queer. Salvador: EDUFBA, 2015.
COSTA, Cícera Glaudiane Holanda (2013). Travestilidades: incursões sobre
envelhecimento a partir das trajetórias de vida de travestis da cidade do Recife.
Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco.
CLIFFORD, James. Sobre a autoridade etnográfica. In A experiência etnográfica –
antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, pp. 17-62.
1998
CORDEIRO, Desiree Monteiro. Transtorno De Identidade Sexual Em Adultos E
Justiça: Laudo Psicológico Para Mudança De Prenome . 2012. Mestrado
(Dissertação)Programa de pós-graduação Em Psiquiatria. Universidade De São Paulo.
2012
109
�CROSS, K. A Social Symphony: The Four Movements of Transphobia in Theory.
2010. Tradução para o português disponível em: http://transfeminismo.com/umasinfonia-social-os-quatro-movimentos-datransfobia-na-teoria-parte-i/. Disponível em:
http://quinnae.com/2010/10/29/a-tireless-waltz-the-four-movements-of-transphobia-intheory/>.
DANILIAUSKAS, Marcelo. Relações De Gênero, Diversidade Sexual E Políticas
Públicas De Educação: Uma Análise Do Programa Brasil Sem Homofobia. 2011.
Mestrado (Dissertação) Programa de pós-graduação em Educação. Universidade De São
Paulo. 2011.
DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. O Anti-Édipo. Rio de Janeiro: Editora 34, 2004.
DIMENSTEIN, Magda. A cultura profissional do psicólogo e o ideário individualista:
implicações para a prática no campo da assistência pública à saúde. In Estudos de
Psicologia 5(1), 95-121. 2000.
KHALIU, Marisa. Teorias e alegorias da interpretação: no theatrum de Michel Foucault.
In:
Foucault e os domínios da linguagem: discurso, poder, subjetividade. Vanice
Sargentini, Pedro Navarro-Barbosa. (orgs) - São Carlos : Claraluz, 2004.
FAVERO, Sofia. Pode o Cisgênero Falar?. 2016. Disponível em
http://blogueirasfeministas.com/2016/02/pode-o-cisgenero-falar/. Acessado em 24 de
fev 2016.
FINE, Michelle; Weis, Lois; Weseen, Susan & Wong, Loonmun (2006). “Para quem?”
Pesquisa qualitative, representações e responsabilidades sociais. In: Norman Denzin
&Yvonna Lincoln (Orgs.), O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e
abordagens (Trad. Sandra Regina Netz, pp. 115- 140). Porto Alegre: Artmed.
FINE, Michelle; FOX, Madeline. A Prática da Liberdade: Pesquisa de Ação
Participativa da Juventude para a Justiça na Educação. In Territórios Interculturais da
Juventude. ARAÚJO, Jaileila; COSTA, Mônica Rodrigues; ARAÚJO, Tatiana Cristina
(orgs). Recife: Ed. Universitária da UFPE, pp365-382. 2013.
FLICK. Uwe. Uma Introdução à Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004.
FOUCAULT, Michael. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro:
Graal. 1988.
A Ordem do Discurso – Aula inaugural no College de France.
Pronunciada em 2 de dezembro de 1970. São Paulo. Ed. Loyola: 1996.
A Verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora,
2002.
Os Anormais: Curso no Collège de France (1974/1975). São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes. 2010
110
�Microfísica do Poder. São Paulo: Graal, 2012.
FRANÇA, Isadora Lins. Cercas e pontes. O movimento GLBT e o mercado GLS na
cidade de São Paulo. Dissertação de mestrado, Antropologia Social, USP, 2006a.
. “Cada macaco no seu galho?”: arranjos de poder, políticas identitárias e
segmentação de mercado no movimento homossexual. Revista Brasileira de Ciências
Sociais (21:60), São Paulo, ANPOCS, 2006b, pp.103-115.
FRASER, Nancy. Políticas feministas na era do reconhecimento: uma abordagem
bidimensional da justiça de gênero. In: Cristina Bruschini e Sandra Unbehaum (orgs)
Gênero, democracia e sociedade brasileira. São Paulo: FCC e Ed 34, 2002, ps. 59- 78.
Igualdades, Identidades e Justiça Social. 2012. Disponível em
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1199 Acessado em 23 de abril de 2015.
FREIRE, Paulo. Criando Métodos de Pesquisa Alternativa: aprendendo a fazê-la melhor
através da ação. In Pesquisa Participante. BRANDÃO, Carlos. (org). Sõ Paulo:
Editora Brasiliense. 1986.
HARAWAY, Donna. Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o
privilégio da perspectiva parcial. In: Cadernos Pagu. Núcleo de Estudos de Gênero/
UNICAMP. São Paulo, 1995.
Gênero para um dicionário marxista. Cadernos pagu, v. 22, p. 201-246,
2004.
Antropologia do Ciborgue. São Paulo: Editora Autêntica, 2009
HEILBORN, Maria Luiza; ARAÚJO, Leila; BARRETO, Andreia (Orgs.). Políticas
públicas: conceitos, objetivos e práticas de participação social. HEILBORN, Maria
Luiza; ARAÚJO, Leila; BARRETO, Andreia (Orgs.). Gestão de Políticas Públicas em
Gênero e Raça | GPP – GeR: módulo I. Rio de Janeiro : CEPESC; Brasília : Secretaria
de
Políticas
para
as
Mulheres,
2010.
Disponivel
em:
http://www.amde.ufop.br/arquivos/biblioteca/livrosGPP/Modulo1.pdf . Acesso em: 27
de agosto de 2015.
HINE, Christine. Virtual Ethnography. Londres: SAGE Publications, 2000.
JESUS, J. G. d. Transfeminismo: Teorias e práticas. Rio de Janeiro: Metanoia, 2014.
KAAS,
Hailey.
Tornar-se
Cisgênero.
2014,
disponível
http://transfeminismo.com/tornar-se-cisgenero/. Acessado em 5 Jul 2015.
em:
KICH, Francis Deon. Singularidades Em Narrativas De Transexuais: Entre A
Performance E A Norma. 2011. Mestrado (Dissertação) Programa de pós-graduação
em Psicologia Social. Fundação Universidade Federal De Sergipe. 2011
111
�KILOMBA, G. Plantation Memories. Episodes of Everyday Racism. Münster:
KRISTEVA, Julia. Sobre la abyección. In.: Poderes de la Pervesión: ensayo sobre
Louis-Ferdinand Céline. Mexico, Siglo Veintiuno, 1989
LACLAU. Ernesto. Os novos movimentos sociais e a pluralidade do social. Revista
CEDLA (Latin american Studies) n° 29, São Paulo, 1983..
. La impossibilidad de la sociedad. In: Nuevas reflexiones
revolución de nuestro tiempo. 2ª ed. Buenos Aires: Nueva Visión;2000;
sobre
la
LACLAU, Ernesto; Butler, Judith & Zizek, Slavoj. (2000), Contingency, hegemony,
universality: contemporary dialogues on the left. London: Verso.
LACLAU, Ernesto & MOUFFE, Chantal. Hegemonia y estrategia socialista. Hacia
uma radicalizacion de la democracia. México: fondo de cultura económica, 1985,
246p.
LIMA, Fátima. É possível um Estado* que abarque a multidão queer? Breves
considerações sobre a política sexual na biopolítica contemporânea. Revista
Periódicus,
2014.
Disponível
em:
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/10155. Acesso
em: 7 Jul. 2014.
LOURO, Guacira L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica. 2000
MARCUSCHI, Luís Antônio. A Propósito da Metáfora. In Rev. Est. Ling., Belo
Horizonte, v.9, n.1, p.71-89, jan./jun. 2000
MISSÉ, Miquel e COOL-PLANAS, Gerard. (orgs.) El género desordenado: Críticas
em torno a la patologizacion de la transexualidad. Barcelona-Madrid, Egales, 2010.
MOUFFE, Chantal. Democracia, cidadania e a questão do pluralismo. In Política e
Sociedade nª3. Outubro de 2003, pp 11-26.
PELÚCIO, Larissa. Subalterno quem, cara pálida? Apontamentos às margens sobre
pós-colonialismos, feminismos e estudos queer. In Contemporânea v. 2, n. 2 p. 395418 Jul.–Dez. 2012
PEREDO, Andre Pereira. Nome Social:Uma Crítica Pós-Identitária Da
Origem.2011. Mestrado (Dissertação) Programa de pós-graduação em Psicologia.
Universidade Católica De Brasília. 2011.
PERUCCHI, Juliana. Fala proferida no evento Visibilidade e Cidadania Trans em fev de
2013.
PINO, Nádia Perez. A teoria queer e os intersex: experiências invisíveis de corpos desfeitos. Cadernos Pagu 28 (2007): 149-174.
112
�PISCITELLI, Adriana. Comentário. Cadernos Pagu (21) 2003.
PRATT, Mary Louise. Os Olhos do Império. Relatos de viagem e transculturação.
Bauru, EDUSC, 1999.
PRECIADO, B. Manifiesto contra-sexual: prácticas subversivas de identidad
sexual. Barcelona: Anagrama, 2002.
Testo Yonqui. Madrid: Espasa, 2008.
Transfeminismos y micropoliticas del Género en la era
Farmacopornográfica. Madrid. Artecontexto, nº21. 2009
REDE INTERNACIONAL PELA DESPATOLOGIZAÇÃO TRANS. Manifesto. 2012.
Disponivel em http://www.stp2012.info/old/pt/manifesto. Acessado em set 2014.
RIOS, Luis Felipe. Aula Proferida no Programa de Pós-graduação em Psicologia
CFCH/UFPE no primeiro semestre de 2014 na Disciplina Epistemologia do
Conhecimento em Psicologia.
ROCHA, Marisa Lopes. Pesquisa-Intervenção e a Produção de Novas Análises. In
Psicologia Ciência E Profissão, 23 (4), 64-73. 2003.
ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental – Transformações Contemporâneas do
Desejo. Editora Sulina. São Paulo. 2006.
ROSE, Nikolas. A política da própria vida: biomedicina, poder e subjetividade no
século XXI. São Paulo, Paulus. 2013.
RUBIN, Gayle. O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política” do sexo.
Recife: SOS Corpo. 1993.
SANTOS, Dayana Bruneto. Cartografias da Transexualidade: A Experiência
Escolar e Outras Tramas. 2010. 210f. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná. 2010.
SANTOS, Joseylson Fagner dos. Femininos De Montar: Uma Etnografia Sobre
Experiências De Gênero Entre Drag Queens. 2012 Mestrado (Dissertação) Programa
de pós-graduação em Antropologia. Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte.
2012
SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação &
Realidade. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995
SCOTT, Joan. W., & MALUF, Marina. (1998). A invisibilidade da experiência. Projeto
História. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História. e-ISSN 21762767; ISSN 0102-4442, 16.
SCOTT, Joan. O enigma da igualdade. In: Revista de Estudos Feministas.
Florianópolis:
113
�UFSC, vol. 13, n. 1, 2005, ps. 11-30.
SCHULMAN. Sarah. Homofobia familiar:
reconhecimento.
Revista Bagoas. Natal. n. 5, 2010. p. 67-78.
uma
experiência
em
busca
de
SOLÁ, Mirian; (Ed.). Transfeminismos: Epistemes, fricciones y flujos. Tafalla:
Txalaparta, 2013.
SOUZA, Heloisa Aparecida de. Os desafios do trabalho na vida cotidiana de
mulheres transexuais. 2012. Mestrado (Dissertação) Programa de pós-graduação em
Psicologia. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 2012.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte, Editora da
UFMG, 2010.
STONE, Sandy. The Empire Strikes Back: A posttranssexual manifesto. 1987.
Disponível em: <http://sandystone.com/empire-strikes-back.pdf>.
TORRE, Maria Elena. Participatory Action Research and Critical Race Theory: Fueling
Spaces for Nos-otras to Research. in Urban Rev 41:106–120. 2009
Participatory Action Research. In Encyclopedia of Critical
Psychology. Chapter No: 211. 2014.
TORRES, Daniela Barros & VIEIRA, Luciana Fontes. As Travestis na escola: entre nós
e estratégias de resistência. Quaderns de Psicologia | 2015, Vol. 17, No 3, 45-58
TORRES, Marco Antonio. A Emergência De Professoras Travestis E Transexuais Na
Escola: Heteronormatividade E Direitos Nas Figurações Sociais Contemporâneas.
2012. Doutorado (Tese) Programa de Pós-graduação em Psicologia. Universidade
Federal De Minas Gerais. 2012.
V., Viviane. Algo Cheira Mal Nos Trópicos, Ou: Ciscos Em Sapatos Trans*. 2013.
Disponível em: <http://transfeminismo.com/algo-cheira-mal-nos-tropicos-parte-i/>.
Beijos não bastam: breve reflexão sobre, e para, as travestis. 2013.
Disponível em: <http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2013/05/14/beijos-naobastam-breve-reflexao-sobre-e-para-as-travestis/>.
Os lucros da transfobia entram pela porta dos fundos. Blog Cultura e
Sexualidade
(iBahia):
[s.n.],
2013.
Disponível
em:
<http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2013/08/06/os-lucros-da-transfobiaentram-pela-porta-dos-fundos>.
Por
Visibilidades
Trans*
Multiplicadas,
Complexificadas,
Descolonizadas. 2013. Esta postagem fez parte da blogagem coletiva da Semana da
Visibilidade Trans de 2013. Disponível em: <http://transfeminismo.com/porvisibilidades-trans-multiplicadas-complexificadas-descolonizadas>.
114
�É a natureza quem decide? Reflexões trans* sobre gênero, corpo, e (ab?)uso
de substâncias. In: JESUS, J. G. d. (Ed.). Transfeminismo: Teorias e práticas. Rio de
Janeiro: Metanoia, 2014. p. 19 – 41.
Memórias trans intersecionais contra abismos cissexistas. 2014.
Disponível
em:
<http://transfeminismo.com/memorias-trans-intersecionais-contraabismos-cissexistas/>.
O que vejo nas realidades e lutas trans*. 2014. Disponível em: <http:
//transfeminismo.com/o-que-vejo-nas-realidades-e-lutas-trans>.
Por traições contra o cistema. Salvador: [s.n.], 2014. Disponível em: <http:
//www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2014/03/17/por-traicoes-contra-o-cistema/>.
VALÊNCIA Sayak. Capitalismo Gore. Madrid. Editora Melusina. 2010
VELHO, Gilberto. Observando o Familiar. In: NUNES, Edson de Oliveira – A Aventura
Sociológica, Rio de Janeiro, Zahar, 1978.
115
�Anexos
Anexo 1 – Primeira Portaria Normativa da UFPE
116
�Anexo 2 – Segunda Portaria Normativa da UFPE.
PORTARIA NORMATIVA Nº 03, DE 23 DE MARÇO DE 2015.
Ementa: Regulamenta a política de utilização do nome social para
pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e
intersexual.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das suas
atribuições conferidas pelo art. 33 do Estatuto da UFPE e,
CONSIDERANDO o que determinam o art. 3º, inciso IV, e o caput do art. 5º e seu inciso XLI
da Constituição Federal de 1988, que dispõem que todos são iguais perante a lei, sem distinção
ou discriminação de qualquer natureza;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 205 e 206, inciso I, da Constituição Federal de 1988,
que garantem a educação como direito de todos, em igualdade de condições de acesso e
permanência;
CONSIDERADO o que determina o art. 3º, inciso IV, da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (LDB), que estabelece que o ensino será ministrado com respeito à liberdade e apreço à
tolerância;
CONSIDERANDO os Princípios de Yogyakarta sobre o direito humano à educação, que
asseguram proteção adequada a estudantes, funcionários(as) e professores de diferentes
orientações sexuais e identidades de gênero, contra toda forma de exclusão social e violência no
ambiente escolar;
CONSIDERANDO a necessidade do respeito aos Direitos Humanos, à pluralidade e à
dignidade humana, a fim de garantir o ingresso, a permanência e sucesso de todos/as no
processo de educação;
CONSIDERANDO as políticas de inclusão adotadas pela Universidade;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, do Conselho
Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e
Transexuais.
RESOLVE:
Art. 1º Fica determinada a inclusão do nome social das pessoas que se autodenominam
travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais nos registros acadêmicos da graduação, pósgraduação e extensão na UFPE.
117
�Parágrafo único. Por nome social entende-se aquele pelo qual as pessoas travestis, transexuais,
transgêneros e intersexual se autodenominam e escolhem ser reconhecidas, identificadas e
denominadas no seu meio social.
Art. 2º O nome social será o único exibido em todos os documentos de uso interno da UFPE,
respeitando a privacidade e a autodenominação das pessoas travestis, transexuais, transgêneros e
intersexual.
Parágrafo único. O nome social deverá constar nos seguintes documentos emitidos pelo
sistema oficial de registro e controle acadêmico:
I - Cadastro de dados e informações de uso social;
II - Comunicações internas de uso social;
III - Endereço de correio eletrônico e nome de usuário em sistemas de informática (SIG@);
IV - Diretório de ramais;
V - Diários de classe, fichas, cadastros, formulários, listas de presença e divulgação de notas; e,
VI - Resultados de editais.
Art. 3º Quando solicitado e salvaguardado os direitos dispostos nos artigos anteriores, o nome
civil poderá ser grafado no verso dos documentos emitidos pela UFPE.
Art. 4º Os documentos oficiais relativos à conclusão do curso e colação de grau, histórico
escolar, certificados, certidões e diploma de conclusão serão emitidos com o nome de registro
civil.
Parágrafo único. Os documentos emitidos para fins de comprovação junto às instituições e
órgãos públicos e privados (comprovante de matrícula, atestado de semestralidade, declaração
de recebimento de bolsa, entre outros) deverão apresentar o nome social e o nome de registro
civil.
Art. 5º O(a) estudante maior de 18 (dezoito) anos poderá requerer, sem ônus, a inclusão, a
alteração ou a retirada do nome social, pela UFPE, no ato da matrícula ou a qualquer momento
durante o período de realização do curso.
§ 1º O pedido de inclusão, alteração ou retirada do nome social deverá ser protocolado na
Divisão de Comunicação e encaminhado à Coordenação do Corpo Discente da PROACAD,
através do formulário de requerimento de nome social disponibilizado na página do Portal de
Estudante, no site da UFPE.
§ 2º Os procedimentos administrativos para adoção do nome social deverão ser realizados no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação.
§ 3º Quando ocorrer mudança judicial do nome de registro civil, o nome social será suprimido
dos registros da Universidade e serão emitidos, sem ônus, novos históricos escolares,
declarações, certificados, atestados e diplomas com o nome de registro civil atualizado, para
o(a) solicitante.
Art. 6º Os(as) estudantes menores de 18 (dezoito) anos também poderão requerer o direito a
utilização do nome social, em consonância com a Nota Técnica, publicada em 27 de setembro
de 2013, pela Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), que dispõe sobre Uso do Nome Social em Escolas e
Universidades, respaldada no art. 227 da Constituição Federal Brasileira, bem como, nos artigos
3º, 4º, 5º, 15, 17 e 18 do Estatuto da Criança e Adolescente que objetivam garantir os princípios
de proteção integral.
118
�Art. 7º Fica assegurado o direito do(a) requerente sempre ser chamado(a) oralmente pelo nome
social e gênero correspondente, sem nenhuma menção ao registro civil, por toda comunidade
acadêmica, incluindo os prestadores de serviço, seja na frequência de classe, no restaurante
universitário, na biblioteca, na colação de grau, na defesa de tese, dissertação ou monografia, na
entrega de certificados e declarações, como também, em eventos similares.
Parágrafo único. Os Centros Acadêmicos, setores administrativos, núcleos de pesquisa,
espaços culturais ou esportivos, Hospital das Clínicas, bibliotecas e museus, Editora
Universitária e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, que exigirem identificação
para circulação e utilização de sua infraestrutura, deverão adotar a identificação do nome social
do(a) aluno(a).
Art. 8º É assegurado o direito ao(à) requerente utilizar, de acordo com sua identificação de
gênero autodeclarada, os espaços apartados pela divisão binária dos corpos (toaletes e
vestiários).
Art. 9º Os casos omissos serão decididos pelo Reitor da Universidade.
Art. 10. Fica revogada a Portaria Normativa nº 01, de 20 de fevereiro de 2015, e demais
disposições em contrário.
Art. 11. Esta Portaria Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial
da Universidade.
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado
Reitor
119
�
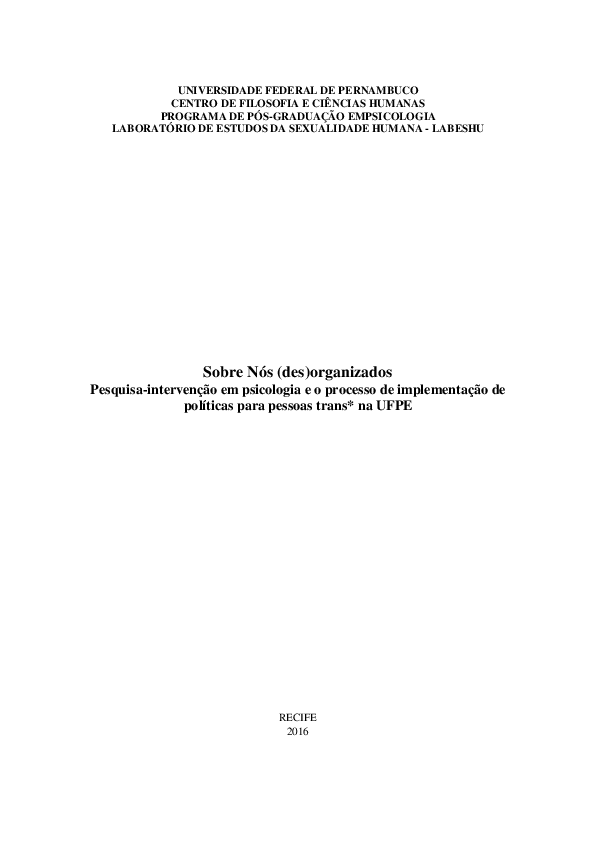
 Céu Cavalcanti
Céu Cavalcanti