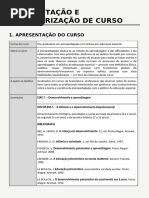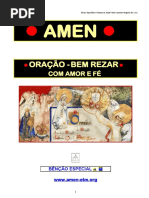0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizaçõesCaia Arigo
Caia Arigo
Enviado por
Paulo OliveiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Caia Arigo
Caia Arigo
Enviado por
Paulo Oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações5 páginasTítulo original
CAIA ARIGO
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em docx, pdf ou txt
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações5 páginasCaia Arigo
Caia Arigo
Enviado por
Paulo OliveiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em docx, pdf ou txt
Você está na página 1de 5
A IMPORT NCIA E ANÁLISE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS
As variadas terminologias utilizadas ao longo dos anos para se
referir à deficiência múltipla acompanharam as transformações históricas e
os valores sociais, econômicos e políticos de cada época. Alguns autores
(DYCK et al., 2004; NARAYAN et al., 2010; NUNES, 2005; RIBEIRO, 1996)
adotam os termos “profunda” e “severa” para reportarem-se à deficiência
múltipla devido às graves limitações e comprometimentos nos campos
cognitivo, físico e sensorial. Assim, as deficiências múltiplas podem ser as
deficiências auditivas ou a visual, associadas a outras deficiências, como a
intelectual ou física, bem como a transtornos (neurológico, emocional, de
linguagem e de desenvolvimento global), gerando atrasos no
desenvolvimento educacional, social, emocional, vocacional, que acabam
por dificultar a autonomia do indivíduo (HONORA; FRIZANCO, 2004).
Existem vários fatores contribuintes para as causas da deficiência múltipla,
incluindo as de ordem sensorial, motora e linguística.
Elas podem originar-se nos períodos pré e perinatais. Alguns fatores
de risco e doenças/enfermidades podem, ainda, causar múltipla deficiência,
gerando prejuízos significativos. A deficiência pode, ainda, ser adquirida
devido aos fatores sociais envolvidos, sendo eles acidentes de trânsito,
pobreza familiar, falta de saneamento básico, número relativamente grande
de crianças, adolescentes e adultos usuários de drogas (ARAÓZ, 1999;
ARAÓZ; COSTA, 2008; HONORA; FRIZANCO, 2004; MAIA; GIACOMINI;
ARAÓZ, 2008).
Muitos trabalhos têm discutido a possibilidade de inclusão de
crianças com deficiências múltiplas em situação escolar, variando desde
aqueles que observam as dificuldades de relacionamento interpessoal
dessas crianças, quais tipos de deficiências poderiam beneficiar-se da
inclusão, quais procedimentos e formas de comunicação seriam possíveis
em sala de aula, até o desenvolvimento de estratégias para auxiliar aquelas
crianças mais comprometidas e a formação dos professores.
O estudo de Dyck et al. (2004) concluiu que crianças com
deficiência visual têm um déficit de desempenho nas atividades de1
reconhecimento das emoções; já nas deficientes auditivas, aparece um
déficit/atraso em habilidades mediadas pela linguagem. Aitken et al. (2000)
revelam que a comunicação é um ponto central e necessário para os
deficientes surdocegos e, dependendo da gravidade e complexidade da
perda visual e auditiva, é mais provável que possa causar dificuldades na
interação social. Silveira e Neves (2006) sugerem que o processo inclusivo
seria possível com as crianças com necessidades educacionais menos
comprometidas, e não com o deficiente múltiplo, pois existem fatores que
irão afetar uma possível inclusão, como a preparação dos profissionais que
atuam em escolas regulares e as condições precárias de higiene e das
salas de aula das escolas.
Guess et al. (1990), ao observarem 50 crianças com deficiência
múltipla com grandes comprometimentos na sala de aula, concluíram que
elas despendiam 42% do tempo em comportamentos inadequados para a
aprendizagem. Kamenopoulou (2012) investigou a inclusão social e a
participação de crianças surdocegas com seus amigos/companheiros no
ambiente escolar, observando dificuldades na habilidade grupal, além de
problemas na mobilidade dessas crianças.
Correa-Torres (2008), ao observar crianças surdocegas em situação
escolar, percebeu que os profissionais focaram mais a atenção no
desenvolvimento social e acadêmico dos alunos e que a maioria das
oportunidades interativas sociais e comunicativas dos alunos surdocegos
ocorreram com adultos, e não com os colegas. Arthur (2003) enfatizou a
necessidade de formação de profissionais, desenvolvimento e suporte no
processo de melhoria da comunicação com crianças deficientes múltiplas.
Foreman et al. (2004) observaram que crianças com deficiências múltiplas
inseridas em classes regulares pareciam utilizar seu tempo realizando
atividades significativas, ao contrário daquelas em escolas especiais.
No trabalho de Pinto e Góes (2006), sessões de brincadeiras livres em
atividades separadas da rotina de sala de aula evidenciaram que a
mediação no grupo permite interações com situações imaginárias que
contribuem para o desenvolvimento intelectual.
Costa e Cader-Nascimento (2005), trabalhando com crianças2
surdocegas pré-linguísticas, demonstraram que o uso da comunicação
alternativa favoreceu o desempenho na realização das tarefas, bem como
os aspectos motriciais da fala e as práticas de atividades de vida diária.
Lancioni et al. (2007) desenvolveram um programa para estimular respostas
adaptativas e posicionar a cabeça corretamente em estudantes com
deficiência múltipla com o uso de tecnologia assistida, demonstrando a
possibilidade de as pessoas com deficiência múltipla responderem de forma
integrada e adaptada, mantendo o controle da posição elevada da cabeça.
Assim, esta pesquisa objetivou a identificação de situações de
inclusão social na percepção dos educadores de crianças com deficiências
múltiplas e suas vivências observadas no cotidiano escolar.
Jogos, brincadeiras e ludicidade são temas muito abordados em
monografias e trabalhos de conclusão de curso, no entanto sendo um tema tão
pesquisado, defendido e difundido, pesquisadores e alguns professores
defendem a sua prática nos espaços escolares, lamentavelmente apesar de
toda à literatura e das pesquisas realizadas que comprovam a relevância do
brincar para o desenvolvimento da criança, ao lúdico ainda lhe é delegado, por
muitos profissionais ao simples ato de distração, diversão e também lhe é
atribuído atitudes como falta de educação, petulância ou desobediência,
pensamentos estes expressos de forma inconsequente e intolerante, por meio
de frases como estas: “as crianças de hoje não sabem brincar.”; “... as crianças
só estão brincando.” ou “os alunos de tal professor estão sempre brincando.”
Este descaso ocasiona danos à estruturação do desenvolvimento da criança e
muitas vezes bloqueios emocionais e até físicos.
Com base nesta problemática, pesquisas e reflexões esta pesquisa visa
alcançar a todos os profissionais, mas principalmente aqueles que ignoram a
importância do lúdico para o desenvolvimento infantil. Esta pesquisa tem como
objetivo principal oferecer aos professores uma ferramenta de reflexão sobre a
metodologia aplicada na educação infantil no que concerne a jogos e
brincadeiras. Utilizando como base de sustentação pesquisas e constatações
de diferentes teóricos. Esta pesquisa e análise visa mostrar que os jogos e
brincadeiras são importantes para o desenvolvimento global da criança, e que
este desenvolvimento não se dá apenas com os denominados jogos
3
educativos, mas também de brincadeiras livres, espontâneas, aquelas trazidas
pelas crianças para o universo escolar, que se trabalhadas pelo professor de
maneira participativa e mediadora lhe possibilitará introduzir novos conceitos e
informações, assim como também a compreensão e entendimento do que foi
aprendido pelo aluno com a mediação do professor.
Nas palavras de Luzuriaga (2001, pg.2) "..Sem educação não seria
possível a aquisição e transmissão da cultura, pois, pela educação é que a
cultura sobrevive no espírito humano". Sendo assim, pode-se chegar a
conclusão de que as crianças sempre foram educadas, seja para o trabalho, ou
para as atividades intelectuais, estas crianças eram preparadas, apesar de não
haver registros que confirmem essa educação, pois, as crianças menores eram
responsabilidade exclusiva das famílias, recebendo educação apenas de seus
familiares.
Luzuriaga (2001) diz que as crianças recebiam uma educação natural,
inconsciente, espontânea, adquirida na convivência familiar. Mesmo sendo
essencial à vida social e intelectual do homem, a educação foi transmitida de
formas diferentes, por povos diferentes. Na idade Antiga a educação de
crianças pequenas era essencialmente familiar. Já na antiguidade clássica
encontram-se registros da preocupação com uma educação mais elaborada
para as crianças pequenas.
Luzuriaga (2001), diz que Platão (427-347 a.C) recomendou que a
educação da primeira infância fosse de jogos educativos na família, com o
objetivo de preparo para o exercício do futuro da cidadania, e que Aristóteles
(384-332a.C) propôs que as crianças dos cinco aos sete anos receberiam em
casa educação para a higiene e o endurecimento, e ainda assistiriam a
algumas lições.
Carvalho (2003) apud Oliveira (2002) diz que os modos de atendimento
não familiar foram se constituindo nas camadas sociais menos favorecidas,
desde as sociedades primitivas, por meio das relações de parentesco, No final
da Idade Média surgem as "rodas dos expostos" e os "lares substitutos",
dirigidos por entidades religiosas e filantrópicas.
4
O autor acima afirma que em decorrência das transformações sociais,
econômicas, políticas e ideológicas, em um contexto de educação como
investimento para o desenvolvimento social, a escolaridade obrigatória e a
aceitação da criança como pessoa com necessidades especiais, origina a
trajetória da constituição do atendimento ás crianças pequenas.
Carvalho (2003) apud Oliveira (1994) em decorrência da necessidade de
atender crianças órfãs, abandonadas ou mesmo os filhos de mães operarias,
nos séculos XVII e XVIII em alguns países da Europa foram criadas as
primeiras instituições que tinham como objetivo principal a guarda de crianças
a partir de dois anos, orientadas na religião e cuidados com a saúde,
alimentação e em alguns casos, iniciação em um oficio. Eram conhecidas como
as "Escolas de Caridade" ou "Escolas de Damas".
Você também pode gostar
- Mary SheridanDocumento12 páginasMary SheridanCristina SilvaAinda não há avaliações
- O perceber de quem está na escola sem dispor da visãoNo EverandO perceber de quem está na escola sem dispor da visãoAinda não há avaliações
- A Comunicação Social PDFDocumento31 páginasA Comunicação Social PDFCharlesAinda não há avaliações
- CONTRATO LAUDO E ART - Ar CondicionadoDocumento2 páginasCONTRATO LAUDO E ART - Ar CondicionadoROMARIO LISBOA DANTASAinda não há avaliações
- Tornar A Educacao InclusivaDocumento211 páginasTornar A Educacao InclusivaValeria LannaAinda não há avaliações
- Artigo IntroduçãoDocumento9 páginasArtigo Introduçãosrosana.oliveirAinda não há avaliações
- Artigo - Inclusão Escolar de Crianças Com Deficiência Múltipla - Concepções de Pais e Professores PDFDocumento8 páginasArtigo - Inclusão Escolar de Crianças Com Deficiência Múltipla - Concepções de Pais e Professores PDFleoamphibioAinda não há avaliações
- Paper - As Múltiplas Linguagens Da EjaDocumento7 páginasPaper - As Múltiplas Linguagens Da EjaMaxiploter DesignAinda não há avaliações
- MD Edumte Ii 2014 146Documento20 páginasMD Edumte Ii 2014 146Gleisiton Vale WanderlustAinda não há avaliações
- Sala de RecursosDocumento9 páginasSala de RecursosRita De Cassia OchelakAinda não há avaliações
- eBook Vivencias de Pessoas Com Deficiencia Intelectual No Contexto Educacional e SocialDocumento151 páginaseBook Vivencias de Pessoas Com Deficiencia Intelectual No Contexto Educacional e SocialMylene SantiagoAinda não há avaliações
- A Importância Do Brincar Na Educação Infantil PDFDocumento16 páginasA Importância Do Brincar Na Educação Infantil PDFVanessa SoaresAinda não há avaliações
- Artigo G As Brincadeiras No Ensino-Aprendizagem Na Educação InfantilDocumento11 páginasArtigo G As Brincadeiras No Ensino-Aprendizagem Na Educação Infantillucianaalencar01Ainda não há avaliações
- Artigo - Autismo e Inclusão 2Documento14 páginasArtigo - Autismo e Inclusão 2Juliana BarrosAinda não há avaliações
- Formação para Profissionais Da Educação Infantil - Módulo 5Documento108 páginasFormação para Profissionais Da Educação Infantil - Módulo 5Gabrielly PavinAinda não há avaliações
- Contribuições dos jogos cooperativos e esportes coletivos para o desenvolvimento de habilidades sociais e pedagógicas em crianças com Transtorno do Espectro AutistaDocumento25 páginasContribuições dos jogos cooperativos e esportes coletivos para o desenvolvimento de habilidades sociais e pedagógicas em crianças com Transtorno do Espectro AutistaJoabson AquinoAinda não há avaliações
- O Que É A Escola A Partir Do Sentido Construido Por AlunosDocumento11 páginasO Que É A Escola A Partir Do Sentido Construido Por AlunosWildney LeiteAinda não há avaliações
- TGDocumento21 páginasTGYasmine PachecoAinda não há avaliações
- Acamizo, 20-2743Documento17 páginasAcamizo, 20-2743Leonardo RangelAinda não há avaliações
- Escola É Lugar de Brincar?Documento23 páginasEscola É Lugar de Brincar?Nair AzevedoAinda não há avaliações
- TCC-Final - ProntoDocumento11 páginasTCC-Final - ProntoZelia de Souza GuimarãesAinda não há avaliações
- Carlos Yoba A Educação Social e A Contribuição Das Famílias em Angola.Documento22 páginasCarlos Yoba A Educação Social e A Contribuição Das Famílias em Angola.Evaristo Das MangasAinda não há avaliações
- TCC B Rbara FinalDocumento18 páginasTCC B Rbara Final5wnbs7zzt2Ainda não há avaliações
- Plano de Aula - Ensino InfantilDocumento6 páginasPlano de Aula - Ensino InfantilEliane GonçalvesAinda não há avaliações
- Texto+diagramadoDocumento16 páginasTexto+diagramadoprofisabelsalazarAinda não há avaliações
- Contribuicao Da LucidadeDocumento17 páginasContribuicao Da LucidadeANA DEUSAinda não há avaliações
- O Que É A Escola Construida Pelos AlunosDocumento12 páginasO Que É A Escola Construida Pelos AlunosMaria DerlandiaAinda não há avaliações
- FELIPE, Jane. Estudos Culturais, Gênero e Infância...Documento10 páginasFELIPE, Jane. Estudos Culturais, Gênero e Infância...mundobrAinda não há avaliações
- Jogos e Brincadeiras Ensinar e Aprender Brincando Como Prática Pedagógica Na Educação InfantilDocumento18 páginasJogos e Brincadeiras Ensinar e Aprender Brincando Como Prática Pedagógica Na Educação InfantilNathalia FariasAinda não há avaliações
- Narrativa Def IntelectualDocumento11 páginasNarrativa Def IntelectualEmanuelle AlmeidaAinda não há avaliações
- 1518 5760 1 PBDocumento12 páginas1518 5760 1 PBGilson AzevedoAinda não há avaliações
- A Importância Da Família No Processo de InclusãoDocumento11 páginasA Importância Da Família No Processo de Inclusãoheldenia29Ainda não há avaliações
- Martins 2020Documento23 páginasMartins 2020Ines GeraldiAinda não há avaliações
- A Inclusão e Seus Avanços Ao Longo Da História e Suas Interferências Na Sala de AulaDocumento5 páginasA Inclusão e Seus Avanços Ao Longo Da História e Suas Interferências Na Sala de AulalucioAinda não há avaliações
- PRE PROJEO de AutismolDocumento8 páginasPRE PROJEO de AutismolVanessa SilvaAinda não há avaliações
- Universidade Norte Do Paraná Sistema de Ensino A Distância Licenciatura em PedagogiaDocumento12 páginasUniversidade Norte Do Paraná Sistema de Ensino A Distância Licenciatura em PedagogiaBruna GabrielleAinda não há avaliações
- Projeto LúdicoDocumento4 páginasProjeto LúdicoNúbia RibeiroAinda não há avaliações
- Psicologia do Desenvolvimento e Educação InclusivaDocumento12 páginasPsicologia do Desenvolvimento e Educação InclusivagadrianacostaAinda não há avaliações
- iMPORTANCIA DA lUDICIDADE NO ENSINO FUNDAMENTALDocumento15 páginasiMPORTANCIA DA lUDICIDADE NO ENSINO FUNDAMENTALwillianwcaAinda não há avaliações
- A Inclusão Na Educação e A Possibilidade de AlfabetizaçãoDocumento4 páginasA Inclusão Na Educação e A Possibilidade de AlfabetizaçãoM BarbosaAinda não há avaliações
- Uma Escola para Todos: Reflexões e Práticas a Partir da Educação FísicaNo EverandUma Escola para Todos: Reflexões e Práticas a Partir da Educação FísicaAinda não há avaliações
- A Importância Do Lúdico Com Afeto Na Educação InfantilDocumento11 páginasA Importância Do Lúdico Com Afeto Na Educação InfantilGeórgia FreitasAinda não há avaliações
- A Arte No Atendimento Escolar EspecializadoDocumento17 páginasA Arte No Atendimento Escolar EspecializadoAline FloresAinda não há avaliações
- O Uso de Jogos Pedagógicos Na Educação de Jovens e AdultosDocumento11 páginasO Uso de Jogos Pedagógicos Na Educação de Jovens e AdultosCamila0% (1)
- Educação inclusiva: Perspectivas complementares no respeito às diferençasNo EverandEducação inclusiva: Perspectivas complementares no respeito às diferençasAinda não há avaliações
- Acamizo, Trabalho 16Documento17 páginasAcamizo, Trabalho 16Emanuelle AlmeidaAinda não há avaliações
- Práticas de Atividades Lúdicas Na Educação Infantil.1Documento8 páginasPráticas de Atividades Lúdicas Na Educação Infantil.1Iracema Eulália Carneiro Dos ReisAinda não há avaliações
- 2009 Unioeste Educacao Especial Artigo Josiani Aparecida VieDocumento23 páginas2009 Unioeste Educacao Especial Artigo Josiani Aparecida VieEmillyAinda não há avaliações
- (Fluxo) - Brincar Na Educação Infantil - o Papel Do ProfessorDocumento16 páginas(Fluxo) - Brincar Na Educação Infantil - o Papel Do ProfessorLaiz SantosAinda não há avaliações
- Conedu 2021Documento12 páginasConedu 2021Nair AzevedoAinda não há avaliações
- EBOOK - Diálogos Interdisciplinares em Psicologia e EducaçãoDocumento222 páginasEBOOK - Diálogos Interdisciplinares em Psicologia e Educaçãojoáo vitor castro ruasAinda não há avaliações
- Desafio Profissional ProjetoDocumento12 páginasDesafio Profissional ProjetoRita RosaAinda não há avaliações
- Texto Do ArtigoDocumento14 páginasTexto Do ArtigoBruna Diniz GomesAinda não há avaliações
- Cdpei 2s 1bDocumento5 páginasCdpei 2s 1bMaurício Júnior100% (1)
- Apresentação Slaid 28Documento16 páginasApresentação Slaid 28MARIA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADEAinda não há avaliações
- Os Desafios Do Ambiente Escolar para Crianças Autistas. Pág 172 À 182Documento11 páginasOs Desafios Do Ambiente Escolar para Crianças Autistas. Pág 172 À 182gisacoostaaAinda não há avaliações
- Direito de BrincarDocumento17 páginasDireito de BrincarbarbsoeiroAinda não há avaliações
- Ludicidade Na Educação Infantil. TCC Maria JoséDocumento15 páginasLudicidade Na Educação Infantil. TCC Maria JoséRaquel AndradeAinda não há avaliações
- A Ludicidade e Ensino SuperiorDocumento3 páginasA Ludicidade e Ensino SuperiorRoberto Quaresma RegoAinda não há avaliações
- 2421 5515 2 PBDocumento10 páginas2421 5515 2 PBCamila MenezesAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 5Documento3 páginasEstudo Dirigido 5Jaynne Dias BarbosaAinda não há avaliações
- CienDocumento11 páginasCienCristina CarlaAinda não há avaliações
- Arte No CurriculoDocumento13 páginasArte No CurriculomcristinalopesAinda não há avaliações
- Plano de Aula AmandaDocumento3 páginasPlano de Aula AmandaPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo Cicera ArtesDocumento16 páginasArtigo Cicera ArtesPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo Fantoches Artes Visuais PâmelaDocumento23 páginasArtigo Fantoches Artes Visuais PâmelaPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- AngelicaDocumento53 páginasAngelicaPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- Catalogo Telas BelgoDocumento6 páginasCatalogo Telas BelgoVitor AmadeuAinda não há avaliações
- Dons MinisteriaisDocumento16 páginasDons Ministeriaistallysonfernando96Ainda não há avaliações
- Caderno_de_Caligrafia_InfantilDocumento20 páginasCaderno_de_Caligrafia_InfantiliarlleynAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre Elementos Coesivos e Conectivos - 22032013 - Manhã e TardeDocumento3 páginasExercícios Sobre Elementos Coesivos e Conectivos - 22032013 - Manhã e TardeFrank Lima De CerqueiraAinda não há avaliações
- Química 2 SérieDocumento4 páginasQuímica 2 SérieJosileide De Castro SantanaAinda não há avaliações
- Manual de Campanha 3 - Marvel ChampionsDocumento24 páginasManual de Campanha 3 - Marvel ChampionsGabriel KawaiAinda não há avaliações
- Curso de Direito Financeiro e TributárioDocumento38 páginasCurso de Direito Financeiro e TributárioDanilo FróesAinda não há avaliações
- Curriculo Lattes Evandro Veronez 09 - 2010Documento5 páginasCurriculo Lattes Evandro Veronez 09 - 2010Evandro VeronezAinda não há avaliações
- Capítulo 3 - Duchamp e BrancusiDocumento2 páginasCapítulo 3 - Duchamp e BrancusiAnonymous 1MiO5aiAinda não há avaliações
- Marteleto, Dolo e Risco No Direito Penal (Verschoben)Documento11 páginasMarteleto, Dolo e Risco No Direito Penal (Verschoben)Claude Max BrinderAinda não há avaliações
- Descubra o CICVDocumento56 páginasDescubra o CICVInternational Committee of the Red Cross100% (1)
- RezarDocumento157 páginasRezarXXXAinda não há avaliações
- Ondulatória 1Documento4 páginasOndulatória 1patrick19840% (1)
- Ligações QuímicasDocumento68 páginasLigações QuímicasThaisa GrasiellyAinda não há avaliações
- Poupança e Investimento1Documento26 páginasPoupança e Investimento1Francisco Antonio Nascimento de ArrudaAinda não há avaliações
- Estrogênios e ProgestinasDocumento9 páginasEstrogênios e ProgestinasCelso ZanellaAinda não há avaliações
- Aluguel de Painéis Solares - Vale A Pena Alugar Um Sistema FotovoltaicoDocumento5 páginasAluguel de Painéis Solares - Vale A Pena Alugar Um Sistema FotovoltaicoEnergyss - Energia SolarAinda não há avaliações
- Questões de ImunologiaDocumento13 páginasQuestões de ImunologiaPriscila da Hora89% (147)
- Anatomia Do PênisDocumento5 páginasAnatomia Do PênisJoão Paulo EmrichAinda não há avaliações
- Apostila - 31 5 AnoDocumento13 páginasApostila - 31 5 AnoMaria ConceicaoAinda não há avaliações
- CADERNO 01 - LÍNGUA PORTUGUESA - Material 1 - Com DescritorDocumento29 páginasCADERNO 01 - LÍNGUA PORTUGUESA - Material 1 - Com DescritorArlindo NetoAinda não há avaliações
- Mercado de Trabalho - 15 PerguntasDocumento5 páginasMercado de Trabalho - 15 PerguntasJean RodriguesAinda não há avaliações
- Um Exame de Consciência para AdultosDocumento18 páginasUm Exame de Consciência para AdultosErnesto RaulAinda não há avaliações
- SE202Documento84 páginasSE202g30.miranda100% (1)
- DelineamentosDocumento103 páginasDelineamentosAmanda Guimaraes de AraujoAinda não há avaliações
- Manual DVR 4-8-16 Canais Guia RapidoDocumento6 páginasManual DVR 4-8-16 Canais Guia RapidoMarcos VieiraAinda não há avaliações
- Curso Basico Aprovação - IniciantesDocumento8 páginasCurso Basico Aprovação - IniciantesJordanAinda não há avaliações