Armando Marques Guedes
O ESTUDO DOS SISTEMAS JURÍDICOS AFRICANOS
ESTADO, SOCIEDADE, DIREITO E PODER
ÍNDICE
PREFÁCIO
Parte I
INTRODUÇÃO
1. ÂMBITOS E MÉTODOS GERAIS 5
1.1. POR UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 10
1.1.1. A ENORME PROFUSÃO DE UNIDADES JURÍDICO-NORMATIVAS PRESENTES EM ÁFRICA: A DIVERSIDADE DAS FONTES 15
1.1.2. A INTERACÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS PLURALISMOS JURÍDICOS AFRICANOS: A MULTIPLICIDADE DAS FORMAS NORMATIVAS 16
1.1.3. A IMBRICAÇÃO-DISSEMINAÇÃO DE FUNÇÕES: AS VÁRIAS DIMENSÕES DA NORMATIVIDADE NAS SOCIEDADES AFRICANAS CONTEMPORÂNEAS 21
1.2. A COMPLEXIDADE ESTRUTURAL DESTES DIREITOS 22
2. POR UMA REPERSPECTIVAÇÃO (PELA) POSITIVA DOS DIREITOS AFRICANOS 24
2.1. AS INSUFICIÊNCIAS EMPÍRICAS E A FALTA DE SISTEMATICIDADE DOS ESTUDOS EMPREENDIDOS 24
2.2. POR UMA REPERSPECTIVAÇÃO DOS DIREITOS AFRICANOS ENQUANTO FIGURAS CONTRA FUNDO 28
2.3. O PAPEL SOCIAL E AS FUNÇÕES DO DIREITO EM ÁFRICA 34
2.4. AS VERTENTES SOCIOCULTURAIS DOS DIREITOS AFRICANOS: UM QUADRO POSITIVADO E RELATIVIZADO 40
3. O RECONHECIMENTO PROGRESSIVO DA PLURALIDADE DE FONTES DO DIREITO EM ÁFRICA E OS AVANÇOS E RECUOS NO ESTATUTO DESTA 44
3.1. O EXEMPLO PARADIGMÁTICO DA PROGRESSÃO PARALELA DO ESTATUTO “SOBERANO” ATRIBUÍDO PELOS ESTADOS AFRICANOS A ENTIDADES LOCAIS TRADICIONAIS, E DO ESTUDO SOBRE ESTAS QUESTÕES 50
3.2. UM PONTO DE MÉTODO 51
3.3. UMA PERIODIZAÇÃO GENÉRICA 52
3.4. A FASE PÓS-COLONIAL 55
3.5. AS ALTERAÇÕES NOS PONTOS DE APLICAÇÃO E DOS FOCOS DE ANÁLISE 61
3.6. OS NOVOS ENQUADRAMENTOS SOCIAIS 64
3.7. OS NOVOS VENTOS METODOLÓGICOS 67
4. OS ESTADOS, AS SOCIEDADES, O SISTEMA INTERNACIONAL E A ÁFRICA: PRIORIDADES, RELAÇÕES CAUSAIS, TRANSFORMAÇÕES E CONSTRUÇÕES RECÍPROCAS
4.1. AS TEORIZAÇÕES “CENTRADAS NO ESTADO”
4.2. AS TEORIZAÇÕES “CENTRADAS NA SOCIEDADE”
4.3. AS PERSPECTIVAÇÕES DO TIPO GENÉRICO “ESTADO NA SOCIEDADE”
4.4. ESTADO SOCIEDADE, DIREITO E A ANÁLISE DOS PROCESSOS POLÍTICOS E JURÍDICOS PÓS-COLONIAIS NA ÁFRICA CONTEMPORÂNEA
4.5. AS TÓNICAS NAS MODELIZAÇÕES RELACIONAIS MAIS RECENTES QUANTO ÀS DINÂMICAS POLÍTICAS PÓS-COLONIAIS EM ÁFRICA
4.6. OS ESTADOS E OS DIREITOS AFRICANOS ENTRE O INTERIOR E O EXTERIOR
5. IMPLICAÇÕES CONJUNTAS DESTE ESTADO DE COISAS PARA O DELINEAR DE UMA DISCIPLINA DE DIREITOS AFRICANOS 69
Parte II
TRÊS EXEMPLOS RELATIVOS A DIREITOS AFRICANOS LUSÓFONOS
6. UM ENQUADRAMENTO GERAL 72
6.1. A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E ALGUNS DOS MEIOS “CONSUETUDINÁRIOS” ALTERNATIVOS EM CABO VERDE 73
6.1.1. O PLURALISMO JUDICIÁRIO EM CABO VERDE: VARIANTES E ENQUADRAMENTO 74
6.1.2. LITÍGIOS E PLURALISMO: UMA FORMA “TRADICIONAL” VISITADA 77
6.1.3. UM PLURALISMO MAIS OSTENSIVO: AS COMUNIDADES DE “REBELADOS” DA ILHA DE SANTIAGO
6.2. A ADMINISTRAÇÃO PERIFÉRICA DO ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E AS AUTORIDADES TRADICIONAIS EM ANGOLA 80
6.2.1. DESCONCENTRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM ANGOLA: UMA PROGRESSÃO EM DUAS FRENTES 81
6.2.2. A ADMINISTRAÇÃO PERIFÉRICA, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E AS “AUTORIDADES TRADICIONAIS” EM ANGOLA: UM DESDOBRAMENTO PARALELO? 88
6.2.3. REPRESENTAÇÕES DUALISTAS: ENTRE A CULTURA E O PODER 86
5.2.4. OS LIMITES DA CONGRUÊNCIA 88
6.3. LITÍGIOS CONSTITUCIONAIS EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE 91
6.3.1. OS CONFLITOS CONSTITUCIONAIS NO ARQUIPÉLAGO: LINHAS DE FORÇA 92
6.3.2. A BICEFALIA SEMIPRESIDENCIALISTA: UMA CATADUPA DE CRISES 95
6.3.3. DA AUSÊNCIA DE INSTÂNCIAS JURISDICIONAIS LOCALMENTE TIDAS COMO CREDÍVEIS AO PERFIL DO PROCESSAMENTO-RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS CONSTITUCIONAIS SANTOMENSES 101
6.3.4. AS DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DA LITIGAÇÃO CONSTITUCIONAL EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE: TRAÇOS DISTINTIVOS 108
Parte III
PEDAGOGIA E PROGRAMA
7. O DESIGN DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE DIREITOS AFRICANOS: PEDAGOGIA, OBJECTIVOS E FINALIDADES 113
7.1. OBJECTIVOS E FINALIDADES 114
7.2. PEDAGOGIA E SISTEMÁTICA 118
8. PROGRAMA 124
ANEXOS 140
Anexo 1: Quadro relativo a palavras e expressões relacionadas com feitiços e bruxaria em Cabo Verde 140
Anexo 2: : Quadro relativo a palavras e expressões relacionadas com feitiços e bruxaria em S. Tomé e Príncipe 143
BIBLIOGRAFIA GERAL DESTE ESTUDO 146
PREFÁCIO
1.
Desde o ano lectivo de 2001-2002 que me foi atribuída, pelo Conselho Científico da Faculdadede Direito da Universidade Nova de Lisboa (FDUNL), a regência de uma disciplina intitulada “Direitos Africanos”. A existência de uma cadeira como essa numa Universidade pública portuguesa é uma verdadeira lança em África. Mas o seu significado e alcance não são necessariamente claros.
De um certo ponto de vista poder-se-á seguramente considerar que se reata assim com uma velha tradição de estudar e ensinar, nas instituições nacionais de Ensino Superior, ordenamentos jurídicos com os quais temos ligações históricas e umbilicais profundas. De outra perspectiva, parece pacífica a ideia de que não faria grande sentido hoje em dia ensinar e investigar, numa institução universitária portuguesa, questões que se prendam com o Direito positivo de novos Estados africanos que, na segunda metade do século passado, ascenderam à independência política. Como iremos ver, neste estudo esclareço, ainda que o faça de maneira implícita, a minha posição relativamente a este tipo de dúvidas e quanto à sua solução.
Uma versão anterior deste trabalho foi apresentada à Reitoria da Universidade Nova de Lisboa como Relatório integrado num concurso académico para provimento de um lugar de Professor Associado na Faculdade de Direito da Universisdade Nova de Lisboa. O júri, que aprovou por unanimidade esse passo na minha progressão na carreira académica na FDUNL, foi presidido pelo Professor Doutor Mário Vieira de Carvalho, Vice-Reitor da UNL, e pelos Professores Diogo Freitas do Amaral, António M. Hespanha, Manuel Pinto Barbosa, Jill Reaney Dias, Brian Juan O’Neil, José Carlos Vieira de Andrade e João Caupers. Não quero deixar de agradecer aos membros do júri as achegas que me deram em resultado do que foram manifestamente leituras atentas e cuidadas.
O texto que se segue reproduz, com pequeníssimas alterações, aquilo que constou do Relatório apresentado. Acrescentei-lhe, porém, uma subsecção (a correspondente ao ponto 4.) sobre a teorização dos relacionamentos entre Estado e sociedade em África, dada a pertinência que esses enquadramentos teóricos têm tido para a conceptualizações levadas a cabo quanto aos papéis do Direito no Continente. E mudei aqui e ali alguns pormenores, em resultado da releitura muito cuidadosa em que me empenhei.
2.
Ao percorrer a literatura jurídica e as publicações afins dos últimos decénios, torna-se evidente que asserções sobre “os Direitos Africanos” têm sido nelas moeda corrente. Tal tipo de enunciados é comum. E o subtexto dessas elaborações é óbvio. Ao que parece independentemente da sua origem ou pontos de aplicação, o grosso das formulações teóricas mais correntes presume de maneira implícita a existência empírica de uma unidade de análise no que toca os ordenamentos jurídicos do Continente.
Uma unidade essa cuja fundamentação e contornos não são fáceis de vislumbrar. Será ela continental? Racial? Histórico-evolucionária? Diferentes autores, como iremos ver, têm assumido uma ou outra dessas várias posições. Para uns, a “africanidade” enquanto critério unificador deve ser encontrada num dos domínios. Para outros, noutro. Segundo alguns mais ainda, uma combinação deles será a chave. Todos todavia concordam na presunção de uma qualquer unidade que nos permitiria agregá-los e isolá-los enquanto “família” jurídica.
Generalizações deste tipo, em particular porventura aquelas mais racial-evolucionistas que muitas vezes se têm revelado como tão acriticamente aceites, são decerto bastante reveladoras de impensados partilhados: muitas vezes uma ou outra das convicções que as subtendem é nítida nos trabalhos produzidos, sejam eles do âmbito dos estudos jurídicos propriamente ditos, ou trate-se antes de esforços sociológicos, jurídico-antropológicos, históricos, ou juscomparatistas. Noutros casos não, e a sua eficácia torna-se por conseguinte mais oblíqua.
A verdade, no entanto, é que, por pouca que possa ser a nitidez das suas fontes, os pressupostos de um unitarismo como esse contaminam as análises de maneira tão marcada quão enganadora. Mais do que hipotéticas chaves para melhores interpretações, tornam-se em veículos para representações auto-sustentadas e por isso difíceis tanto de detectar quanto de remover. O resultado são estudos a um tempo parciais e reducionistas, que tendem por via de regra a conseguir chegar pouco além de fabricações sistemáticas levadas a cabo nos termos eles mesmos dos pressupostos sobre os quais são construídas.
Uma vez enunciadas estas hesitações poderá parecer paradoxal a retenção, no título deste trabalho, de uma expressão tão carregada por esses implícitos como a de “sistemas jurídicos africanos”. A minha razão para o manter é táctica: permite-me desconstruir a noção de maneira didáctica. Não é difícil perceber a mecânica dessa desconstrução pretendida. Dada a diversidade histórico-cultural, “evolucionária”, e até “racial” dos Estados existentes no Continente africano, uma expressão como essa torna possível gerar uma base comparativa de enorme utilidade analítica. Tal como iremos verificar, a variedade de sistemas jurídicos presentes no Continente permite-o.
É possível, assim, incluir na unidade taxonómica difusa intitulada “Sistemas Jurídicos Africanos” (ou mesmo a de “Direitos Africanos”) ordenamentos jurídicos provenientes de fontes muito distintas umas das outras, cujas semelhanças, por isso mesmo, emergem claramente como oriundas de factores conjunturais (ou estruturais) de menos longa duração, para utilizar um conceito “histórico”. Torno clara no texto a forma que encontrei para evitar incorrer nas possíveis ambiguidades que poderiam ser um dos preços desse subterfúgio: não capitalizando a última palavra na frase “Direitos africanos”, torno explícito que faço assim referência, nas generalizações que levo a cabo, não a uma qualquer “família” de Direitos, mas antes a um agrupamento adventício e relativamente arbitrário dos ordenamentos que vigoram no Continente.
Por isso e porque não tento, naquilo que se segue, esboçar quaisquer comparações, seja a que nível for, não pretendo neste curto trabalho de introdução esquissar um estudo de Direito Comparado. Não quer isso porém dizer que análises do tipo das que aqui empreendo, elaboradas nos termos dos enquadramentos metodológicos que proponho, não possa revelar-se útil para juscomparatistas eventualmente interessado em ir além das limitações das estratégias gizadas em Paris no ano já longínquo de 1900, e em tentar comparar mais do que o obviamente comparável. Bem pelo contrário. Mas tal facto indicia, isso sim, que será decerto em termos de enquadramentos mais amplos, sejam eles, sociológicos, políticos, históricos, ou todos estes, que podemos ter a esperança de saber vir a plantear extrapolações generalizantes mais bem fundamentadas.
3.
Neste como em qualquer outro estudo é inevitável a escolha de um ponto focal. E porque este trabalho não pretende, de maneira nenhuma, formar um qualquer esboço de uma eventual “Introdução” aos Sistemas Jurídicos Africanos, em nome de alguma unidade ensaística foram deixados de fora temas que nele poderiam ter sido tratados. Em muitos casos fi-lo no quadro da disciplina de Direitos Africanos que tenho vindo a ministrar na Faculdade de Direito da UNL. Noutros não.
Assim, por exemplo, abordo aí por via de regra os impactos que esforços de codificação têm tido sobre os “Direitos consuetudinários” em vigor em África, problematizando, ao longo de toda uma sessão, por intermédio de diversos exemplos africanos, a ideia, infelizmente arreigada em muitos círculos, de que tais formalizações sejam de algum modo neutras e que por isso não tenham pesadas consequências substantivas quanto à normatividade assim cristalizada.
Toco também em pormenor, no contexto do programa da disciplina, uma outra questão a que aqui não faço senão, en passant, uma breve alusão: a dos vários sentidos de que é passível a interpretação de noções tão difusas e tal instrumentalizáveis como as de “tradição” e de “costume”. No decurso do semestre em que decorremas aulas, dedico a este tema duas sessões: numa delas, reperspectivo histórica e “genealogicamente” a noção de “Direito tradicional”; enquanto que na outra, esmiuço em detalhe as discussões que tem havido,sobretudo no mundo académico anglo-saxónico, sobre a “invenção de tradições” em África.
Da mesma maneira, não faço no presente estudo senão muito sucintas referências a dois tópicos outras tantas sessões do programa que tenho vindo a ministrar. Uma relaciona-se com a aplicabilidade e a aplicação, aos casos africanos contemporâneos, de conceitos como o de “sociedade civil”. Nesse âmbito,discuto em pormenor não só a evuloção a que tal conceito tem estado sujeito, como as transformações que deve sofrer de modo a ser útil para a análise da criação progressiva de um “espaço público”, de uma “opinião pública”, e de “movimentos” de “participação política” no Continente.
Um outro debruça-se sobre os problemas suscitados pela exigência imperativa de uma real legitimação dos Estados africanos pós-coloniais. Nos dois casos, o papel do”jurídico” é central. Parece-me, no entanto, que seria todavia prematura e algo deslocada a discussão destes temas complexos num trabalho que não pretende mais do que delimitar âmbitos teórico-metodológicos para o estudo dos sistemas jurídicos em formação na África pós-colonial.
Parte I
INTRODUÇÃO
The African experience cannot be fully understood through its subordination, as it were, to the experiences of others. While an awareness of the experiences of others can be very useful from both a scholarly and a policy point of view, those experiences should not themselves become the implicit or explicit narratives from which the African reality is deduced. Africa needs to be understood primarily in terms of its own dynamics, which are the products of the interplay of internal and external factors. This project is one of the most important intellectual challenges confronting students of Africa at this stage of the continent’s history.
Adebayo Olukoshi (1999), “State, conflict and Democracy in Africa: the complex process of renewal”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 453, Lynne Rienner, Publications.
Instead of adding to Africa’s marginalization by asserting its cultural uniqueness, we see value in situating our studies within the ambit of mainstream analysis. [This will allow us] to highlight [its] singularity - as well as [its] similarity - [in relation to other parts of the world].
Michael Bratton e Nicolas van de Walle (1997), Democratic Experiments in Africa. Regime transitions in comparative perspective: 10.
1. ÂMBITOS E MÉTODOS GERAIS
É minha finalidade, neste trabalho introdutório
Para além das leituras atentas a que foi sujeito por Diogo Freitas do Amaral, António M. Hespanha, Manuel Pinto Barbosa, Jill Reaney Dias, Brian J. O’Neil, José Carlos Vieira de Andrade e João Caupers, o texto deste curto estudo introdutório foi lido e profusamente comentado (umas vezes no seu todo, outras em parte) por Ana Cristina Nogueira da Silva, Armando M. Marques Guedes, N’Gunu Tiny, Nuno Piçarra, Ravi Afonso Pereira e Rui Pinto Duarte. A versão final muito beneficiou com o feedback crítico resultante dessas múltiplas leituras críticas. A responsabilidade pelo produto final é, naturalmente e no entanto, inteiramente assumida por mim., esboçar uma visão de conjunto geral sobre o estudo dos Direitos Africanos contemporâneos tal como tento expô-la na disciplina a que se reporta. O que ensaio naquilo que se segue salda-se, por isso, em pouco mais do que numa primeira proposta para uma abordagem destes Direitos. Por razões óbvias, o ponto focal de muito do que aqui e aí trato está posto nos Direitos em vigor nos PALOP. Mas o âmbito de aplicação do esforço de análise que proponho é mais amplo.
Vale a pena começar por explicitá-lo. A expressão “Direitos Africanos”, no sentido em que a uso, não pretende fazer alusão a uma qualquer hipotética “família” de Direitos, nos termos em que, por exemplo, os juscomparatistas tendem a utilizar o conceito
Para uma discussão, breve mas muito desconstrutivista e precisa, sobre a relativa parcialidade analítica (apesar da sua utilidade prática) da noção de “famílias jurídicas” (ou “círculos” jurídicos) ver, por todos, Rui Pinto Duarte, 2000: 26-32. Curiosamente, para o Direito Comparado, a expressão Direitos Africanos parece abranger apenas os Direitos de uma ou de outra forma “originários” da África Negra (vd. K. Zweigert e H. Kötz, 1988: 58ss). Embora os esquemas taxonómicos utilizados variem ligeiramente de Autor para Autor, e se distingam um pouco uns dos outros no que toca às fundamentações encontradas para delinear semelhanças e contrastes entre sistemas (e portanto utilizadas para os agrupar), a arrumação que logram é bastante estável. Como irei argumentar em várias notas de rodapé, a classe (uma “família”, de acordo com a larga maioria dos especialistas) dos “Direitos Africanos” é das que me parece menos bem fundamentada: os denominadores comuns que exibe proviriam de hipotéticas semelhanças entre todos os grupos “negro-africanos” no que toca, designadamente, a ideais como o “comunitarismo” ou as “noções de propriedade” (cf. eg, R. David, 1982: 31ss). No entanto, e como tem sido muitas vezes notado, tais convergências poderão ser resultado de paralelismos no que toca ao seu nível de desenvolvimento e não indiciar, por isso, uma pertença comum a uma hipotética família jurídica própria da África. No que se segue prefiro a expressão “Direitos africanos” quando faço alusão ao conjunto dos Direitos existentes no Continente; apenas utilizo a denominação de “Direitos Africanos” quando pretendo aludir à disciplina ministrada ou à entidade criada por alguns juscomparatistas.. Este não é um estudo de Direito Comparado. Vi-me, tão-somente, na contingência de dever dar corpo a uma delimitação geográfico-continental implícita no título de uma disciplina que sempre existiu no currículo da licenciatura em Direito ministrada na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. O que se segue engloba tanto os Direitos lusófonos existentes no Continente, como os anglófonos e os francófonos. Inclui, ainda, os Direitos da família muçulmana lá implantados.
Convirá também não deixar de fornecer algumas explicações gerais no que diz respeito aos métodos que aplico. O ponto de vista que privilegio não se atém à assunção de uma postura analítica com preocupações e tonalidades estritamente jurídicas. Acrescenta-lhe uma dimensão sócio-antropológica, adicionando a esse olhar jurídico uma perspectiva panorâmica que veja essa normatividade como estando imbricada na concreção mais generosa que a aglutina a outras formas normativas que em África por via de regra a ela se agregam, e encarando-a ainda como estando embutida em contextos socioculturais muito específicos; tal como também a tenta redimensionar, entrevendo-a em termos histórico-políticos.
Uma curta última nota. Para além de no que se segue me restringir a uma abordagem meramente introdutória e tão-somente indicativa, a perspectivação que ora proponho quanto ao estudo dos Direitos africanos é apenas uma das várias possíveis. Se bem que não me limite a tal, encaro esses Direitos essencialmente do ângulo que melhor realça e que com maior nitidez põe em evidência o pluralismo a que dão corpo. Em alternativa, poder-se-ia, por exemplo, retratá-los de um mais amplo ponto de vista político, ou ainda de um ângulo cultural, para só enumerar duas outras possibilidades. Foi porém o do pluralismo o viés que preferi, se bem que muitos outros também fossem razoáveis.
A minha preferência não é inocente: ao escolher vislumbrar os Direitos que me proponho abordar no enquadramento disponibilizado pelo pluralismo que ostentam, privilegiei as tonalidades jurídicas na minha abordagem. A essa escolha adicionei outras, que cabe enunciar. O enfoque empírico em que entrevejo e configuro os pluralismos africanos é o dos relacionamentos entre os Estados pós-coloniais e as respectivas sociedades. Nos termos dessa moldura e com este enfoque, encaro os Direitos dos PALOP como sendo, no essencial, operadores complexos da comunicação política (uma comunicação muitíssimo negociada e contestada) existente entre as elites que controlam esses Estados e as sociedades que neles vivem
Ainda que este seja tema que não cabe desenvolver na economia deste estudo introdutório, algumas precisões parecem-me, a este respeito, apropriadas. Não pretendo, com a formulação que utilizei, asseverar que o Direito é, para as elites africanas que detém poder no Estado, o formato privilegiado com intencionalidade escolhido para comunicar políticas à sociedade. Embora obviamente tal possa ser (e muitas vezes é-o) o caso. Não é também minha intenção declarar, o que seria mais forte ainda, que o Direito seja de natureza no essencial semiótica, se esgote no seu formato comunicacional, e seja por isso passível de uma análise equacionada de acordo com metodologias linguísticas ou aparentadas. Por diversas razões, não creio ser esta uma sua descrição adequada, ainda que os factos empíricos se lhe ajustem de maneira interessante porque reveladora de conexões e afinidades electivas de fundo. Direitos exibem sempre aspectos performativo-pragmáticos que excedem largamente significados e ressonâncias semânticas (muitas vezes contrariando-os de forma ostensiva) das articulações a que dão corpo. Julgo mais apropriado, nesta linha, conceber a normatividade jurídica (em sociedades africanas ou em quaisquer outras) como com maior utilidade conceptualizável como estando de algum modo a meio caminho entre a linguagem e a acção, localização essa que, aliás, partilha com formas rituais..
O que não deixa de ter implicações, já que tanto estas escolhas quanto essa restrição naturalmente têm um preço. Assim, por exemplo, em resultado desta minha opção ficaram relegadas para uma relativa penumbra investigações tão cruciais como as que digam respeito ao apuramento do lugar estrutural destes Direitos no sistema internacional
Esta constitui uma das diferenças diacríticas entre a minha perspectivação dos Direitos africanos e a de Boaventura de Sousa Santos: enquanto Sousa Santos em última instância ancora os quadros explanatórios que vai gizando na localização-inserção e na funcionalização do lugar estrutural destes Direitos num “Sistema-Mundo” global e abrangente (vd., designadamente, B. Sousa Santos, 2003), prefiro mais modestamente encará-los em termos da dinâmica dos relacionamentos que vão vigorando, a um nível muito mais local, entre sociedades e Estados. Longe de se contradizerem, estas duas posturas analíticas parecem-me complementar-se mutuamente. Retomo este ponto noutras anotações em pé de página,bem como na última subsecção do ponto 4. deste estudo., aquelas outras que se prendem com dimensões económicas das ordens normativas na África contemporânea, ou ainda as relativas à oratória e retórica jurídicas, com formas sui generis no Continente.
Fazer uma escolha (quaisquer que fossem os seus termos e apesar do seu preço) era porém inevitável. Espero vir a abordar em trabalhos futuros esses e outros temas por ora secundarizados.
1.1. POR UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
Tendo em conta a perspectivação que decidi privilegiar, parece-me imprescindível que comece pela formulação de uma série de considerações prévias, já que por vezes atribuo a alguns termos campos semânticos que diferem dos convencionados no seu uso comum entre juristas.
Faço-o desde logo no que diz respeito ao âmbito de alguns dos conceitos a que recorro. “Direito” é termo aqui utilizado em sentido lato: abarca, por isso, os “usos e costumes” locais, para além da produção normativa dos Estados. Não exclui, também, os Direitos, que tão florescentes se têm mostrado na África contemporânea e a que decerto podemos chamar híbridos, já que são ordens normativas compostas por doseamentos variáveis (e ordenamentos muitas vezes sem uma lógica própria)
Este ponto tem sido enunciado por virtualmente todos os autores que se têm debruçado sobre Direitos africanos. Para duas discussões críticas recentes e sucintas quanto aos traços distintivos desta assimilação-aglutinação, ver N. Rouland (1994, original de 1988: 303-314) e, relativamente à integração num sistema jurídico, e sobretudo judicial, “ocidental” dos Direitos costumeiros sul-africanos, M. Mamdani (1996: 109-138). Os dois autores encaram os processos como expressão da vontade de controlo e dominação coloniais. Rouland fala nas “colonisations juridiques”; Mamdani na “theory of decentralized despotism”. de múltiplos elementos oriundos de vários fontes e integrando outros tantos ingredientes institucionais também muitíssimo diversificados.
O meu posicionamento de fundo é simples de enunciar: só pela adopção de uma franca pluridisciplinaridade será possível tornar inteligíveis os Direitos africanos contemporâneos
Sem prejuízo, naturalmente, de uma eventual convicção de que só pluridisciplinarmente se pode esperar tornar inteligíveis quaisquer Direitos, posição que neste trabalho sustento em várias notas de rodapé. Parece-me que os os estudos sobre Direitos africanos constituem, em todo o caso, um exemplo-limite das vantagens analíticas da transdisciplinaridade.. Sem descurar métodos jurídicos, um ponto de vista como este adiciona-lhes por conseguinte quadros e procedimentos analítico-interpretativos por vezes originários de domínios disciplinares tão diversos como a Antropologia Jurídica e Política, a Sociologia, a Ciência Política, as Relações Internacionais e a História
O que, de qualquer maneira, não redunda numa inovação. Citando Max Gluckman, um jurista cum antropólogo sul-africano e um dos pais fundadores tanto da Antropologia Jurídica como do estudo dos Direitos africanos, R. David (1982, op. cit.: 565) notou, com um tom de anuência, que “les auteurs européens se sont demandés, en présence de ce qui leur apparaît comme une inextricable confusion, s’il n’était pas artificiel de vouloir retrouver en Afrique et Madagascar notre notion du droit, et si le droit coutumier de ces pays ne devait pas être considéré comme un objet de recherche pour l’anthropologue plutôt que pour le juriste”. A resposta de muitos investigadores tem sido positiva..
Como é obvio, insisto, nenhum destes sucessivos redimensionamentos que levo a cabo é metodologicamente inconsequente
Independentemente das linhas de argumentação que vou preferindo relativamente a questões específicas, ou em paralelo com elas, cabe neste ponto uma breve alusão histórico-epistemológica a um tema que aliás retomarei (sempre em pé de página) ao longo deste trabalho: trata-se de pôr em evidência a irredutibilidade última da ciência jurídica, encarada como ciência do espírito, por contraponto às ciências da natureza, estas mais preocupadas em explicar do que em compreender. Esta renovação metodológica que veio romper com a convicção positivista de unidade metódica de todos os processos de conhecimento foi evoluindo ao longo do século XX. Um exemplo: o Direito Público teve de esperar pela Alemanha de Weimar para que lhe fosse reconhecida uma verdadeira autonomia dogmática, então proporcionada por aquilo que ficou conhecido como a “querela dos métodos” (Methodenstreit). Sobre esta evolução metodológica, decisiva para a compreensão de um novo conceito de Constituição (que nela encontra a sua possibilidade teórica), comentou Maria Lúcia Amaral “[p]or causa [da convicção de unidade metódica de todo o conhecimento científico], Laband isolara assepticamente a Constituição, o Estado, a lei e todos os restantes fenómenos jurídico-públicos de “nefastas” e acientíficas” considerações “extra-jurídicas”. Fechara o seu estudo às interferências da história, da filosofia e de tudo o que pudesse fazer parte do ambiente cultural envolvente – como se a ciência do direito público pudesse ser construída com total ignorância da especificidade teleológica dos fenómenos a que se dirigia”. E acrescentou ainda esta A.: “[a]s “teorias da Constituição”, que marcam a literatura alemã do princípio do século e que acompanham o destino histórico da República de Weimar, exprimem a resposta dada pela Methodenstreit a esta ignorância teleológica; cortam com o isolamento dos estudos do direito constitucional face à interdisciplinaridade; reabilitam a irredutível particularidade deste mesmo direito como direito político, sublinhando a especificidade teleológica do mundo que ele pretendia ordenar” (Maria Lúcia Amaral, 1998: 261-262). Um exemplo que (como irei insistir mais adiante noutras notas em rodapé) poderia facilmente ser generalizado a outros domínios do estudo e da análise do jurídico. Parte daquilo que pretendo no presente trabalho mais não é do que assegurar a implantação desta já histórica renovação metodológica, um acquis de raízes bem definidas (e uma renovação hoje aceite de forma praticamente universal), arvorando-a em um dos pontos de partida (se bem que não o único) para aquilo que me esforço por levar a bom porto na área dos Direitos africanos; um domínio em que a intrincação do político, do religioso, do económico, do histórico e do sociocultural no jurídico nos não pode (tal como o não fazia para os defensores e protagonistas da Methodenstreit) causar estranheza.. Este é um tema que, de uma ou de outra maneira, irei retomar ao longo de todo este trabalho.
1.1.1. A ENORME PROFUSÃO DE UNIDADES JURÍDICO-NORMATIVAS PRESENTES EM ÁFRICA: A DIVERSIDADE DAS FONTES
Mas há mais. Aduzir fundamentos empíricos e explicitar motivos teórico-metodológicos tornará decerto mais inteligíveis algumas das razões de pormenor para a minha preferência multidisciplinar.
Sublinharei três ordens de fundamentações para a escolha que a esse nível fiz. Uma delas, a primeira que me parece imprescindível referir, prende-se com a (muitas vezes enorme) profusão de unidades jurídico-normativas existentes na maior parte das sociedades instaladas no Continente africano.
Essa profusão é notória. Um pouco de recuo permite-nos pô-la em perspectiva. Comecemos pelo que nela há de mais óbvio. Não faria qualquer sentido ignorar a marca, em África, dos Direitos modernos
Para uma posição com bastantes afinidades com a que aqui assumo (ainda que, tanto quanto é possível apurar por uma leitura, sem totais coincidências a nível de pressupostos; e perseguindo objectivos e usando metodologias assaz diferentes), cf. o estudo juscomparatista introdutório sobre a pluralidade de fontes dos Direitos africanos de P.-F. Gonidec (1968): sobretudo pp. 2-3. Se é comum o reconhecimento da evidência de que coexistem na maioria dos Estados do Continente várias ordens normativas (sendo os Direitos estaduais apenas uma delas), mais rara é a assunção do facto de que é falacioso encarar os Direitos estaduais como idênticos (ou até semelhantes num sentido mais do que superficial) aos Direitos europeus em que tiveram origem. de várias origens europeias: directa como indirectamente, a impressão deixada, mais do que profunda, é muitas vezes dominante; como tem sido abundantemente sublinhado, esse imprimatur parece ter-se intensificado com as independências.
Todavia estes Direitos transferidos, cujas fontes e técnicas raramente coincidem com as locais, não são os únicos a reger a vida e as interacções sociais dos africanos. E não o são a vários níveis: a começar pela evidência de os Direitos estaduais em vigor nos novos Estados africanos não funcionarem verdadeiramente de modos idênticos aos Direitos dos Estados europeus em que tiveram origem. Mesmo quando e naquilo em que as suas arquitecturas normativas se assemelham às dos seus ordenamentos-fonte, seria um erro presumir que se trataria por isso de sistemas entre si directa e linearmente aparentados; bem pelo contrário, são “arranjos” que se vêem progressivamente alterados pelo simples facto de que nos novos contextos de recepção em que são inseridos convivem com outros ordenamentos, que brotam de matrizes socioculturais muito diferentes e que os não deixam incólumes
Se bem que esse não seja tema deste trabalho introdutório, convém notar que as inúmeras (e muito vezes profundas em consequências) alterações introduzidas pelos contextos de recepção, como lhes chamei, se aplicam desde sempre (por assim dizer) aos Direitos africanos: é, por isso, descabido presumir, por exemplo, que os africanos teriam sido recepientes e receptores passivos dos Direitos-fonte europeus que os inspiraram. Para uma discussão pertinente, ver a primeira parte do artigo-introdução de Jan Nederveen Pieterse e Bhikhu Parekh, (1995), que utilizo na bibliografia obrigatória da disciplina (ver Anexo 3)..
A situação hoje em dia vivida na maior parte do Continente (nalguns casos assumida, noutros não) é com efeito uma situação que não pode senão ser marcada por um efectivo pluralismo jurídico. E é-o num sentido pleno. O resultado das enormes confluências de ordenamentos que caracterizam a África contemporânea tende a ser a cristalização de configurações intrincadas que incluem tanto uma pluralidade de fontes como uma multiplicidade de planos normativos, que se interpenetram e interagem profusamente entre si
Desde há já muitos anos que os problemas de unificação e harmonização dos Direitos costumeiros e dos Direitos modernos africanos têm vindo a ser discutidos. Duas das colectâneas mais importantes a este nível são as organizadas pelo britânico A. Allot (1971) e pelos sul-africanos H. e L. Kuper (1965). Para uma discussão mais recente, B. Durand (2002), num artigo denso e exímio. É curioso equacionar o muito real dilema a que os líderes africanos pós-coloniais têm tido que fazer face, a este nível. Para muitos políticos africanos, almejar uma integração jurídica e judiciária tem sido encarado como um passo imprescindível para lograr construir uma sociedade mais homogénea e por isso mais pacífica. Enquanto que, para outros, ao contrário, respeitar a diversidade e heterogeneidade jurídica e judiciária existentes tornou-se essencial para, ao permitir expressões socioculturais alternativas, garantir o mesmo fim: erigir uma sociedade mais pacífica..
Se isso não inviabiliza a hipótese de estudar estes verdadeiros complexos normativos segundo metodologias jurídicas clássicas, não deixa porém de ter implicações, desta feita a um nível epistemológico de fundo
Quanto a estes pontos, ver N. Rouland (op. cit.) e o trabalho de recensão mais recente de J. Moret-Bailly (2002), em que não só a natureza multifacetada daquilo que tem vindo a ser entendido como pluralismo jurídico é discutido em pormenor, como ainda são perspectivadas as implicações metodológicas desses entendimentos. Apesar de tal tema não caber neste trabalho, compete notar que a própria noção de “pluralismo jurídico” tem vindo crescentemente a ser problematizada e a sua utilidade analítica tem sido mesmo posta em dúvida; para uma das muitas perspectivas críticas, ver B. Z. Tamanaha (1993).. Implicações essas que me parece essencial saber tomar em linha de conta, assumindo-as com frontalidade, se os quisermos compreender sem drasticamente os simplificar.
Exemplos disso abundam, e é fácil ilustrar o que acabei de afirmar com alguns. Um denso pluralismo jurídico e sociológico, com efeito, emerge um pouco por toda a África. Em muitos casos, a densidade manifesta é surpreendente. Exemplificando de maneira impressionística e sem querer entrar em detalhes que aqui não teriam cabimento: a Nigéria é um dos países africanos mais complexos a este nível, com leis de origem britânica a coexistir com sistemas indígenas de Direito costumeiro (um sistema para cada um dos trezentos e cinquenta agrupamentos etnolinguísticos oficialmente reconhecidos) e tendo adoptado (sobretudo no Norte do país) legislação islâmica, num complexo sistema tripartido. Como que para ainda intrincar mais as coisas, nalgumas jurisdições nigerianas, a shari’a islâmica é aplicada como uma variante do Direito costumeiro, noutras enquanto sistema separado e distinto
Uma situação que se começou a intensificar a partir de 1999, ano em que o Governador de Zamfara, um dos Estados do Norte da Federação, decidiu adoptar o “código criminal” shari’a (uma novidade, visto que a lei islâmica, até então, apenas tinha sido utillizada, sem grandes controvérsias, para questões de família). O efeito de bola de neve foi rápido: a prática alastrou e entre essa data e 2003, doze dos trinta e seis Estados nigerianos tinham anunciado que o código shari’a substituiria, nos territórios sob sua jurisdição, os códigos seculares até aí em vigor..
Um ilustração não-bantu leste-africana exibe o mesmo tipo de intrincação e complexidade. No Quénia estão instalados cinco níveis de Tribunais, entre os quais seis tribunais cádi. Vigoram entre os quenianos, para além de uma variante da common law britânica, o Direito muçulmano, bem como numerosos (contando-se por largas dezenas) Direitos consuetudinários; e, para casos ligados a casamentos, divórcios e sucessões, há no país tribunais com competência jurisdicional para receber questões e decidi-las em termos da lei hindu.
Estes não são casos isolados. Mesmo se sairmos das regiões do Continente de maior penetração islâmica, esta complexidade e este enredar de diferentes ordens normativas não se esbatem muito
Numa arrumação alternativa, baseada em critérios mais atidos a compatibilizações de regras e menos ligados às fontes destes Direitos: carregados com uma herança colonial que tendia (pelo menos na prática) a manter situações de marcadíssimos pluralismos jurídicos e jurisdicionais, alguns dos Estados africanos pós-coloniais ensaiaram esforços de harmonização de estruturas e procedimentos judiciais e uma homogeneização de regras de casamento e/ou sucessórias (foi o caso, designadamente, do Senegal e da Tanzânia). Nalguns dos casos, foi esboçada uma unificação sob a égide de Direitos de inspiração “ocidental” (o Senegal e a Costa do Marfim são dois dos muitos exemplos disso); noutros (como na Mauritânia ou no Sudão, eg.) foi empreendida uma tentativa funcionalmente equivalente, dessa feita no quadro de um outro sistema jurídico também bastante unificado, o do Direito islâmico. Em muitos casos ainda, os Estados pós-coloniais, com algum realismo, operaram (tant bien que mal) uma divisão do território e/ou da população sob sua tutela em jurisdições separadas (os casos da Nigéria, do Quénia ou do Congo, para só dar três exemplos, são testemunhos dessa estratégia alternativa). Outros Estados ainda, considerando prematuras (e, é curioso, potencialmente divisionistas) quaisquer tentativas de harmonização, as distinções normativas e jurisdicionais herdadas do período colonial foram retidas e, até, muitas vezes plenamente assumidas pelos respectivos líderes africanos.. Nos Camarões, na África Central, estão instalados três sistemas judiciários: um de common law, outro ligado ao Direito civil de origem francesa, e outros vinculados a Direitos costumeiros representando mais de duzentos grupos etnolinguísticos (no Sul deste Estado centro-africano influenciados pelo Cristianismo, no Norte pelo Islão). O Congo e Angola, ainda que sem influências muçulmanas fortes, não divergem muito deste padrão, apesar de, nestes casos, a situação de fluxo causada pela passado político-militar recente não o deixar tornar-se tão evidente para um observador externo.
Se virarmos a atenção para os Estados magrebinos do Norte, em que o Islão é hegemónico, a situação de pluralismo jurídico e jurisdicional mantém-se, numa convivência muitas vezes truculenta entre, por um lado, os ordenamentos ligados a essa religião revelada, por outro lado o Direito dos Estados (de matriz europeia) e, por outro lado ainda, as múltiplas normatividades tradicionais (e bastante mais localizadas) que por norma em muitas regiões continuam a marcar uma presença indiscutível. Muitos dos problemas políticos vividos nesses Estados são reconduzíveis, mais ou menos directamente, às dificuldades na assunção dessa identidade plural.
São com efeito fáceis de imaginar as tensões e conflitos que estes tipos de pluralismos densos desencadeiam, tanto na vida político-judicial destes Estados como no plano das investigações científicas levadas a cabo sobre estes “sistemas”. Sobretudo em áreas nevrálgicas da vida social, cultural e “política” como a família, o casamento, as heranças, a propriedade fundiária e as transacções materiais em geral, ou os mecanismos e dispositivos “judiciais” e “penais”, os problemas com que esbarraram tentativas de unificação ou, até, harmonização, cedo se fizeram sentir.
Como seria de esperar, este e outros tipos de conflitos e tensões (aliadas a flutuações político-programáticas de fundo que têm marcado a vida pós-colonial em África) têm levado a enormes fluxos e refluxos na composição e hierarquias evidenciadas nessa amálgama plural de ordenamentos, que se saldam por grandes avanços e recuos nos pluralismos jurídicos, jurisdicionais e sociológicos existentes no Continente
Fluxos e refluxos esses de origens variadas. As tentativas de unificação e harmonização a que aludi tiveram com efeito elas próprias várias fontes, na África pós-colonial. E muitos casos (designadamente no Quénia, ao tempo do Presidente Jomo Kenyatta), verificou-se que uma harmonização dos vários regimes em vigor (o estatutário, os costumeiros, os islâmicos e os hindus) não podia esperar por alterações jurisprudenciais acumuladas: deixados aos tribunais este processo de integração tornava-se lento e moroso, para além de imprevisível. A escalada dos riscos jurídico-políticos que isso envolvia para as agendas políticas nacionalistas quenianas e a distância do horizonte temporal levaram Kenyatta à conclusão de que o sector público do Estado também tinha de estar activamente envolvido no processo, tomando decisões políticas de fundo que agilizassem as convergências ansiadas; em 1967 foi, por conseguinte, nomeada uma Comissão que, curiosamente, recomendou a manutenção dos quatro tipos de contratos matrimoniais em vigor, limitando-se a sugerir a imposição de exigências básicas comuns a todos eles. Não é difícil encontrar, nos casos dos PALOP, paralelismos ostensivos. Note-se, no entanto, que para além de questões de prudência avisada, outros motivos há para que nem sempre estas intervenções políticas acelerem mudanças de formas muito significativas: já que tendem muitas vezes a resultar numa proliferação de comissões, a envolver morosas negociações entre forças políticas, e a tropeçar em concessões recíprocas quantas vezes lentas e laboriosas entre interesses públicos e privados.. Em resultado disso, a progressão diacrónica verificada é por via de regra tudo menos linear e não deve ser subestimada por quem verdadeiramente pretenda compreender as suas configurações: a complexidade existente é um verdadeiro alvo em movimento, o que não pode senão colocar entraves a quaisquer generalizações ou simplificações fáceis que possamos querer aventar.
A África “lusófona” não escapa a esta padronização geral. E isto apesar das especificidades que decerto patenteia. É verdade que, com a excepção da Guiné-Bissau
No que toca ao caso da Guiné-Bissau, é fascinante a leitura do artigo de A. de Silva Dias (1996), em que são discutidos problemas suscitados, no plano do Direito Penal (nomeadamente ao nível da responsabilidade jurídico-penal) guineense, por questões como a da prática tradicional do infanticídio ritual de crianças suspeitas de transportarem um ucó (um espírito maligno), comum entre as etnias Mancanha, Manjaco, e Papel. (e, em muito menor escala, Moçambique), os PALOP exibem variantes relativamente soft dos níveis de diversidade típicos da África subsaariana nos seus pluralismos jurídicos. Mas, de uma ou de outra maneira, não deixam de os exibir e de viver muitos dos problemas que isso acarreta
Ver os três exemplos que discuto na Parte II do presente trabalho, que os abordam segundo vários ângulos..
Depois de uma longa introdução, abordarei alguns exemplos lusófonos, com bastante pormenor, na Parte II do presente estudo.
1.1.2. A INTERACÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS PLURALISMOS JURÍDICOS AFRICANOS: A MULTIPLICIDADE DAS FORMAS NORMATIVAS
Uma segunda ordem de razões para preferir a interdisciplinaridade no que ao estudo dos Direitos africanos diz respeito, prende-se com um dos traços dos pluralismos jurídicos e jurisdicionais que acabei de pôr em evidência: a interacção dos seus elementos constitutivos. Uma questão fundamental, em vários dos sentidos deste termo.
O que mais interessante se afirma no estudo dos sistemas jurídicos africanos actuais é decerto aquilo que, ao mesmo tempo, os torna mais refractários em relação a quaisquer explicações simples e unitárias: a saber, o enovelar densíssimo das múltiplas ordens normativas que neles se conjugam, um entretecer que emerge sobre a base de uma difícil dissociabilidade entre os ordenamentos normativos estaduais “europeus” de que desses conjuntos fazem parte integrante e as matrizes culturais locais que muitas vezes tão profundamente os redimensionam.
Trata-se, infelizmente, de uma indissociabilidade que muitas vezes tendemos a subvalorizar. Tal como, aliás, tendemos também a subestimar a importância dessa trama, desse entretecimento ou enovelamento. Uma primeira aproximação dos fenómenos jurídicos na África contemporânea, por muito cursória que possa ser, revela-o porém com clareza. Com esse intuito, vale a pena determo-nos um pouco sobre estas características da estrutura desses Direitos.
Para melhor aflorar e entrever essas características estruturais, talvez seja útil começar a circunscrevê-las e identificá-las “de cima para baixo”, por assim dizer, do mais para o menos geral. Em muitos casos, porventura na larga maioria, a nível jurídico como em muitos outros planos, tradicionalismo e modernismo estão, nas sociedades africanas pós-coloniais de hoje, de tal forma entremeados
Um ponto magnificamente posto em evidência impressionística por Sally Falk Moore, jubilada em finais de 2002 como professora de Antropologia Jurídica em Harvard, quando escreveu que: “when, at the foot of Mount Kilimanjaro, one meets a blanket wearing, otherwise naked, spear-carrying Maasai man on a back path in the Tanzanian bush, one notices that he has a spool from a Kodak film packet in his earlobe as an earring plug. That earring alone is sufficient to indicate that he is not a total reproducer of an integrated ancestral culture. His film spindle is made of extruded plastic manufactured in Rochester, New York, his red blanket comes from Europe, his knife is made of Sheffield steel. Dangling from a thong around his neck is a small leather container full of Tanzanian paper money, the proceeds from selling his cattle in a government–regulated market. The price of his animals varies with world inflation. The roads nearby have buses with tourists. The international economy has penetrated everywhere. Ideas and information have moved with it. All peoples live within nations and have seen the silvery side of planes flying over their lands. The definitions of social part and social whole have changed” (1986: 4-5). É curioso verificar que, apesar da sua aparente actualidade, isto foi redigido há já quase uma geração. Não me parece carecer de demonstração que a generalização de situações híbridas deste tipo a domínios como o jurídico, o político, o religioso e o sócio-cultural, tornam difusas as fronteiras nocionais de conceitos histórico-sociológicos “clássicos” como os de “modernidade” e “tradição”. que se torna dúbia a utilidade analítica deste venerável par de conceitos
A invocação destes dois conceitos não deixa em todo o caso de constituir uma excelente arena para a luta pela supremacia. Para uma exposição, muito bem ilustrada com exemplos africanos contemporâneos, da manipulação dos ideais do modernismo por tradicionalistas apostados em manter o seu ascendente (nomeadamente os de matriz religiosa) e de alusão a “tradições ancestrais” por modernistas em busca e suplementos de legitimação, ver B. Durand (2002, op. cit.: 246-264)..
Mais uma vez, os exemplos empíricos abundam. Em largos sectores das vidas locais e nacionais vigoram, em muitos casos, variantes compósitas de Direitos “tradicionais”, porventura próximas dos modelos idealizados de formas normativas “originariamente africanas”
A expressão é de Geneviève Chrétien-Vernicos (2001), uma historiadora francesa do Direito, e com ela pretende fazer alusão àquele Direito em vigor em África que, segundo esta A., estará supostamente fora do âmbito do contacto colonial. Um Direito “intocado”, por assim dizer. Perspectivas destas, em minha opinião, dão corpo a visões idílicas e desfasadas de uma realidade empírica que se tem revelado como muitíssimo mais compósita e complexa do que aquela hipoteticamente vislumbrada por antinomias fáceis deste tipo. Uso aqui a expressão num sentido meramente alusivo, e faço-o com alguma ironia., mas que todavia exibem tons indeléveis deixados pelos Direitos “modernos” e estaduais “do Ocidente” com que convivem. Na maioria, senão na totalidade dos casos, essa interpenetração mútua dos ordenamentos em vigor é um dado empírico impossível de contornar.
É porém a um nível mais baixo de inclusividade que esse entrosamento e essa permeabilidade mútuas se tornam mais visíveis: em que as interacções melhor se manifestam. São com efeito muitas e variadas as “hibridizações” (ou “mestiçagens” se se preferir) a que as variantes compósitas a que fiz alusão dão corpo.
Destrincemo-las. Comecemos por notar que as interpenetrações exibidas não são unidireccionais. Por um lado, é intuitivamente evidente que as formas socioculturais africanas remodelam (em muitos casos profunda e radicalmente) as importações estaduais europeias. Por outro lado, e ainda que tal nem sempre seja tão óbvio, a presença de estruturas estaduais também age sobre, e reformata (de maneiras igualmente radicais e profundas), as formas socioculturais existentes nos meios em que se implantam.
Um momento de atenção torna-o claro. Não é raro, por exemplo, que conceitos transferidos para África como o de “justiça”, o de “sistema de governo semi-presidencialista”, o de “Boa Governação”, ou até o de “Democracia”, se vejam sujeitos a reconfigurações locais que muito mais do que os descaracterizar
Como, aliás, pode ser argumentada que qualquer cultura o faz (mesmo as “ocidentais”), dada o carácter de processo sempre inacabado que é o da Democracia., os re-caracterizam. Também não é raro o recíproco e inverso: é fácil a verificação, por dar um outro exemplo, de que as representações locais relativas ao domínio genérico daquilo que o Estado apelida de “conflitos” e da sua “resolução” (para só dar um de muitos exemplos possíveis), se lançam numa fascinante colagem verbal e categorial relativamente a figuras estaduais típicas, num mimetismo notável.
Sem pretensões de mais do que aflorar de forma muito breve e ligeira este último tema, esta segunda e menos óbvia parcela de uma interacção mútua, ponhamo-la em evidência com apenas um caso paradigmático, o do recurso a feiticeiros no decurso de conflitos em S. Tomé e Príncipe (uma prática comum num país onde o envolvimento dos tribunais é raro
Para uma discussão muitíssimo mais detalhada destas questões, ver a monografia Armando Marques Guedes et al. (2002): sobretudo 91-121.). Uma questão a muitos títulos fascinante.
A “colonização ideológica” do “popular” e do local pelo estadual, em S. Tomé e Príncipe, é neste domínio claríssima, não sendo precisa muita argúcia para a fazer sobressair. O tópico genérico dos discursos localmente entretidos no arquipélago sobre tensões sociais parece ser, no essencial, económico-político-moral; ou relevando, mesmo, de um vocabulário “jurídico” (e das representações nele embebidas) que parecem ter colonizado aquilo que talvez não seja abusivo descrever como “o imaginário e o vocabulário sociais e políticos” utilizados naquelas ilhas.
A incorporação sistemática deste vocabulário e desta imagética é, com efeito, de uma evidência notória
Em S. Tomé e Príncipe, esta “mestiçagem” verifica-se também em planos muito mais macro, configurando aquilo que apelidei de “um complexo de alheamento-mimetismo” (idem, op. cit.: 21), que subtende as relações entre Estado e sociedade civil. Prediquei aí esse complexo no que chamei as renitências e resistências da população face à natureza de um poder (sucessivamente esclavagista, “de plantação”, autoritário e, mais recentemente, totalitário) como aquele que os santomenses comuns tiveram de defrontar até à instauração, em 1990, da 2ª República pluripartidária.. São os próprios termos crioulos (ou portugueses) utilizados pelos santomenses no contexto de disputas interpessoais e inter-grupais em que são mobilizados feiticeiros e feitiçaria que o traem: pagá devê, dever, pagamento, contrato, sentença, castigo, disprezo, xicote, vingança, preso, justiça, mestre, paço do mestre, etc., (são estas as expressões “canónicas” e “tradicionais”, de algum modo vernáculas, utilizadas no arquipélago) são vocábulos que obviamente nos remetem para metáforas alusivas a subordinações económicas e à dominação política
E, ao que tudo indica, não se trata apenas uma questão terminológica. Tanto quanto consegui apurar, muitas das práticas “tradicionais” santomenses recorrem a um marcado mimetismo relativamente às estaduais suas afins. Assim, por exemplo, há fortes semelhanças entre a distribuição espacial das personagens em ocorrências jurídico-políticas públicas e colectivas e os protocolos “consuetudinários” aí seguidos e os seus equivalentes funcionais estatais; ou entre as formas (bastante formalizada, adversarial e “mediada” por um discurso com pretensões à isenção) tradicionais e estaduais de encaminhamento de conflitos interpessoais no arquipélago. Como escreveu, num outro contexto, Gyan Prakash (2002: 28), é sempre um erro subestimar “the extent to which community mimics the modern state”. Um tema fascinante para investigações futuras. Para uma discussão interessante quanto aos usos e às conotações dos conceitos de “hibridismo” e “miscegenização” na imagética colonial e pós-colonial portuguesa, ver Miguel Vale de Almeida (2002)..
O fundamentos desta miscigenação são assim tornados nítidos. Os vocábulos utilizados realizam isomorfismos que nos remetem para situações e vivências sociais, expressam correspondências extraídas decerto da experiência histórica dos santomenses, depois entrevistas em quadros conceptuais por sua vez marcados por uma “juridicidade contratualista” de ecos também curiosa e claramente estatizantes, ou “estadualistas”
Acrescentemos, no entanto, uma consideração suplementar: é interessante verificar (neste exemplo santomense como em vários outros por toda a África pós-colonial) os diferentes níveis de permeabilidade à “colonização ideológica” aqui em causa: a aparente porosidade ideológica das elites, que tendem a preferir, de maneira linear, adoptar “por atacado” modelos europeus, e a porosidade relativamente menor do resto da população, que ao que tudo parece indicar instrumentaliza antes “à peça” e em termos porventura mais tradicionais, apenas uma poucas das figuras e alguma da terminologia “importada”.. Um ponto a que faço questão de regressar, ainda que exceda o âmbito introdutório daquilo que tento equacionar no presente estudo introdutório.
1.1.3. A IMBRICAÇÃO-DISSEMINAÇÃO DE FUNÇÕES: AS VÁRIAS DIMENSÕES DA NORMATIVIDADE NAS SOCIEDADES AFRICANAS CONTEMPORÂNEAS
Fascinante como essa hibridização recíproca possa ser, isso não é porém tudo. Como muitos juscomparatistas têm vindo a sublinhar
Para me ater a apenas alguns exemplos, fá-lo R. David (1982), como o faz L.-J. Constantinesco (1983), como ainda também K. Zweigert e H. Kötz (1987)., a interpenetração estrutural (porque é disso que de facto se trata) entre ordenações jurídicas locais e importadas, entre ordenamentos modernos e tradicionais, estatais ou “consuetudinários”, formais e informais, exprime-se num conjunto verdadeiramente pluridimensional. Um agregado cujos limites e fronteiras não são, ademais, claramente definidos: facto de que uma das consequências é uma grande imbricação-disseminação de funções. O que forma uma terceira ordem de razões para a minha preferência pluridisciplinar: já que a interdependência e a pulverização consequentes redundam num posicionamento estrutural do jurídico na vida social concreta que não deixa de ter sérias implicações que importa saber tomar em linha de conta.
As manifestações dessa dispersão e desse entrosamento funcional são bem conhecidas. Virtualmente sem qualquer excepção, nos Direitos Africanos “reais” contemporâneos é difícil separar de maneira enxuta o jurídico do ético e moral, o normativismo religioso de todas essas outras formas, ou até o jurídico do político, embrenhado como aquele está em relações de poder, dominação e subordinação
A meu ver, são essencialmente as considerações deste tipo aquelas que realçam a futilidade de quaisquer tentativas que visem abordar o estudo dos Direitos africanos em termos jurídicos puros. Facto que não tem passado despercebido aos analistas que sobre estas questões se têm debruçado. Não é difícil compreender porquê. Como notou, para o tornar a citar, P.-F. Gonidec (ibid.: 2-3), “en Afrique plus qu’ailleurs, le droit ne ne peut pas être isolé, sinon artificiellement et arbitrairement, des autres phénomènes. Il n’est pas un univers clos qui se suffirait à lui même, étranger a tout ce qui n’est pas sa propre substance”. Pena é que, deste facto estrutural, raramente se derivem as necessárias implicações metodológicas..
Por outras palavras: não é nítida a separação-distinção entre, por um lado, os “elementos jurídicos” e, por outro lado, os “elementos externos ou metajurídicos”. Mais do que falar em ordenamentos normativos discretos de natureza seja jurídica, religiosa, política, seja ética ou moral, em África parece pois preferível fazer alusão a aspectos jurídicos (ou éticos e morais e religiosos ou políticos) de todos os ordenamentos compósitos existentes.
1.2. A COMPLEXIDADE ESTRUTURAL DESTES DIREITOS
As três ordens de factores que destrincei potenciam-se uma às outras e são cumulativas. À diversidade de fontes e à multiplicidade de formas exibidas, acresce assim o vai e vem permanente de “mestiçagens”, e junta-se deste modo um nível ulterior de complexidade estrutural: a adveniente de uma enorme fluidez, tanto no recorte que exibem quanto no seu lugar social de inserção, ou até nas articulações socioculturais que exprimem e a que dão corpo.
As consequências de tudo isto parecem-me inelutáveis. São precisamente a densidade da intrincação, a multiplicidade de pontos de aplicação, e a indefinição formal dos conjuntos normativos presentes (tudo isto características com origem nas três ordens de factores que enumerei) aquilo que clama por métodos mais abrangentes em relação aos âmbitos e contextos socioculturais em causa. Aquilo que pede uma maior atenção aos enquadramentos dessas normatividades e uma inclusão destes nas nossas análises. Este é um passo que me parece imprescindível saber dar, já que as barreiras, de outro modo, serão muitas e difíceis (senão impossíveis) de transpor.
Diligências pluridisciplinares parecem-me constituir para isso um boa receita. Mais do que uma reperspectivação, os complexos normativos africanos, como lhes chamei, exigem, enquanto realidades socioculturais densas que são, que façamos um esforço de redefinição dos objectos de estudo para assim levar a bom porto uma sua análise séria, rigorosa e com um fundamento empírico suficiente
No seguimento de notas anteriores: há outra maneira de dizer isto, porventura menos difusa, ou pelo menos bastante menos indirecta, do que esta: uma qualquer circunscrição prévia do que seja o jurídico (seja qual for a coerência e até o interesse intrínseco da sua fundamentação apriorística) é factualmente arbitrária. Uma solução metodológica mais amiga do rigor consiste antes em, a partir da realidade objectiva que se analisa, então sim formular a posteriori um conceito de jurídico adequado a essa mesma realidade. Um ponto a que regressarei no âmbito do presente estudo. Gostaria, no entanto, de ir aqui um bocadinho mais longe. Entre nós (e também a este propósito), no domínio específico do Direito Constitucional, escreveu memoravelmente, no ano distante de 1969, Rogério Soares, “[n]este modo de sistematicamente fechar os olhos à realidade constitucional, o pensamento positivista conduz a uma hipostasiação das soluções constitucionais históricas, que se absolutizam na sua fisionomia formal como quadros de sentido intemporal completamente estranhos a valores. Fórmulas como Estado de Direito, Democracia, Separação de Poderes ficam assim imobilizadas, com o perigo de mais tarde se manifestarem incapazes de corresponder às alterações profundas da realidade constitucional. Donde pode surgir a tentação de as lançar pela borda fora como peças totalmente inúteis, criando-se a obrigação de forjar outras novas que as substituam” (R. Soares, 1969: 27). Um alerta que nem sempre se tem sabido acatar. para que a morfologia plural e a dinâmica que os caracterizam sejam plenamente assumidas e ponderadas
Como será evidente, a utilização estreita de metodologias jurídicas “clássicas” na investigação sobre Direitos africanos é não só perfeitamente legítima mas também decerto útil. Nisso se empenham as numerosas instituições académicas que, em muitos dos países do Continente (no caso dos PALOP, as excepções são Cabo Verde S. Tomé e Príncipe, dada a ausência nos respectivoa arquipélagos das instituições de Ensino Superior para o efeito imprescindíveis), se especializem no estudo dos Direitos positivos (sejam eles estaduais ou híbridos) em vigor nos seus próprios territórios e entre as suas populações. Mas limitar a investigação sobre estes Direitos ao estudo mais ou menos dogmático das suas eventuais expressões positivas condena-nos, na melhor das hipóteses, a conhecê-los sem verdadeiramente os compreender. O risco maior é o de, no processo de restrição das análises àquelas elaboradas segundo os métodos clássicos da ciência jurídica de filiação e matriz ocidental ou islâmica, nos estarmos a acantonar numa perspectiva que nos permita apenas aprender a manusear entidades cujas estruturas e dinâmicas inevitavelmente nos escapam.. Ainda que de forma tentativa, é o que tento fazer.
2. POR UMA REPERSPECTIVAÇÃO (PELA) POSITIVA DOS DIREITOS AFRICANOS
Seria contudo um erro presumir que as escolhas metodológicas impostas pelo reconhecimento desta notável, densa e fascinante complexidade estrutural, como a apelidei, constituem os únicos obstáculos que se erguem no caminho dos estudiosos dos Direitos africanos pós-coloniais. Uma outra dificuldade (esta mais comezinha) com que deparamos prende-se com uma enorme ignorância existente a seu respeito.
É um desconhecimento que impede uma melhor ponderação científica destes tão multidimensionados ordenamentos. Porque se trata de uma omissão que, mais que no-los ocultar, dá azo a que preconcepções, muitas vezes marcadas por uma enorme carga ideológica subreptícia, se substituam aos resultados de esforços sérios de investigação.
Gostaria agora de me voltar para este ponto.
2.1. AS INSUFICIÊNCIAS EMPÍRICAS E A FALTA DE SISTEMATICIDADE DOS ESTUDOS EMPREENDIDOS
Com o intuito de melhor esmiuçar esta questão, talvez valha a pena começar por sublinhar que, em África como no resto do Mundo, os Direitos africanos contemporâneos são com efeito realidades infelizmente pouco conhecidas e por norma muito mal sistematizadas
Pior, ainda, se atendermos ao facto de que os esforços de estudo e sistematização têm quase sempre persistido em manter uma divisão malsã entre os vários ordenamentos jurídicos coexistentes. A regra parece infelizmente ser a de num momento e num quadro estudar uma das parcelas destes Direitos (eg. a estatal de origem europeia) e, noutro quadro e momento, estudar cada um dos outros que com ele convivem, como se se tratasse de entidades integralmente destacáveis umas das outras e distintas entre si. Esta perspectivação exprime uma espécie de curioso “primordialismo desenvolvimentista”, que atribui mais importância às fontes e à origem histórico-genética das ordens normativas do que à sua articulação empírica presente. E presume uma separabilidade entre essas ordens que raramente se verifica.. Realidades essas, para além do mais, imaginadas como sendo pouco coesas e muito incompletas, no sentido em que é reputado faltar-lhes o que talvez possamos chamar integridade sistémica.
Mais: é precisamente esse desconhecimento genérico aquilo que viabiliza construções conceptuais tão mal fundamentadas como a ideia de que existiria um Direito Africano, enquanto entidade geral e abstracta de algum modo unitária que subjazeria às suas várias expressões locais concretas. A escassez de informações é gravosa. Isto não é verdade apenas no que diz respeito aos estudos de natureza jurídica: mesmo os trabalhos históricos, ou sócio-antropológicos, sobre temas jurídicos africanos, sendo tantas vezes fascinantes, para além de bastante informativos e reveladores, são parcos e por via de regra muitíssimo localizados (espacial e temporalmente). O panorama é, a muitos títulos, incipiente. E dados os preconceitos com que tendemos a vislumbrar esses Direitos, os esboços aventados são a muitos títulos enganadores.
Não é tudo. Mais grave e limitativo no plano das omissões, os estudos levados a cabo são, por essas razões, bastante exíguos (não obstante o número enganadoramente grande de publicações existentes); e tendem a restringir a atenção à arquitectura normativa de algumas parcelas dos Direitos estatais formais vigentes
Para me ater tão-só a exemplos “lusófonos” e sem quaisquer intuitos críticos quanto a estudos decerto excelentes: esse é manifestamente o caso de trabalhos como a monografia de A. Simango (1999) sobre a Constituição moçambicana, ou a colectânea sobre as autarquias locais nesse país, um volume organizado por A: Mazula et al. (1998); neste último exemplo, constitui excepção o artigo de Vitalino Canas (1998), sobre a “autoridade tradicional” e o “poder local”, que dele consta. em África, em geral daquelas de maior maleabilidade instrumental. Em alternativa e ao invés, manifestando algum voluntarismo, as poucas investigações publicadas não vêem na normatividade estadual senão uma instrumentalização de conveniência para benefício, mais ou menos directo, das elites detentoras do poder
Restringindo-me ao mesmo âmbito, exemplo paradigmático é a entrada recente sobre Direito angolano, incluída numa enciclopédia de Direito Comparado (H. M. Kritzer, Legal Systems of the World. A political, social and cultural encyclopedia), da autoria de Alexandre M. Mestre (2002), que contém afirmações e informações verdadeiramente extraordinárias. Para além de, na sua informação, o A. se restringir ao Direito do Estado (o que a própria Constituição angolana não faz) são aí arroladas, por exemplo (op. cit.: 53), atribuições e competências a uma entidade que em Angola nem sequer existe, i.e. um Tribunal Constitucional, que no texto é contraposto (“apart from the Constitutional Court”, idem) ao Supremo Tribunal, esse sim existente. O “sistema de Governo”, que em Angola é desde o início da 2ª República semi-presidencialista de pendor presidencial, é caracterizado pelo A., no contexto de uma descrição do sistema normativo formal angolano (ibid: 52) como “a strong presidential system”; materialmente porventura tem-no sido num sentido forte, com um interregno de vários anos sem que um Primeiro-Ministro fosse nomeado como mandava a Constituição; mas não, decerto, em termos formais. Mais no sentido do texto do presente estudo introdutório, a “informação” de Mestre inclui afirmações curiosas tais como “any journalist who writes an opinion article critical of the government or reveals news the leaders want suppressed is either arrested or expelled from the country” (idem, 54). Um exagero que não deixa de ser interessante.; e muitas vezes tendem a reificar a importância (e a exagerar o peso e a centralidade) que quereriam ver atribuídos às ordens normativas costumeiras
Na Bibliografia Suplementar que disponibilizo aos estudantes da disciplina de Direitos Africanos (e que aqui incluo em Anexo), arrolo muitas das principais referências bibliográficas pertinentes para o estudo destes Direitos. Sem querer ser mais que meramente indicativo: depois de uma primeira fase (que decorreu no essencial durante os períodos coloniais), em que o estudo dos Direitos em África tendiam a ser conduzidos segundo uma perspectiva antropológica pura e a restringir-se à investigação sobre os “usos e costumes tribais”, estas duas posições têm emergido uma a seguir à outra, na evolução mais recente dos estudos levados a cabo sobre os Direitos africanos pós-coloniais. A subdivisão, em fases, desta “segunda época”, parece corresponder, by and large, à lógica das conjunturas políticas que se sucederam com as independências: passou-se, assim, de um primeiro momento, em que o Estado se tornou no centro de todas as atenções analíticas, para um segundo, de um renascimento “nativista” bastante generalizado [para uma discussão iluminada sobre a progressão jurídica pós-colonial verificada em África, ver o esplêndido texto de R. David, de 1984: 97-110, no Capítulo 3 do II Volume de (ed.) V. Knapp, 1984] . A última fase desta progressão parece ter coincidido, temporalmente, com as mudanças políticas ocorridas em muitas sociedades africanas nos finais dos anos 80 e inícios dos 90 (época em que ocorreram as célebres “transições democráticas”), que tanta força vieram dar às sociedades civis urbanas, bem como com as alterações dos palcos internacionais, que tiveram como resultado uma enorme aceleração de processos de integração global (cujas consequências, para os africanos, foram tão profundas quanto são mal conhecidas). O estudo histórico-sociológico desta progressão das análises sobre Direitos africanos é um tema fascinante e sub-investigado. Na subsecção 3.1. deste estudo retomo esta questão com muitíssimo maior pormenor, se bem que num contexto menos geral, relativamente a um exemplo concreto que tomo como paradigmático: o do reconhecimento das “autoridades tradicionais” pelo poder político central.. Em qualquer dos casos, trata-se de limitações que geram enviesamentos de peso.
À escassez quantitativa e temática há assim a acrescentar um idealismo e um formalismo enganadores, atributos que permeiam muitos dos trabalhos de investigação empreendidos. Ou, pelo contrário, há a adicionar-lhe uma “politização” dissolutora da relativa autonomia do jurídico, uma redução sensível em muitas das publicações existentes. A resultante exprime, em ambos os casos, um empobrecimento analítico vincado. O que, por sua vez (e num círculo vicioso) é agravado pelo marcado parcialismo de que padecem quanto à circunscrição de um objecto de estudo inevitavelmente induzido por qualquer uma dessas duas tendências antinómicas.
As consequências desse tipo de polarização não são de minimizar: só raramente estão tais estudos focados, em simultâneo (e num quadro analítico unitário), tanto na textura estrutural complexa que caracteriza estes sistemas jurídicos quanto no seu desfasamento em relação à vida social concreta vivida pelas numerosas, e muitas vezes tão diversificadas, populações que, em África, lhes estão (com um maior ou menor grau de intensidade) de algum modo sujeitas
Em termos mais práticos, essas não são as únicas dificuldades com que depara a elaboração de uma disciplina deste tipo. Trata-se, ademais, da primeira vez que uma cadeira com um conteúdo como este é ministrada numa Universidade pública portuguesa, com todas as severas limitações de tradição pedagógica, didáctica, e de disponibilidades bibliográficas, que isso inevitavelmente acarreta. É verdade que está em curso, no âmbito desta Faculdade, um projecto recente de investigação sobre Direitos Africanos, integrado por grupos que se deslocaram já a Cabo Verde, a S. Tomé e Príncipe e a Angola. E as recolhas e análises desenvolvidas nesse âmbito servem de suporte empírico e metodológico para voos mais altos. Mas os seus resultados não são por ora tão extensos nem tão minuciosos quanto seria de desejar (embora se espere que o venham a ser)..
Uma omissão que é particularmente grave em contextos, como a maioria dos africanos, em que são patentes fossos tão marcados entre uma law in action e uma law in the books como aqueles que aí se vivem.
2.2. POR UMA REPERSPECTIVAÇÃO DOS DIREITOS AFRICANOS ENQUANTO FIGURAS CONTRA FUNDOS
Todavia, mesmo na conjuntura de relativa rarificação que descrevi alguma coisa pode, com utilidade, ser asseverada. A maior parte daquilo que lemos e ouvimos sobre Direitos africanos pós-coloniais tende, curiosamente, a ser formulado de uma perspectiva “externa”, de maneira amorfa e em termos generalistas; e, pior, tende a ser equacionado pela negativa.
São assim comuns as asserções, por exemplo e para retomar aquilo que antes disse, segundo as quais estaríamos “em África” (sendo tacitamente assentido que apenas está em causa a África subsaariana, numa delimitação, ao que parece, puramente geográfico-racial ou, numa variante eufemística desta perspectiva, em termos de uma circunscrição “civilizacional”
Esta foi a posição alvitrada por R. David (na primeira fase da sua produção científica, nos anos 50), em Portugal veiculada inicialmente por Inocêncio Galvão Telles e depois por J. de Oliveira Ascensão (citados e discutidos de maneira crítica em R. Pinto Duarte, 2000, op. cit: 27-32). Outros autores portugueses, porventura com alguma prudência, restringem-se a meras alusões a “famílias”, de entre as quais a “africana”, sem entrar em quaisquer pormenores (cf. eg.. Carlos Ferreira de Almeida, 1998: 34) quanto à sua realidade ou conteúdo; este último A., em obra mais recente sobre o ensino e método do Direito Comparado (C. Ferreira de Almeida, 2000: 116-117), alerta-nos para “o problema [...] geral da comparabilidade entre sistemas jurídicos cujo diferente estádio de desenvolvimento económico deriva de diferentes alicerces sociais e culturais” e para as “dificuldades” daí resultantes. Parece-me pouco crível que, uma vez prevenidos quanto a este tipo de barreiras conceptuais, possamos querer insistir na viabilidade de bem fundamentar uma delimitação de “famílias” (ou “círculos”) a partir de um conjunto híbrido e díspar de “sistemas jurídicos”, apenas com base numa sua hipotética unidade racial, geográfica, ou até de fontes.) perante sistemas pouco amadurecidos, que resultariam muitas vezes de simples transplantes directos, integrais e acríticos, das formas vigentes nas “ex-Metrópoles coloniais”. Tratar-se-ia de importações que exibiriam, como outros aspectos deficitários seus (à guisa de alterações e acrescentos) laivos de produções locais pouco sofisticadas. Isto para além de serem sempre, por essas e por outras razões, dispositivos localmente mal implantados
Parece ser, para o citar, mais uma vez ainda, a posição de R. David (1982, op. cit.: 579) ao lamentar que “en voulant réaliser prématurement le régne du droit conçu à l’européene, on a boulversé l’ordre de sociétés qui réglaient leur existence par d’autres moyens et qui n’étaient pas preparées à accepter l’idée européene moderne du droit”. De acordo com este género tão comum de formulações estaríamos por conseguinte, “em África”, perante sistemas no essencial imperfeitos, marcados por incompletudes várias, sistemas cujo alcance tanto territorial como cultural quase invariavelmente muito deixa a desejar. Coroa esta representação negativa a ideia, quantas vezes veiculada, segundo a qual, de par com os Direitos dos Estados (e, segundo estas modelizações, em muitos casos com eles envolvidos em perigosos “conflitos de competências”), existiriam “em África” (mais uma vez sem quaisquer distinções) formas jurídicas consuetudinárias, que expressariam uma juridicidade tradicional e por conseguinte mais espontânea. Formas essas que, de acordo com estas formulações, brotariam de fontes e estariam dotadas de mecanismos próprios de legitimação inteiramente dissociados daqueles e com eles largamente incompatíveis..
Se bem que muitas destas delineações críticas tenham óbvio fundamento factual (e enquanto esquematizações aproximativas retratem, com alguma fidelidade descritiva, vários dos traços distintivos dos sistemas jurídicos africanos modernos), a adopção de uma postura analítica deste tipo esconde mais do que revela, entorpece mais do que esclarece. Justifica-se decerto tentar rapidamente apurar algumas das razões para isso. Deparamos, por um lado (e para revisitar de um outro ângulo questão que atrás aflorei), com a hipótese segundo a qual seria possível basear a caracterização nocional de uma “família jurídica” de acordo com critérios raciais e/ou geográficos, hipótese essa que exprime, como é evidente e tal como insisti, um reducionismo pouco convincente
Como escreveu R. Pinto Duarte (2000, op. cit.: 29-30), este impensado racial (o termo é meu), mesmo quando escondido sob uma guisa “civilizacional” eufemística, torna analiticamente inúteis quaisquer “famílias” que sirvam para tentar circunscrever: a sua total relevância enquanto critério não me parece carecer de demonstração..
Um módico de sobriedade traz à tona uma razão suplementar para um saudável cepticismo. Para retomar de maneira mais detalhada o que antes disse, e alterando-lhe o ponto de aplicação, é de sublinhar que no Continente africano se encontram sistemas jurídicos de origem bantu (da Nigéria a Angola e de Moçambique ou do Zimbabwe à Namíbia), de par com outros, leste-africanos (do Sudão à Tanzânia, passando pelo Quénia, a Etiópia e a Somália), de raiz diversa
Facto que, curiosamente, não impede autores como G. Chrétien-Vernicos (2001, op. cit., logo nas primeiras páginas), de insistir numa “origem histórica comum” que “agora” conheceríamos, para fundamentar a sua ideia de que se poderia falar num Direito Africano unitário. Posição, aliás, partilhada por diversos autores franceses empenhados em encontrar denominadores comuns nos Direitos negro-africanos francófonos, que apelidam de Direitos Africanos (abrindo, normalmente, uma excepção para o caso manifestamente especial e irredutível de Madagáscar).. No Norte dominam ordenamentos islâmicos. No Sul, as influências romano-germânicas são marcadas (e muitas vezes fortissimamente hibridizadas, tal como nalguns Estados equatoriais “francófonos” desde o Gabão ao Congo ou ao Burkina Faso ou ao Ruanda e Burundi, ou no extremo austral do Continente, na África do Sul) por ligações a sistemas afectos a um common law (no Gana e nos Camarões, designadamente).
O pluralismo jurídico e sociológico exibido em África, tal como sublinhei, também é de geometria variável. E são múltiplos, no Continente, os seus ingredientes de base. Sem me querer repetir, vale a pena reiterar a traço grosso algumas das coordenadas da sua formatação externa.
Nalguns casos (por exemplo em muitos dos Estados muçulmanos), não é clara a separabilidade entre normas e ordens jurídicas e normas e ordens ético-religiosas
No sentido forte de não ser claro que a consigamos levar a cabo de maneira inteiramente satisfatória, seja qual for a persistência dos nossos esforços para o lograr.. Noutros, o jurídico não é fácil nem porventura efectivamente dissociável da área mais difusa do parentesco e do conjunto denso de prescrições e proscrições que o subtendem; e esta, por sua vez, dificilmente (se de todo) se consegue destrinçar do político. Como insisti, a situação, longe de ser simples e homogénea, não pode senão ser caracterizada pela sua complexidade estrutural e variabilidade.
Mas por outro lado, de um ponto de vista metodológico não será também difícil compreender o porquê da ofuscação causada por tal tipo de posturas de análise. A questão é lógico-formal: perspectivações negativas dão origem a definições de objectos conceptuais em termos de características que aqueles não têm, em lugar de as fundamentar nos traços que efectivamente estão presentes. Tal só pode ser justificado em termos de um comparativismo tácito e apriorístico que, ao subordinar as descrições que faz destes sistemas àquelas que presume noutros, acaba insidiosamente por os subalternizar nessa justaposição.
Démarches analíticas deste género, infelizmente comuns, parecem-me descaracterizar gravosamente os Direitos africanos. Redundam numa postura intelectual lesiva para o seu estudo e eventual compreensão. Pois que, substituindo a descrição deles por uma subsunção, estes Direitos acabam por ser definidos, de forma que não pode ser senão grosseiramente abusiva, por aquilo de que carecem, e nisso tão-só por o que não são senão características específicas de outros sistemas. Em resultado, a procedência metodológica de pré-compreensões (chame-se-lhes assim) reducionistas deste tipo ou, talvez melhor, a sua solvência teórica, parece-me dúbia.
Decerto muito mais útil será tratar estes ordenamentos jurídicos, em termos seguramente mais construtivos, segundo aquilo de que efectivamente estão dotados, de acordo com as suas partes realmente constitutivas e em termos das propriedades que disso decorrem. E delineando-os tal como eles se apresentam. Ou seja, encarando a complexidade exibida, nas suas várias dimensões e em toda a sua plenitude; vendo-a como um facto estrutural que carece de um enquadramento metodológico capaz de sobre ele produzir análises que lhe façam justiça; e tentando gerar, para essa sua caracterização, explicações que tenham um mínimo de utilidade científica.
Reconfigurar pela positiva o estudo dos Direitos africanos contemporâneos
Ou, aliás, o estudo de quaisquer outros Direitos não-Ocidentais de hoje, já que na ordem internacional liberal que se tornou hegemónica depois da implosão da União Soviética, muitos dos Estados pós-coloniais asiáticos, por exemplo, debatem-se com dilemas de pluralismo jurídico e jurisdicional do mesmo tipo. Com a aceleração crescente na circulação de pessoas e o esbatimento da impermeabilidade nacional soberana que as transformações globais têm acarretado, não é de excluir a hipótese de que essa complexidade estrutural e esse pluralismo tenha chegado também, de forma irreversível, aos Direitos do “Ocidente” (cf. as teses a este respeito formuladas por Mireille Delmas-Marty, 1999, que propõe a utilização de “lógicas não standard” como a “lógica dos conjuntos flexíveis” para dar conta das entidades jurídicas multidimensionais geradas pelos processos actuais de globalização na Europa). (sobretudo se uma das finalidades almejadas for a de tentar levá-lo a cabo num quadro analítico unitário que não pressuponha um tratamento separado do Direito estadual, das normatividades híbridas e dos Direitos ditos consuetudinários), implica de algum modo “sociologizar” e “historicizar” a nossa análise dos domínios em que se move e é decantado o jurídico (ainda que não exija necessariamente que o devamos fazer a um nível ontológico mais profundo), desenhando para tal conceitos que logrem abarcar e resolver a densíssima complexidade estrutural que em África com tanta visibilidade e nitidez por via de regra o caracteriza
Cabe aqui um longo comentário de enquadramento teórico-metodológico. Ao falar em “sociologizar” e “historicizar” a análise dos domínios em que se move e é decantado o jurídico, não pretendo de maneira nenhuma subordinar o Direito (seja enquanto sistema objectivo seja enquanto sistema científico) a uma realidade que o transcende. Bem pelo contrário, reconheço-lhe uma relativa autonomia. O que não será novidade em Portugal, onde desde há muito esse tipo de reperspectivação tem sido enunciado: lapidar foi, mais uma vez, Rogério Soares, a propósito da necessidade absoluta da abertura dos juspublicistas à realidade constitucional: “[e]sta atenção para com a realidade não significa, porém, uma capitulação. Dizer que a constituição não é independente dos dados históricos concretos do seu tempo, não significa que ela seja pura e simplesmente dependente deles” (R. Soares, 1969: 30); o A. prosseguiu, afirmando que as transformações estruturais sentidas no seio da sociedade (vd. Jürgen Habermas, 1965) “faz[em] surgir para o jurista preocupado com os problemas do Estado a obrigação de articular os seus tradicionais processos de interpretação dogmática com os meios de interpretação funcionalista das ciências do comportamento” (op. cit.: 33-34), alimentando a esperança de “a ciência do direito [poder] aproximar-se das outras ciências sociais e a pouco e pouco ir quebrando o gelo que as separa. Não só quebrar o gelo provocado por ela mesma, ao considerar as novas indagações da ciência política ou da ciência da organização como temas de ciências doutro clima, mas diminuir também a ‘fria distância’ com que estas ciências encaram as possibilidades de conciliação com a ciência do direito. Esta conciliação impõe à ciência do direito a necessidade de tratar o seu objecto de modo particular: em vez de se voltar para indagações sociológicas individualizadas, tentar acentuar imediatamente que numa sociedade moderna existe um dado fundamental, um sistema normativo de ordem jurídica. A sua tarefa será a de descobrir a função do direito na sociedade de hoje” (idem: 34-35). Diga-se que R. Soares, a par desta “necessidade” contextual e histórica que motivou uma profunda reflexão sobre o objecto e o método do Direito Constitucional, encontrou como sua causa um certo descomprometimento por parte da juspublicística em relação ao formalismo da sua ciência (razão que explicaria, segundo o A., o predomínio do Direito Administrativo até esse momento): “[u]ma espécie de complexo de inferioridade dos publicistas em face do direito civil vai atirá-los, desde os tempos de um Laband, para a investigação daquele sector onde mais facilmente se possa construir um sistema estritamente jurídico, apto a surgir sem vergonha em frente da secular dogmática dos outros juristas. Assim, por este processo de afirmação da independência, não admira que os publicistas viessem a exercitar-se nos temas que lhes parecem homólogos dos que fizeram glória do direito privado” (ibid.: 7). Em minha opinião (ecoando R. Soares) só a partir de uma revisão geral destas se torna pensável a construção aberta e atenta de um melhor Direito. Esta posição distingue-se com clareza do “sociologismo” oitocentista e noventista menos criterioso, na sua variante comum entre alguns dos juristas da I República em Portugal.. Redunda, em última instância, não apenas numa redefinição, em termos mais abrangentes e inclusivos, daquilo a que chamamos “Direito”; mas ainda numa espécie de “teoria unificada” da normatividade, em todas as suas expressões no âmbito dos relacionamentos sociais.
Felizmente, apesar de pouco desenvolvidos, estes processos de gestação conceptual e de alargamento de inclusividade de noções e modelos não são esforços inteiramente novos. Bem pelo contrário. Muita da Antropologia Jurídica recente se tem vido a debater com este tipo de questões
Têm-no feito, para só dar alguns exemplos relativamente ao estudo dos Direitos africanos contemporâneos, Sally Falk-Moore (1986.) a partir da Law School de Harvard, John Comaroff e Simon Roberts (1981) na Faculty of Law da Universidade de Chicago e no Law Department do London School of Economics, June Starr e Jane F. Collier (1989) em Stanford, Jacques Vanderlinden em Bruxelas, ou Norbert Rouland e o extenso Laboratoire d’Anthropologie Juridique da Faculté de Droit da Sorbonne, dirigido primeiro por M. Alliot e hoje por E. Le Roy, ou ainda o Centre Droit et Cultures da Université de Paris X, Nanterre, fundado por A. Verdier. Vários investigadores holandeses (mais focados, no entanto no Sudeste asiático), sediados sobretudo na Universidade de Leiden, têm tido preocupações semelhantes. Não é fácil encontrar unidade teórico-metodológica na produção destes e doutros autores e agrupamentos que se têm debruçado sobre Direitos africanos. Mas os dados estão lançados, em sentido literal e figurativo.; tal como, aliás, também o têm feito muitos historiadores e sociólogos do Direito.
Em todas estas áreas numerosos conceitos têm vindo a ser propostos
Conceitos úteis que vão desde a famosa noção “realista” de uma “law stuff” (que tentativamente traduzo por “substância jurídica”) entre os índios Cheyenne, datada de 1942, pensada por K. Llewellyn e E. A. Hoebel, à ideia de “legal levels” de Leopold Pospisil, em 1967, a outras como o de um “rule-generating and enforcing power” de vários grupos sociais de Sally Falk-Moore, 1978, !986, naquilo que esta autora apelidou de “semi-autonomous social fields”. Todas estas (e muitas outras) noções abrem caminho para essa teorização unitária tão precisa. Retomarei noutro lugar o desenvolvimento que este tema (que não cabe directamente na economia do presente trabalho de introdução) me parece merecer. por forma a abranger, em simultâneo, as produções normativas estaduais, as religiosas, as éticas e morais, as políticas, e as consuetudinárias, num mesmo enquadramento analítico integrado que as permita explorar a todas em conjunto. O esforço a empreender para essa reconfiguração fica por isso facilitado. Importa conseguir fazê-lo fruir em análises histórico-sócio-antropológicas concretas de âmbitos “jurídicos” africanos
Apenas um exemplo, dos muitos possíveis: um passo nesse sentido foi o de Jean-Pierre Olivier de Sardan (1996, 1999) com a sua conceptualização de um “economia moral da corrupção” em África, enquanto expressão de “lógicas culturais” específicas potenciadas por formas organizacionais próprias. Para um esboço de aplicação deste modelo a um dos PALOP, ver o estudo de Gerhard Seibert (2001: 462-465) sobre a operação de redes de parentesco, amizades, e favoritismo, nos processos políticos contemporâneos em S. Tomé e Príncipe..
No que se segue do presente trabalho tento esboçá-lo, tal como de resto o tento delinear na disciplina de Direitos Africanos que gizei. Faço-o, naturalmente, tentando dar passos de maneira tão sistemática quanto possível.
Começo por disponibilizar algum enquadramento histórico-genealógico ponderado quanto a duas questões interligadas: primeiro, quanto à progressão da articulação-entrosamento entre Direitos de origem europeia e os Direitos africanos “locais”; em segundo lugar, quanto à evolução dos estudos (pelo menos daqueles cuja natureza é não-dogmática) empreendidos sobre os Direitos plurais complexos que em África se têm vindo a cristalizar. Viro-me depois para estudos concretos de caso, focalizados em exemplos africanos “lusófonos”.
Nas duas subsecções que se seguem da presente introdução, abordarei as duas primeiras dessas questões na ordem em que as enunciei. Quanto ao terceiro dos passos que enumerei, reservo-o para a Parte II deste trabalho, que lhes sucede.
Em primeiro lugar, no entanto, urge dizer alguma coisa quanto à natureza genérica e ao papel social preenchido pelo Direito em África.
2.3. O PAPEL SOCIAL E AS FUNÇÕES DO DIREITO EM ÁFRICA
De uma maneira muito geral e tão-só em termos de um esboço, cabe aqui delinear um possível enquadramento unitário para um estudo, pela positiva, dos tão complexos e multidimensionados ordenamentos plurais em vigor na África pós-colonial contemporânea.
Trata-se de sugerir um quadro de análise (apenas tentativo e indicativo, e sem quaisquer pretensões teóricas de fundo) que nos permita abarcar, no seu conjunto, tanto quanto nos seja possível dos complexos normativos com que deparamos. Aquilo que está em causa é lograr a delineação de um quadro que torne analiticamente exequível esmiuçar, em simultâneo, os Direitos estaduais “de fonte europeia”, os Direitos islâmicos (e/ou hindus), e as normatividades consuetudinárias, mais ou menos hibridizadas, com que convivem.
Vários enquadramentos podem ser utilizados, que preencheriam bem essa função, desde uma perspectivação que dê realce à natureza funcional e maximizante dos princípios normativos em jogo a outras que, ao invés, frisem antes os aspectos dos Direitos mais atidos ao exercício do poder por parte de Estados que são quer fracos, quer autoritários, ou que estão controlados (o que, naturalmente, não é incompatível com as duas perspectivas anteriores) por elites neo-patrimonialistas apostadas numa apropriação “privada” e predatória dos bens sob sua jurisdição. Ou, ainda, aquelas outras que preferem pôr o seu foco empírico na dimensão essencialmente cultural desses Direitos, condenados por via das exigências crescentes de uma maior ressonância simbólica e de uma inteligibilidade local, a adquirir a par e passo uma integridade normativa própria que lhes confira um suplemento de uma legitimidade que por vezes tão urgente é na África de hoje. Todas estas perspectivas têm a sua razão de ser e encontram, na África contemporânea, algum fundamento.
Não será excessivo simplificar asseverando que tem havido três grandes “famílias”, por assim dizer, de interpretações dos Direitos africanos contemporâneos
Para esta divisão tripartida de predilecções teóricas quanto ao estudo dos Direitos (law) africanos, é útil a leitura do esplêndido artigo de S. Falk-Moore (2001: sobretudo pp. 95-99), o texto de uma Huxley Memorial Lecture, proferida em 1999 na Universidade de Manchester, sobre a progressão de conceptualizações-interpretações histórico-sociológicas sobre os “fenómenos jurídicos” dominantes nas ciências sociais dos últimos cinquenta anos. Aplico aqui para um caso particular (o dos Direitos africanos) a arrumação-modelização mais geral que esta A. delineia.. Uma delas insiste em encarar estes Direitos como nuns casos gizados e noutros modificados pela “tradição” e pela cultura (cultura aqui na acepção de uma colectânea de costumes, valores, hábitos e práticas, mantidos ao longo do tempo). Trata-se de uma “leitura” de claros ecos durkheimianos e weberianos, que hoje em dia tem sido retomada em investigações sócio-jurídicas africanistas tão diversas como as de Clifford Geertz
Escuso-me de dar as referências precisas sobre os autores a que aludo nestes três parágrafos, visto todas estarem incluídas no programa da disciplina da Direitos Africanos que incluo na Parte III do presente estudo., Paul Bohannan, Norbert Rouland ou Lawrence Rosen, por exemplo.
Outra destas famílias de interpretações prefere encarar as funções essenciais e o papel do Direito como expressão de interesses de elites e dos poderosos, vendo-o antes como uma forma de dominação. Esta é uma leitura de ecos mais marxizantes e, no que diz respeito a estudos sobre África, tem sido esgrimida por autores tão díspares como Pierre Bourdieu, Francis Snyder, ou a própria Sally Falk-Moore. É deste tipo, para além disso, a perspectivação mais comummente assumida pelos defensores (hoje em dia porventura a maioria dos politólogos que estudam os novos Estados do Continente) da utilização de modelos “neo-patrimonialistas” para explicar as versões mais recentes dos Estados africanos pós-coloniais.
A terceira e última destas três perspectivas, é a partilhada por numerosos juristas dogmáticos e é mais funcional e abstracta. Encara os Direitos africanos como sendo no essencial (tal como, aliás, todos os outros Direitos) um mecanismo racional desenvolvido para minimizar conflitos e resolver problemas interpessoais e intergrupais. A aplicabilidade desta perspectiva, também de ecos weberianos, a África foi, famosamente, defendida por Max Gluckman e pelos seus seguidores.
Como é evidente, estas três perspectivações aparecem, na maior parte dos casos, profusamente interligadas umas com as outras; apenas o doseamento de um ou outro dos ingredientes varia, no que tendem a ser análises compósitas que tomam os três factores (cultura, poder, e coerência racional) em linha de conta
Uma palavra de advertência, na sequência, aliás, de notas anteriores. Proponho esta constelação tripartida de “famílias” em termos puramente operacionais. Será porventura possível (e até interessante) articulá-las num plano mais próximo da ontologia jurídica strictu senso, segundo distinções de orientação metodológica detectadas, por exemplo, na progressão do pensamento jurídico moderno como aquelas que o subdividem no “historicismo” de Savigny, na “jurisprudência dos conceitos” de Puchta e o “racionalismo” de Windscheid, no positivismo jurídico de von Jehring, e na mais recente “jurisprudência dos valores” ou “da valoração”. Para uma discussão “clássica” (datada da segunda metade do século XX) destas diferentes orientações, equacionada do ponto de vista da metodologia do Direito ver, por todos, Karl Larenz (1997, original de 1991: sobretudo pp. 9-261); para uma perspectivação mais histórica sobre as mesmas ver, também por todos, Franz Wieacker (1993, original de 1967: sobretudo pp. 397-536 e 645-679). Para uma meta-discussão desta complexíssima progressão, ver António M. Hespanha (1998, original 1997: 137ss). Não pretendo, neste breve trabalho, mais do que sugerir feixes de perspectivações operacionais. Deixo assim para segundas núpcias um eventual deslinde das articulações de pormenor entre este plano, ou nível, que proponho, e o plano mais jurídico-metodológico-ontológico que refiro na presente nota e noutras anteriores..
Para as discutir neste estudo, abordá-las-ei a partir daquela que mais impacto tem tido nos estudos (não-dogmáticos) levados a cabo sobre Direitos africanos: a culturalista. Quais são as implicações que decorrem de uma perspectivação que entreveja os Direitos de África como parcelas das culturas presentes no Continente?
Muito sucintamente, sustentá-la traz três vantagens que são óbvias. Em primeiro lugar, encarar a funcionamento empírico de cada um destes Direitos como fazendo parte integrante da operação de uma cultura minimamente coesa (no sentido específico de dotada de um módico de coerência), considerando-os por conseguinte pela positiva, torna possível que tomemos consciência do facto de que “sistemas jurídicos” são, em simultâneo, sistemas de acção social e sistemas de significação. Tal resulta facilmente da observação, que nesse quadro se torna evidente, de que “Direitos” (africanos ou quaisquer outros, aliás) dão sempre corpo a maneiras de tentar juntar (e não se atêm a meras formas de escolher entre) interesses sociais concretos e significados culturais abstractos. Para além de empiricamente mais unitária e abrangente, uma observação dessas não é, de maneira nenhuma, um acquis neutro: bem pelo contrário, previne-nos de que, embora a sua operação enquanto conglomerados normativos não seja decerto nunca totalmente indeterminada
Discuti-lo levar-nos-ia para os meandros, fascinantes mas localizados para lá do âmbito deste estudo, dos limites da coerência normativa destes sistemas jurídicos., sistemas jurídicos são sempre entidades com algum carácter intrínseco de imprevisibilidade, por se tratar de entidades dotadas de uma forte dose de abertura.
Em segundo lugar, entrever os Direitos vigentes em África enquanto dando corpo a formas culturais torna-nos possível começar a compreender (de um ponto de vista que é de algum modo uma variante do dos africanos comuns) factos socioculturais puros e duros, que muitas vezes nos parecem ser “distantes” e estar “separados” da vida quotidiana local por se encontrarem como que embebidos em todo o tipo de formalidades e racionalizações. Embora uma perspectiva menos imediata e “horizontal” seja de indubitável utilidade analítica (já que viabiliza algum recuo em relação aos dados empíricos a explicar), um ponto de vista como este constitui, como é evidente, uma das suas dimensões incontornáveis, delimitando um plano (ou, talvez melhor, uma camada) factual que devemos tomar em linha de conta na nossa reconstrução racional dos objectos jurídico-normativos em estudo.
Em terceiro lugar, o enquadramento dos Direitos de África nas culturas locais (e este ponto resulta dos dois anteriores) torna possível deslindar alguma da lógica interna de práticas e teorias sociais particulares: as dos actores sociais africanos concretos que estão sob escrutínio. Conquanto seja seguramente possível tratar estes dois planos (o normativo abstracto e o experiencial concreto) sem os articular um no outro, interligá-los acrescenta alguma inteligibilidade a ambos.
Estes três níveis são, é claro, apenas separáveis em termos analíticos; devemos por conseguinte tê-los todos sempre em mente no decurso de um qualquer estudo que estejamos a empreender. Põem em evidência pressupostos de fundo que importa explicitar. E operam uma repartição funcional (precisamente nos termos da tripartição fundacional proposta por Falk-Moore) dos papéis destes tão complexos Direitos e dos lugares sociais que eles ocupam.
Se olharmos as coisas de um ângulo mais pragmático, estou a insistir em dois pontos fundamentais, de resto muitíssimo bem enunciados por dois africanistas norte-americanos, Sally Falk-Moore e Lawrence Rosen. Por um lado, estou de algum modo a fazer eco à posição de Lawrence Rosen quando este asseverou (fê-lo no contexto do seu esplêndido trabalho sobre o funcionamento de pormenor de tribunais cádi marroquinos) que “the analysis of legal systems, like the analysis of social systems, requires at its base an understanding of the categories of meaning by which participants themselves comprehend their experience and orient themselves toward one another in their everyday lives”
L. Rosen (1989), xiv. Antropólogo cum jurista, Rosen ensina na Universidade de Chicago, tendo-se especializado nos Direitos magrebinos contemporâneos, designadamente no Direito marroquino... Trata-se de uma formulação culturalista “interna”, por assim dizer; uma formulação que delineia um quadro analítico que aponta para uma predilecção nítida com noções subjacentes com as de adequação, afinidade, ou ajustamento.
Por outro lado, no entanto, estou também a tentar escapar a um ângulo de visão tão profunda e puramente fenomenológico como esse; faço-o vestindo a perspectivação culturalista com uma indumentária (por assim dizer) mais pragmática. Qualquer coisa de não muito diferente das famosas “fabrications”
Cf. a sua já citada e exemplar monografia sobre uma “invented tradition” de que constariam “customary laws” leste-africanas, em S. Falk-Moore (1986). de Sally Falk-Moore: decisões normativas, seja qual for a sua natureza, saldam-se sempre, no fundo, por inovações levadas a cabo enquanto “exploitations of conventions”, mais ou menos utilitárias ou teleológicas, suscitadas em contextos de “engagements” específicos, conjunturais e concretos, entre actores sociais. Uma outra formulação, a que agora subjazem ideias como a utilidade, a de instrumentalidade, ou até a de manipulação
Aquilo em que estou a tentar insistir não redunda, por isso, numa atitude de descrença quanto às conexões estruturais e intrínsecas entre Direitos e culturas (e muito menos ainda numa qualquer defesa de uma verdadeira dissociabilidade destas duas noções). Exprime antes uma reserva, equaciona uma cláusula de limitações, visa impor restrições no que a essas indubitáveis conexões diz respeito..
Fá-lo porém, por outro lado ainda, sem descurar os óbvios elementos de coerência interna e sistémica que (mesmo se de maneira fragmentária e pejada de incompletudes várias) esses Direitos não podem deixar de exibir. Muito nos Direitos africanos também tem essa dimensão, weberiana se se quiser, uma vertente de mecanismo racionalizador que, pelo menos em termos funcionais e operativos, está vocacionado para a minimização do impacto de conflitos pessoais e sociais, actuando como instrumento eficaz na resolução de tensões e disputas.
2.4. AS VERTENTES SOCIOCULTURAIS DOS DIREITOS AFRICANOS: UM QUADRO POSITIVADO E RELATIVIZADO
Torna-se agora mais fácil enunciar em pormenor de que forma podemos dar conta da interdependência patente entre as três perspectivas empíricas que, a meu ver, dada a multidimensionalidade densa e plural de que são dotados os complexos normativos em vigor no Continente. Ou seja, é agora mais simples apurar como essas três perspectivações se devem entrosar num estudo sobre um Direito africano contemporâneo. Um estudo que, como insisti, faça questão de os configurar pela positiva. O formato metodológico que sugiro é compósito e assenta na complementaridade existente entre elas.
Os Direitos africanos são mais inteligíveis se encarados, em simultâneo, como sendo expressões culturais, como dando corpo a formas de dominação e poder, e também enquanto entidades vocacionadas para expressar mecanismos racionais virados para a resolução de problemas concretos. Temos aqui uma perspectivação unitária e construtivista que, como sugeri, nos permitirá uma melhor análise destes tão intrincados e pluridimensionais complexos normativos.
É evidente que assumir esta postura metodológica não se salda num unitarismo analítico muito forte, visto que tanto a mecânica postulada como a dinâmica dela resultante presumem a presença actuante não de um factor mas antes de um conjunto deles. Um conjunto de factores, ademais, cujas características são mais descritivas do que analíticas. Trata-se porém de um patamar que nos oferece a possibilidade de facilmente articular os Direitos vigentes no Continente com os processos de entre-definição mútua dos Estados pós-coloniais nele instalados e das sociedades civis que se vão cristalizando nos territórios sob as suas tutelas. Os vários Direitos do Continente distinguem-se uns dos outros pelo doseamento relativo dos três ingredientes que identifiquei e pela dinâmica, sempre variável, da sua interacção recíproca.
A unidade analítica que sugiro para o seu estudo é assim relacional e passa por um enquadramento unitário que me parece ser fortíssimo: aquilo que está em causa é a necessidade de proceder a análises dos Direitos africanos contemporâneos que os reponham, com toda a firmeza analítica, nos seus âmbitos próprios, que são (pelo menos são-no a nível interno
Já que, a nível externo, os Direitos de articulam também obviamente com a ordem internacional implantada. Um relacionamento que os processos de globalização tem vindo a intensificar. Para uma discussão interessante dessa articulação externa, é útil a leitura de Boaventura de Sousa Santos (2003, sobretudo no capítulo 1 do 1º volume), que defende a sua centralidade em casos como o de Moçambique. Parece-me porém exagerada, como insisti, a asserção de que articulações externas seriam preponderantes em todos os Direitos em vigor em Estados “periféricos”, a não ser que utilizemos o expediente de definir “periferia” precisamente nesses termos.) os dos laboriosos e complexos relacionamentos que se vão estabelecendo entre as respectivas sociedades civis e os Estados presentes
Como é evidente, este enquadramento unitário que sugiro de maneira nenhuma se restringe aos Direitos em vigor em África; se esse fosse o caso o meu esforço redundaria numa mera redefinição dos critérios de inclusão de um grupo de Direitos numa “família” de Direitos Africanos. Parece-me muito mais defensável a ideia de que o enquadramento que proponho sirva como moldura metodológica para a análise unitária de quaisquer Direitos. .
Para regressar brevemente à minha questão-quadro nesta subsecção: se esse for o caso, será então um qualquer Direito (insisto, africano ou outro) verdadeiramente redutível a uma mera forma de expressão cultural?
No que toca a África (como aliás no que respeita a qualquer outra parte do Mundo) demasiado estreita e unívoca Direitos e culturas está pejado de riscos. Enquanto forma de acção, expressando sempre interesses para além de significados, todo o Direito produz, fabrica, cria, inventa; e fá-lo sempre (e fá-lo inevitavelmente, pois é assim que um qualquer Direito se torna culturalmente inteligível e se legitima) explorando convenções socioculturais em conjunturas de envolvimentos concretos de actores sociais uns com os outros. Facto que não deixa, decerto, de o redimensionar enquanto ordenamento normativo. Mas convém notar que se um ordenamento jurídico tem algum domínio próprio, e conquista, ou mantém, alguma especificidade sua (e por conseguinte algum grau de autonomia), esses são atributos que um Direito só adquire se o campo social em que funciona lho admite, nos termos em que este lho permite e fá-lo sempre retendo algum carácter de instrumento político. Parece-me que a resposta a esta pergunta deve ser negativa.
Não é particularmente difícil conseguir melhor equacionar esta dúvida epistemológica. Basta, para isso, esmiuçar um pouco os pressupostos intrínsecos (e muitas vezes tácitos) que subtendem tais correspondências redutoras. Julgo fundamental frisar que há um número de conexões diferentes (articulações que é essencial saber distinguir) que se escondem por detrás do postulado aparentemente unívoco e pouco problemático segundo o qual Direitos seriam parcelas de culturas. Um mínimo de atenção revela-nos que afirmá-lo pode querer significar coisas bastante diferentes umas das outras. E alerta-nos para o facto de que não deve haver confusão entre estes vários sentidos (tão independentes uns dos outros) que se escondem por trás das relações que possamos querer afirmar existir entre um Direito e uma cultura
Numa colectânea que já citei, de artigos de qualidade desigual, alguns dos quais sobre África, (eds.) J. Starr e J. Collier (1989) agregaram uma série então novas perspectivações pragmáticas, numa tentativa de renovação dos estudos antropológico-jurídicos..
Cabe aqui cartografá-las. Quando equacionamos um Direito e uma cultura africana, podemos estar a afirmar, alternativamente
Retomo aqui, sem grandes alterações, aquilo que escrevi num artigo relativo aos sentimentos de justiça em Macau sobre a natureza “cultural” do Direito (law): Em termos muito semelhantes aos que utilizo nos próximos parágrafos, distanciei-me então das perspectivas culturalistas enraízadas naquilo que S. Falk-Moore (2001: 96) tão graficamente intitulou “the elementary forms of social unanimity” (Armando Marques Guedes, 2003b). A sistematização de alternativas que aqui exponho segue de perto os termos formais da discussão brilhante de Steven Lukes (1973: 417-418) quanto às conceptualizações de Émile Durkheim relativas ao que este apelidou, ao bom estilo oitocentista francês, a “éducation morale”. O meu ponto focal, no entanto, é muito diverso: poisa nas maneiras alternativas de formular postulados, de acordo com escolhas teóricas sustentadas em bases diferentes.,
(i) uma definição dos Direitos africanos segundo a qual um instituto, ou instituição jurídica, se torna legítimo se e só se for apontado na direcção de uma finalidade ou de um interesse cultural;
(ii) uma definição dos Direitos africanos segundo a qual um instituto, ou instituição jurídica, se torna legítimo se e só se for motivado por preocupações ou quaisquer outros sentimentos culturais;
uma definição dos Direitos africanos segundo a qual um instituto, ou instituição jurídica, se torna legítimo se e só se for culturalmente prescrito e/ou congruente com as ideias e os valores do grupo social em tem assento e vigora;
a alegação de que uma cultura, ou talvez melhor, um contexto social, é uma precondição para a existência (seja ela um prerequisito conceptual, uma exigência prática, ou ambas as coisas) de um dado instituto ou instituição jurídicos; ou, finalmente, numa versão mais abrangente e ambiciosa,
a hipótese empírica segundo a qual a adesão a um sistema jurídico (que incluiria a atribuição de legitimidade a valores e bens jurídicos específicos, e envolveria deferência e acatamento em relação a decisões de uma autoridade soberana particular) é algo socialmente determinado; como corolário disto, o preceito metodológico de que o sistema jurídico em causa pode ser explicado nesses termos.
Todos os pontos enumerados são defensáveis e em vários momentos têm sido advogados por diversos autores que sobre a questão se têm vindo a debruçar. Todos podem ter uma enorme utilidade analítica. Para todos eles se pode invocar alguma fundamentação. Mas diferem imenso nas implicações que geram.
Repito: visto que as resultantes da interacção entre significações e interesses são sempre tão imprevisíveis, quaisquer interpretações estreitas de um Direito ancoradas num seu eventual ajustamento substantivo em relação a uma cultura são, seguramente, ao mesmo tempo insuficientes e excessivas. Argumentar que um Direito (insisto mais uma vez, um Direito africano ou um qualquer outro) equivale apenas
Para um colecção inovadora de artigos, alguns deles relativos a casos africanos, sobre estas conexões e relativamente a elas e à sua ligação com a “moralidade”, ver o livro editado pela norueguesa Signe Howell (1997). È útil também a leitura do riquíssimo estudo monográfico, durante anos tão injustamente ignorado, de T. O. Beidelman (1986), sobre os meandros da “moral imagination” dos Kanguru da Tanzânia. a mera expressão de uma cultura, implica que assumimos que os cinco tipos de relações que postulei tenham pesos idênticos, no sentido de todas elas se ajustarem, simultaneamente, aos factos empíricos observáveis. O que nem sempre será o caso, como é fácil (mesmo se apenas intuitivamente) de verificar.
O que não parece compatível (ou sequer congruente) nem com a complexidade estrutural nem com o multidimensionamento, nem ainda com a fluidez de fronteiras que, como vimos, caracterizam os Direitos pós-coloniais em África. A equação entre cultura e Direito nunca é senão parte da verdade. Mas constitui seguramente uma parcela destes ordenamentos normativos complexos que, como iremos confirmar mais adiante, sobre eles tende a exercer enormes pressões conformadoras, à medida que as sociedades africanas contemporâneas se vão autonomizando e democratizando.
Um pouco de contextualização histórico-sociológica torna tais pressões evidentes.
3. O RECONHECIMENTO PROGRESSIVO DA PLURALIDADE DE FONTES DO DIREITO EM ÁFRICA E OS AVANÇOS E RECUOS NO ESTATUTO DESTAS
Depois de um longo período de dois ou três séculos em que as influências europeias exercidas foram ténues, localizadas, avulsas e altamente variáveis, toda a África passou, em meados do século XIX, a estar sob tutela colonial
É habitual traçar a linha em 1884-1885, data da célebre Conferência de Berlim que, ao impor o controlo efectivo de territórios e populações como condição para uma legítima invocação de tutela colonial pelos Estados europeus, desencadeou o início de um autêntico “scramble for Africa”. Apenas a Libéria, criada em 1822 pelo Presidente norte-americano James Monroe como entidade soberana liderada por ex-escravos libertados “devolvidos” ao Continente, não chegou a estar sob controlo europeu. de europeus. A nível dos mecanismos de controlo social em operação no Continente, o facto adensou mais ainda uma situação que era já complexa. Sob o que se convencionou chamar colonialismo, em quase todas as unidades territoriais e populacionais reconhecidas no Continente africano (e que correspondiam, grosso modo, aos futuros Estados pós-coloniais, tanto no Magrebe como na África subsaariana) funcionavam, em simultâneo, diversos sistemas jurídicos.
A atitude formal das administrações coloniais perante este facto não foi de maneira nenhuma unitária
É imensa a bibliografia a este respeito, e não faria muito sentido aqui discutir os meandros das suas linhas de força. Para duas perspectivas e problematizações alternativas quanto aos sentidos dos processos de “juridificação” e judicialização coloniais em África, sugiro a leitura de Mahmood Mamdani (1996, op. cit.: 62-138) e de Martin Chanock (1985). Para uma contextualização recente fascinante e muitíssimo diferente, ver Edward Keene (2002: 60-120), que propõe um modelo que contrasta (com algum maximalismo, em minha opinião) “tolerance” e “civilization” como princípios complementares que subjazeriam ao desenvolvimento progressivo da regulamentação gizada e promulgada relativamente às relações “internacionais” entre, respectivamente, os Estados europeus entre si, e estes vis à vis as suas “colónias”.. Sem querer operar distinções finas que não caberiam na economia desta trabalho introdutório, não é abusivo concordar com R. David
R. David, op. cit.: 570-571. No que diz respeito a comparações juspublicistas entre sistemas jurídicos europeus (neste caso, designadamente, entre regulações coloniais oitocentistas e novecentistas), este último trabalho de fundo de R. David é notável., considerando que a atitude jurídico-colonial dos Britânicos, por um lado, e , por outro lado, a dos “latinos” (sobretudo portugueses, espanhóis, franceses, e, segundo ele, belgas), mostraram-se ser, ao nível até dos seus princípios, bastante diferentes entre si. Os últimos (embora haja a formular, nessa generalização, algumas nuances de detalhe), preferindo por norma levar a cabo a sua administração pública sob a égide de figura de “colónias”, adoptaram uma política de assimilação, baseada no duplo pressuposto de um igual valor dos homens associado a uma tão presumida quão clara superioridade da “civilização” europeia sobre os “costumes” africanos.
Os britânicos, pelo contrário, favorecendo figuras como a de “protectorados”, privilegiaram uma política de administração indirecta (indirect rule), aceitando por conseguinte, pelo menos como princípio geral, a ideia de que os “africanos nativos” pudessem continuar a auto-governar-se e a auto-administrar-se (ainda que sob supervisão e controlo dos britânicos) de acordo com os seus costumes e segundo as formas tradicionais que preferissem. Sem grande surpresa, uns como outros, muito naturalmente transpuseram de maneira quase directa, para o plano dos seus respectivos relacionamentos coloniais, as concepções centralistas e descentralistas que aplicavam no seu próprio território no que dizia respeito às suas próprias colectividades locais
Ibid.: 571. A distinção, porém, pelo menos no que toca ao relacionamento real entre governantes e governados, era pouco mais do que uma fórmula. Na prática, as semelhanças efectivas, evidentes na administração concretamente levada a cabo por britânicos e por “latinos”, eram mais marcadas do que as diferenças. As distinções entre as concepções juspublicistas da common law e as “romanistas”, neste como noutros domínios, revelaram-se ser pouco mais do que diferenças de estilo. Uma simples contraposição torna-o nítido: seria tão claramente abusivo assumir que os sujeitos da tutela colonial britânica se pudessem valer significativamente dos seus costumes face às leis imperiais, como seria descabido acreditar numa total hegemonia dos Direitos coloniais “românicos” vis-à-vis das populações que lhes eram totalmente alheias. Sem embargo desse facto, no entanto, mesmo meras diferenças estilísticas parecem ser importantes. Quando, com as independências, as elites africanas nacionalistas transpuseram para os seus respectivos Estados pós-coloniais a parte de leão das ordenações coloniais, trouxeram consigo também esse estilo: tal como as ex-colónias “latinas” se consideram invariavelmente como pertencentes ao que os comparativistas chamam a “família romano-germânica” de Direitos, as ex-colónias britânicas têm-se como aderentes ao sistema de common law..
Seja como for, poder-se-ia argumentar que, durante a época colonial, a diversidade patente de sistemas jurídicos, apesar dos elementos de ingovernabilidade e de iniquidade que (aos olhos europeus) permitia, de certo modo convinha em parte às potências administrantes, já que mantinha divididas as populações tuteladas. Com a descolonização, a situação inverteu-se: para os nacionalistas africanos que lideravam os novos Estados independentes, o pluralismo existente ameaçava a integridade interna que ambicionavam erigir (e portanto a sua existência ela mesma, enquanto entidades soberanas) com divisões, conflitos e o espectro de uma eventual dissolução
Para uma enunciação e discussão do autêntico dilema político que esta situação causou em vários dos Estados africanos (mais uma vez de maneiras marcadamente divergentes, e por isso dificilmente reconduzíveis a uma qualquer modelização unitária), convém a leitura da listagem de B. Durand (2002, op. cit.: 274-276), sobre os obstáculos que se interpuseram (e continuam a interpor) na construção de “sociedades jurídicas” no Continente..
O que, por si só, é fascinante. Por via de regra, tudo se passou como se as elites independentistas que, a partir dos anos 50 e 60 do século passado, esboçaram a criação de novos Estados, estivessem convencidas de que o Direito poderia com facilidade criar sociedades mais homogéneas pela simples instituição de um sistema jurídico unificado. Mais: evidenciando a convicção, que essas elites (embaladas num Zeitgeist ingenuamente voluntarista) partilhavam, de que uma tal homogeneização seria aceitável para populações tão plurais como aquelas que se viram integradas em muitos dos Estados africanos que então se tornaram independentes.
A universalidade destas curiosas convicções foi extraordinária, e partilharam-na tanto os Estados criados a partir de entidades coloniais portuguesas, francesas, belgas, espanholas, italianas e alemãs, como aqueles construídos sobre “protectorados” ou colónias britânicas. Fizeram-no, independentemente das opções político-ideológicas que assumiram, tanto os Estados que optaram por modelos políticos e vias socialistas de desenvolvimento, como aqueles outros que preferiram adoptar economias de mercado e sistemas políticos “democráticos”.
Alguns dos novos países tentaram-no, integrando as leis de origem europeia que tinham herdado dos Estados coloniais que os precederam, com um ou vários dos seus Direitos costumeiros, por vezes esquissando harmonizações que visavam reconciliar regras e princípios oriundos de um e de outro desses domínios-fonte. Outros (e neste grupo se podiam encontrar, ainda que com variações de monta
Bastará aqui aludir a algumas variantes. A Guiné-Bissau, por exemplo, cedo tentou equilibrar Direitos tradicionais e o Direito do Estado. Moçambique, por outro lado, por exemplo no que diz respeito ao reconhecimento de “autoridades tradicionais” que tinham a seu cargo a tutela local de direitos de propriedade fundiária e a resolução de litígios, assumiu a postura aposta, ilegalizando-as liminarmente. Em Angola, a posição das autoridades pós-coloniais da 1ª República foi intermédia; já a UNITA nos territórios que ia ocupando, sem as mesmas responsabilidades de governação e mais atida a modelos de “re-africanização” da sociedade angolana, preferiu (ou pelo menos pareceu fazê-lo a nível da oratória política, embora decerto em parte essa preferência tenha respondido a conveniências político-pragmáticas dada a precariedade da administração no essencial militar que estabeleceu nas “terras livres de Angola”) reconhecer um forte grau de autonomia ao que é tido como sendo consuetudinário., os cinco Estados africanos de língua oficial portuguesa), pura e simplesmente decretaram sistemas unificados e unos, inspirados em modelos jurídicos ocidentais (ou, nalguns casos, muçulmanos), em que o ascendente hierárquico da lei estadual tendia a tornar-se, programaticamente, muito pouco discutível.
Poder-se-á aventar que a ratio que presidiu a estas preferências terá sido pragmática
B. Durand (2002, ibid.: 227-229).: para alguns dos líderes africanos pós-coloniais uma integração aparecia como prematura, tendo em conta a resistência muitas vezes tenaz oferecida pelas estruturas sociais tradicionais existentes, e as preferências terão então recaído na manutenção da diversidade; enquanto para outros se mostrava inviável, porventura em razão da heterogeneidade étnica e/ou religiosa das suas respectivas populações. A maioria, em todo o caso, decerto raciocinando sob a alçada tenaz de ideologias desenvolvimentistas
Idem. Para uma boa recensão crítica das discussões académicas relativas ao impacto desta “ideologia do desenvolvimento” partilhada pela larguíssima maioria dos governantes africanos da época imediatamente posterior às independências (que coincidiu, nos PALOP, com as chamadas 1ª Repúblicas) ver a artigo já citado de L. Rodriguez-Piñero Royo (2000)., parece ter-se inclinado para a opinião de que constrangimentos económicos e políticos exigiam uma rápida fusão da diversidade jurídica plural anteriormente existente (fosse qual fosse a textura de pormenor desse pluralismo “colonial”) que culminasse na imposição de um sistema jurídico unificado e homogéneo.
Nestes últimos casos, as autoridades públicas pós-coloniais depressa se viraram para tentativas mais ou menos veementes de erradicação pura e simples de comportamentos encarados como obstáculos ao tipo de desenvolvimento ansiado. A lei, para além do mais, depressa se transformou num instrumento precioso para tentativas de legitimação do exercício do poder nos regimes autoritários que se foram implantando.
Em muitos dos cenários (e todos os PALOP, em maior ou menor grau, mais uma vez são disso exemplos paradigmáticos) uma sustentação político-ideológica foi sentida como necessária para ancorar a legislação produzida. Noutros, a proliferação de normas estaduais no período pós-independência tornou-se claramente contraproducente no que dizia respeito aos projectos de modernização idealizados. Em todos os casos, e segundo um ou outro formato, enquadramentos como o de uma “autenticité”, de um “socialismo africano”, ou de um marxismo-leninismo alinhado na ordem bipolar então existente, tornaram-se vestes legitimadoras imprescindíveis.
A situação, no entanto, não iria durar. O fim da Guerra Fria, ao desacreditar o papel dos sistemas monopartidários e ao suscitar questões relativamente aos reais papéis preenchidos pelos Estados no que diz respeito por um lado às economias e, por outro, às sociedades civis, levou os africanos a uma travagem brusca e a uma muito rápida inversão da marcha que até então tinha parecido dogma inabalável. Assistiu-se em numerosos casos (por tal motivo e em resultado de dinâmicas internas,e o processo ainda está muitas vezes em curso) a uma renovação dos pluralismos constitucionalistas, a uma revalorização dos debates parlamentares, a um reavivar do controlo judicial das políticas públicas; e tudo isso os encaminhou na sentido de uma adopção generalizada do Direito Constitucional e da lógica da separação de poderes
É numerosa a bibliografia existente sobre estes tópicos relacionados com a dinâmica causal dos processos de transição democrática que ocorreram um pouco por toda a África nos dois anos que se seguiram à queda do Muro de Berlim e à dissolução da União Soviética. Para além de tornar a aludir a L. Rodriguez-Piñero Royo (2000) e, sobretudo, à monografia comparativa de M. Bratton e N. van de Walle (1997), remeto para a Bibliografia Suplementar do programa da disciplina de Direitos Africanos, que incluo em Anexo neste breve estudo, na qual listo vários outros trabalhos sobre questões conexas..
Com os processos em curso de globalização (e depois de um intervalo pós-independências em que o peso do exterior era altamente variável) factores externos e factores internos tornaram-se dificilmente separáveis; na nova ordenação emergente trata-se de dimensões dificilmente separáveis uma da outra, não só nas causas últimas mas também no desenrolar e no desembocar das coisas
Ao contrário do aventado nas teses marxista e marxianas pós-marxistas do tipo “Sistema-Mundo”, que insistem na predominância estrutural de factores externos em relação a todos os Estados localizados na “periferia”, prefiro uma perspectiva mais conforme as desenvolvimentos recentes na teorização quanto ao evoluir do sistema internacional de Estados. Assim, por exemplo, parece-me mais facilmente defensável um modelo que sublinhe o facto de que, até à implosão da União Soviética em 1989, os Estados do então chamado Terceiro Mundo lograram manter alguma liberdade de acção, ao abrigo das alianças tácticas e estratégicas que iam estabelecendo com os dois blocos da ordem bipolar. Com o fim da bipolarização e a hegemonia dos modelos “liberais” da única super-potência remanescente, o impacto dos factores externos diversificou-se: só conseguiram manter essa liberdade de manobra aqueles Estados mais capazes de sobreviver pelo seu próprio pé (e aqueles outros marginais relativamente à nova ordem internacional).. Sem querer generalizar indevidamente: com as transformações ocorridas na ordem internacional, cada vez mais (e os PALOP não são nisso excepções) os juristas e os tribunais preenchem, em África, funções primordiais no que toca à modernização das leis e nas tentativas, cada vez mais intensas, de uma reconciliação entre tradição e modernidade que possa, efectivamente, conduzir as sociedades e os Estados do Continente para a via de uma “modernização africana”.
Ainda é decerto cedo para aventar hipóteses bem fundamentadas quanto ao grau de sucesso que lograrão alcançar. Mas os dados foram lançados.
3.1. O EXEMPLO PARADIGMÁTICO DA PROGRESSÃO PARALELA DO ESTATUTO “SOBERANO” ATRIBUÍDO PELOS ESTADOS AFRICANOS A ENTIDADES LOCAIS TRADICIONAIS, E DO ESTUDO SOBRE ESTAS QUESTÕES
Não é difícil exemplificar, com exemplos detalhados, estes avanços e recuos das pressões sistémicas que muito têm influenciado o reconhecimento de fontes locais do Direito em África. De entre os muitos casos possíveis, o das alterações nos âmbitos de jurisdição subsidiária permitidos às chamadas “autoridades tradicionais” parece-me seguramente um dos mais significativos, tanto pela diversidade das suas implicações a nível jurídico (e político), como pela pertinência que tem vindo a assumir no crescimento efectivo do pluralismo jurídico nalguns dos PALOP.
Na subsecção que se segue deste estudo, debruçar-me-ei, por isso, sobre essa progressão sincronizada; ainda que a abordagem que levo a cabo possa parecer transportar-nos para regiões marginais relativamente aos Direitos africanos propriamente ditos, os paralelismos suscitados redirigem-nos de maneira inexorável na sua direcção.
Começo por um enquadramento genérico da questão. Sem pretender compilar um rasteio exaustivo de alterações substantivas de âmbitos que em todo o caso foram bastante heterogéneas, limitar-me-ei em consequência por ora a uma visão de conjunto quanto à África, sem um qualquer ponto de aplicação geográfico preciso; num segmento posterior da segunda parte deste trabalho regressarei ao tema de maneira um pouco mais particularizada
Mas sem no entanto entrar em grandes pormenores, já que o faço no texto do longo relatório monográfico (Armando Marques Guedes et al., 2003ª, op. cit.) que redigi com base nos dados recolhidos, em Luanda e no Planalto Central (nos arredores do Huambo), com a colaboração da equipa de docentes e discentes de Direito, angolanos e portugueses, com que a esse país me desloquei., abordando algumas das questões mais concretas que, a este nível, tem emergido no caso angolano.
3.2. UM PONTO DE MÉTODO
Um ponto de método, em primeiro lugar. Tendo em conta o seu embutimento (ainda que parcial) em contextos “políticos” e conceptuais, que é tornado manifesto pela progressão paralela entre, por um lado, o relacionamento político-administrativo dos Estado com as autoridades locais tradicionais e, por outro, das análises científicas sobre elas levado a cabo, é exactamente nesse contexto que deve ser enquadrada e “decifrada” a produção legislativa que é coetânea com estes processos emparelhados. Esse embutimento exige uma recontextualização a que irei regressar na Parte II deste trabalho introdutório: tanto o significado dessa produção como os sentidos das disposições sucessivas formuladas se tornam mais inteligíveis quando a legislação e as mudanças e inflexões a que esta tem estado sujeita são re-inseridas nos contextos concretos em que foram emergindo.
Irei delinear, aqui, uma introdução genérica ao tópico. O relacionamento e a articulação entre os Estados pós-coloniais e as “autoridades tradicionais” que muitas vezes estão implantadas nos seus territórios, e às quais muitas das populações locais em muitos domínios reconhecem alguma forma de legitimidade, tem sido um tópico “clássico” dos estudos jurídicos e políticos levados a cabo em África. Este interesse, em si mesmo, não constitui decerto uma surpresa: tal tipo de ligações é crucial tanto da perspectiva da natureza do exercício dos poderes jurídicos e políticos estatais quanto da perspectiva “cultural” dos agrupamentos locais em causa, como ainda do ponto de vista mais particular (mas não menos central) do papel que o controlo efectivo dessas populações preenche na expansão territorial e na legitimação (e por conseguinte na consolidação) do Estado.
Para além disso, e dada a pertinência desse relacionamento, seria difícil exagerar a importância e o melindre assumidos por esse tipo de tópicos para a definição estratégica, pelas elites detentoras do poder, de políticas legislativas e de outras políticas públicas africanas. Um exemplo valerá por todos: numa monografia recente, Jeffrey Herbst
Jeffrey Herbst (2000: 173). Este metáfora vem expressa no contexto de um esplêndido estudo sobre a natureza dos Estados e do poder na África contemporânea. pôde há pouco tempo escrever que “one of the most contentious issues in the politics of the continent has been the relationship between central authorities and local leaders”. O que não só não é de maneira menhuma trivial, mas será mesmo bastante surpreendente, se aceitarmos pelo seu valor facial as declarações iniciais triunfalistas dos líderes independentistas africanos.
A centralidade dos temas suscitados por estas questões tem no entanto sofrido avanços e recuos, que se prendem com a importância cambiante que essas relações têm historicamente vindo a assumir num continente em mudança acelerada. Mais ainda: os significados que lhe têm vindo a ser atribuídos têm-se alterado num vai e vem ao que parece incansável, uma oscilação que tem vindo a influenciar tanto o papel e o “estatuto” dos Estados, como os dos “chefes tradicionais”.
É por isso com razão que, fazendo uso de uma metáfora esclarecedora, o mesmo Herbst
Ibid: 174. tenha chamado às transformações complexas deste relacionamento e dessas articulações “the complicated dance between States and chiefs”.
3.3. UMA PERIODIZAÇÃO GENÉRICA
Esboçar uma periodização geral da coreografia dessa dança, lado a lado com um esquisso da progressão, que se lhe associou, dos trabalhos científicos que a tentaram decifrar, não é tarefa árdua. E é um esforço altamente compensador.
No rescaldo da Conferência de Berlim de 1884-1885 e do imperativo do exercício de uma tutela territorial efectiva nas colónias um entrelaçar de esforços entre Estados coloniais e chefaturas locais era útil, interessante, e tornara-se possível
Os contactos até aí existentes por via de regra limitavam-se a trocaas comerciais e à compra de escravos.. Em resultado, a partir de finais do século XIX, e sobretudo de inícios do século XX, estudos sobre sistemas jurídico-políticos e formas africanas de liderança (normalmente levados a cabo por antropólogos e etnógrafos britânicos ou franceses) começaram a dar os seus primeiros passos.
Por muito que haja quem o sustente, não é porém inevitável presumir que uma tal correspondência denote, no entanto, uma qualquer colusão: seria um exagero presumir que esta convergência significasse necessariamente uma qualquer cumplicidade entre projectos científicos de investigadores muitas vezes independentes e agendas político-administrativas das potências coloniais
Para uma posição que, ao invés, insiste de maneira assaz linear nessa cumplicidade ver, entre autores portugueses, Rui M. Pereira (2001: sobretudo p. 127). Para uma leitura menos polarizada e atendo-nos a investigadores nacionais, é útil a consulta de João Pina Cabral (1998: 1085-1089), que, na direcção oposta, nota a preocupação comum de muitos cientistas sociais com a “pouca utilidade” das investigações fundamentais dos antropólogos, que tendem a minimizar, muitas vezes por razões corporativas. R. Pereira, curiosamente, não mitiga a sua tomada de posição com considerações que, por exemplo, sublinhem a afinidade electiva existente entre “saber” e “poder”; mas parece baseá-la, antes, em afirmações radicais e redutoras de Talal Asad (1975) e de George Stocking Jr. (1991), dois historiadores, e acaba por assumir uma cumplicidade “útil” e muito directa das investigações antropológicas e dos projectos políticos coloniais. Na melhor das hipóteses, trata-se de um processo de intenção; na pior, em alegações retrospectivas de uma correlação estreita que raramente existiu. Insistir na evidência de uma ligação parece-me óbvio, e é o que tento aqui em parte levar a cabo. Condicionar os termos dessa ligação à lógica política dos Estados coloniais parece-me claramente um exagero. Dificilmente, por exemplo, poderíamos encarar dessa perspectiva os quadros analíticos dos dois principais estudos fundadores da Antropologia Jurídica africana, o de Max Gluckman (1955, 1965) sobre o “judicial process” e a “jurisprudence” dos Lozi (ou Barotse) da Zâmbia, e o de Paul Bohannan (1957) sobre os “tribunais” dos Tiv da Nigéria: o primeiro tinha como objectivo central o de demonstrar (contra as teses implícitas dos seus conterrâneos defensores do apartheid) a “racionalidade” de uma “organização judiciária” tribal tradicional; o segundo, um norte-americano, estava pelo contrário empenhado em argumentar contra a redutibilidade das noções e dos conceitos “jurídicos” dos Tiv aos quadros intelectuais desenvolvidos pelos juristas europeus e norte-americanos. Em boa verdade, nem a cumplicidade foi determinante, nem constante no tempo..
Seja como for, os trabalhos continuaram pelo século XX adentro, interrompidos por hiatos e pontuados por relativamente pequenas reorientações: mas sempre nos termos de uma progressão tão homogénea quanto cumulativa. Tratava-se, todavia, de uma estabilidade enganadora: estes programas inovadores de investigação tinham os dias contados. O próprio tabuleiro em que se efectuavam depressa iria mudar com as alterações sofridas pela ordem internacional.
Como é bem conhecido, os primeiros decénios do século viram-se marcados por inovações tecnológicas de monta que, ao potenciar processos de internacionalização acelerada, desencadearam reacções nacionalistas fervorosas na Europa, acabaram por se saldar numa acentuada mercantilização económica e numa afirmação de formas estanques e exclusivistas de tipos de soberania que os desacelararam e lhes fizeram frente. Reordenações globais como estas não deixaram de afectar a gestão das coisas coloniais. Mas mais uma vez o fizeram de maneira efémera: uma 2ª Guerra Mundial, mais extensa, menos contida e muito mais generalizada do que a 1ª, que tão dolorosamente marcara o segundo decénio do século, recentrou os processos de integração global que a industrialização e as colonizações tinham encetado. Se a Grande Guerra de 1914-1918 chegara a África, a 2ª teve no Continente um impacto muitíssimo maior.
Após a 2ª Guerra Mundial, as pesquisas jurídicas e políticas sobre os “chefes” africanos e as suas “chefaturas” atingiram um primeiro pico, no contexto do reatamento de um exercício “normal” das tutelas coloniais que teve lugar depois dos abalos a que estas em tantos casos se viram sujeitas com o conflito, de permeio com a emergência de ideais de auto-determinação e de devolução subsidiária do poder que cada vez mais se faziam ouvir em coros que associavam as colónias africanas a organizações cívicas nas Metrópoles, e aos novos fora internacionais
Cf. R. Jackson, 1993, E. Keene, 2002, op. cit.: 60-97. saídos do conflito.
Enquanto perdurou, não variou muito a formatação dos estudos empreendidos em África no decurso do prolongado primeiro período de “dança analítica sincronizada” que identifiquei. O modelo estrutural genérico que os subtendia é bastante fácil de delinear.
Nalguns casos, os líderes locais e o tipo de liderança que lhes cabia eram estudados enquanto dando corpo a formas jurídicas e políticas sui generis. Tipos de organização que ora durkheimianamente se considerava que reflectiam estruturas locais de parentesco em sociedades cuja “solidariedade” e coesão eram tidas como dele inseparável, ora weberianamente se supunha que manifestavam ilustrações de tipos ideais de (por exemplo) “liderança carismática”
Em termos mais genéricos de estudos sobre sistemas normativos “tradicionais” negro-africanos (incluindo a África Oriental não-bantu), o exemplo clássico é o da colectânea organizada por Meyer Fortes e E. E: Evans-Pritchard, em Oxford, em 1940, sobre os então muito seca e assaz contrastivamente chamados “sistemas políticos africanos”. A esta colectânea há a acrescentar outra, virada para a dimensão normativa central dos “sistemas africanos de parentesco e casamento”, organizada em 1950 por A. R: Radcliffe-Brown e Darryl Forde, e publicada pela mesma universidade britânica. Os trabalhos levados a cabo relativamente aos ordenamentos normativos próprios da África francófona apenas chegaram, como iremos verificar, mais tarde; os relativos à África lusófona primam pela sua ausência..
Foram então comuns pesquisas etnográficas pormenorizadas (trabalhos muitas vezes de grande fôlego) sobre as sociedades africanas “tradicionais” tout court, por via de regra levadas a cabo com objectivos político-administrativos pouco vincados. Mas nem sempre assim foi, e com o andar dos tempos e as alterações supervenientes de circunstâncias essa “inocência primordial”, como talvez lhe possamos chamar, ver-se-ia posta em causa.
Noutros casos, mais raros, as investigações tinham finalidades mais pragmáticas e mais terra-a-terra
Um ponto abundante e apaixonadamente discutido em meios académicos. Para uma posição crítica, ver a colectânea que referi organizada por (ed.) Talal Asad (1975). Para uma discussão destas questões no contexto da história colonial e científica portuguesa, é útil a leitura dos já citados J. Pina Cabral (1991), ou de R. M. Pereira (2001), entre muitos outros. Para uma leitura ponderada sobre a extensão desta colusão-colisão entre agendas políticas e científicas ver, por exemplo, A. Kuper (1988). Uma colectânea característica desta época é a de M. Crowder e O. Ikime (1970).; e aquilo que verdadeiramente visavam era estudar as condições para um mais eficaz exercício de uma “indirect rule” (a possível) sobre populações em relação às quais o interesse concreto dos Estados coloniais se reduzia a pouco mais do que o de assegurar de um mínimo de controlo efectivo.
3.4. A FASE PÓS-COLONIAL
Com as independências generalizadas que ocorreram durante os anos 60 e (no caso de Angola e do resto da África “lusófona”, nomeadamente Moçambique e a Guiné-Bissau) dos anos 70, essa primeira onda teve um fim abrupto.
Muito depressa, os esforços de investigadores interessados nas formas políticas e jurídicas tradicionais diminuíram de intensidade e “o Estado passou a ser o centro de todas as atenções analíticas”
E. Costa Dias, 2001: 29. Esta linha histórico-política de demarcação coincide, largamente, com a entrada, nos cenários analíticos, de investigadores de formação no essencial jurídica; o que, aliás, é compreensível, dada a convergência de objectos (cf. J. Vanderlinden, 1996: 38-45) que então se instalou entre africanistas preocupados com ordenamentos normativos e juristas “clássicos”, na sequência criação-instalação dos Estados africanos pós-coloniais. À parte alusões avulsas de antropólogos como Jorge Dias (que no seu estudo sobre os Macondes do norte de Moçambique prestou atenção às práticas “jurídicas” tradicionais destes), e embora tenha havido alguns esforços de codificação de “usos e costumes”, foi com as independências e a emergência dos Estados pós-coloniais nos PALOP que investigadores portugueses se debruçaram com alguma atenção sobre Direitos africanos (e, exclusivamente, sobre os Direitos em vigor nos PALOP). Destacam-se, nesse contexto os trabalhos levados a cabo sobre os Direitos estaduais por equipas constituídas pelas Faculdades de Direito de Lisboa (sobretudo na Guiné-Bissau e em Moçambique) e de Coimbra; neste último caso parece-me essencial referir os projectos de investigação jurídico-sociológica coordenados por Boaventura de Sousa Santos.. O esforço e empenhamento (quantas vezes novamente de maneira explícita um exercício político-programaticamente motivado) necessários para tornar inteligíveis as novas entidades africanas soberanas assim o exigia. A convicção de que esses Estados eram os verdadeiros garantes locais de “desenvolvimento”, da “tradição” e, em simultâneo, da “modernização”
Cf. L. Rodriguez-Piñero Royo, 2000, para uma discussão sobre estes mecanismos de legitimação tão comummente esgrimidos nessa época. tornava-o imprescindível.
De um certo ponto de vista, aquilo a que se assistiu foi o culminar de uma convergência de agendas que tinha sido anunciada e que um longo interregno esbatera. As formas políticas locais, que tinham adquirido interesse por si próprias, como que perderam o seu apelo. Embora os estudos etnográficos jurídico-políticos encetados nos finais do século XIX e empreendidos de acordo com moldes “clássicos” não tivessem desaparecido, viram-se severamente relegados para uma posição secundária.
Para melhor compreender este refluxo basta atentar à conjuntura. Era, com efeito, um novo tipo de poder que se instalava. Por um lado, o fim dos impérios coloniais aparentemente acabara com a disjunção entre as “formas políticas indígenas” e o poder político estatal que sobre elas se exercia; o facto, aliado às invocações “modernizantes” dos novos líderes nacionais africanos, tornavam politicamente correcta essa convergência-sobreposição reificadora.
Mas houve mais. Por um outro lado, a razão para a subalternização (que viria em todo o caso a revelar-se transitória) sofrida no decurso das conjunturas independentistas e fundacionais dos anos 60 e 70 prendeu-se também seguramente com a natureza jurídica e politicamente bastante complicada da relação entre Estados pós-coloniais e “chefes”.
Um mínimo de contextualização histórica e de atenção sociológica revelam a olho nú essa dificuldade. Para a maioria dos jovens nacionalistas africanos em busca de emancipação, oriundos de grupos em ascensão social nas colónias e ligados ou a missões religiosas ou a mais antigas elites coloniais urbanas, as atitudes e aspirações das autoridades tradicionais eram incompatíveis com as inovações político-revolucionárias ambicionadas
Para as lutas e tensões político-ideológicas intestinas no que iriam ser os novos Estados pós-coloniais durante este período da história africana contemporânea, não é prescindível a leitura da excelente monografia de C. Clapham (1996), e sobretudo (e só neles) as pp. 31-40.. Em muitos casos, essa não miscibilidade de princípios viu-se potenciada pela postura ambígua que muitas das autoridades “tradicionais” preencheram durante a época colonial e pelo papel ambivalente que estas muitas vezes assumiram no processo, nalguns casos bastante turbulento, que conduziu às independências. Por sua vez e pelo seu lado, os chefes tradicionais, porventura não compreendendo nem as motivações nem os métodos das gerações afro-nacionalistas, não raramente hesitaram em dar o devido reconhecimento às agendas revolucionárias destes (surgidas em pouco tempo), apostadas numa tomada do poder estadual.
A consequência dessa falta de comunicação política foi muitas vezes a adopção de posturas “desenvolvimentalistas” e hegemónicas, nalguns casos bastante truculentas, por parte de jovens líderes destes novos Estados que tendiam a ver essas estruturas locais “espontâneas” como competidores perigosos
Um só exemplo “lusófono”: o jovem Estado soberano angolano, tal como outros um pouco por toda a África, aceitou reconhecer a eficácia das autoridades “tradicionais” na sua herança de intermediação com muitos dos grupos locais e regionais distribuídos pelo extenso território. Mas aceitou-o com óbvias (e novas, se comparadas com as dos “colonos”) renitências e hesitações. Compreendê-las é fácil. Por um lado, já que, de um ponto de vista ideológico e nacionalista (e nisso estas duas linhas de força convergiam), para as elites que detinham controlo do Estado instaurado em Angola pela 1ª República era um claro factor de desconforto o simples facto de a sua própria assunção do poder (enquanto “representantes” do “povo” e dos “angolanos”) não resultar, automática e liminarmente, na eliminação da relevância sociocultural e política das autoridades tradicionais. Por outro lado ainda, e como que em corolário, acatar a evidência de que essas autoridades tradicionais continuavam a desempenhar papéis importantes e bebiam de legitimidade local, equivalia a aceitar que se mantinham espaços políticos autónomos em relação a um controlo político-administrativo (que se queria universal e meticuloso) sobre a população e o território do novo Estado independente. A incomodidade sentida neste plano mais concreto e material, era decerto agravada pelos riscos que a existência de tais “vácuos” e autonomias (pelo menos potencialmente) significavam num contexto de uma guerra civil com várias frentes e frentes de geometria variável: um conflito em que o Estado e um grupo insurgente, a UNITA, competiam, precisamente, pelo controlo de território e populações. Numa primeira fase, logo depois de conseguida a independência, viveu-se assim a este nível, em Angola, uma situação compósita, um misto de algum distanciamento mesclado com uma forte dose de instrumentalização. Os “sobas” não tendiam a ser encarados como entidades que merecesse a pena apoiar, bem pelo contrário; se não eram de excluir (como foi o caso, por exemplo, em Moçambique) eram pelo menos alvos de alguma desconfiança; não só porque se tratava de gente reputada de ter colaborado com a tutela colonial, retirando dela benefícios pessoais tidos como indevidos; mas também porque representavam focos alternativos de poder, que ademais desafiavam (ainda que passivamente) a nova ordem nacional em termos considerados como “politicamente retrógrados”. Tanto segundo as cartilhas político-ideológicas do partido único, como em termos das suas agendas políticas, as “autoridades tradicionais”, quando não eram encaradas como uma ameaça, eram em todo o caso olhadas de viés.. A atitude das elites independentistas foi também por norma marcada pela ambiguidade
J. Herbst, 2000, op. cit., idem.: os nacionalistas africanos “modernos” precisavam dos chefes “tradicionais”. O que não é difícil de compreender: se por um lado aspiravam a substituir a autoridade deles nas áreas rurais, por outro lado era precisamente para essas regiões não-urbanas mais remotas que sentiam a necessidade de estender a sua implantação e o seu poder
O facto verificou-se um pouco por toda a África. Como resumiu van Nieuwaal, no continente, “most heads of state, revolutionary or reactionary, were suspicious of the chief”. Fizeram-no na Guiné-Conacry, na Tanzânia, no Alto-Volta, no Uganda, no Burundi e na Nigéria, para só citar alguns exemplos (1987: 20-21). Pelo seu lado, os líderes tradicionais começaram muitas vezes a manifestar uma atitude de incompreensão e em diversos casos severas reticências face aos Estados monopartidários e altamente centralistas que se iam instalando de norte a sul do continente. O que não constituirá surpresa: os regimes de partido único raramente olhavam com bons olhos quaisquer desafios ao monopólio formal que programaticamente defendiam, e que tinham dificuldades em exercer nas regiões em que a autoridade dos “chefes” se fazia sentir. e que garantiam, com essa parceria, uma legitimidade acrescida.
Uma boa caracterização da ambivalência seguramente sentida por uns e outros é mais uma vez a formulada por J. Herbst
Op. cit.: 176., que a intitula de “esquizofrénica”. Todavia, talvez por isso, a reacção de antagonismo das lideranças africanas “modernas” vis à vis as entidades “tradicionais” foi temporária; e redundou não num desaparecimento destas últimas, mas antes de uma fase curta e passageira de uma sua secundarização.
Novamente tudo isso iria mudar. Os anos 80 soletraram um regresso em força de esforços monográficos e de trabalhos comparativos sobre as autoridades “tradicionais”e as suas competências jurídicas e políticas. Mais uma vez a razão pode ser encontrada na conjuntura da época. O descalabro generalizado que afligiu a maioria das experiências estatais pós-coloniais africanas, e as sérias crises de legitimidade daí decorrentes, repuseram no palco entidades que, num meio académico então já mais sensibilizado para problematizações terminológicas de fundo, passaram a ser quasi-universalmente denominadas “autoridades locais”
A alteração terminológica foi significativa. Nas conjunturas de crise que se acentuavam de formas em muitos casos dramáticas, estas entidades (cuja variabilidade se tornou óbvia à medida que os raros estudos se iam acumulando) eram muitas vezes agora explicitamente encaradas como sendo instrumentos e fontes “civis” complementares, instâncias que havia que saber cuidadosamente conjugar para ser exequível uma urgente viabilização política e jurídico-política regional e local: ou seja, tratava-se de entidades que havia que “conquistar”, para desse modo lograr a ansiada sedimentação-implantação de Estados que, passada uma geração depois das euforias nacionalistas das independências (a geração dos Founding Fathers), se encontravam muitas vezes em deficit de legitimidade. Para estas questões ver, nomeadamente J. Harbeson, 1994, L. Rodriguez-Piñero Royo, 2000, op. cit...
À consciência de um reganhar de protagonismo empírico por parte dessas autoridades, adicionava-se outra vez uma compreensível componente política mais pragmática. Em países africanos tão diversos como a Tanzânia, a Mauritânia, o Niger, ou o Chade, cujos Estados tinham, para efeitos práticos, abolido “por decreto” as autoridades tradicionais, ou noutros, como Moçambique, em que tais entidades tendiam a ser olhadas com uma forte dose de desconfiança e muitas vezes em termos de uma hostilidade aberta, estas começaram a ser apoiadas e acarinhadas enquanto fontes de uma legitimidade política local que urgia a Estados em crise tentar co-optar de modo a conseguir enriquecer a sua implantação e o seu acervo, ou capital, de legitimação.
Num sentido forte, cristalizava-se uma ampla convergência de agendas, novamente por obra e graça de transformações contextuais de peso.
Importa configurá-la. A delineação que Eduardo Costa Dias propõe para esta retoma multifacetada constitui um guia útil para a multiplicidade de frentes conjunturais desse renascer da investigação jurídica e política, e vale por isso a pena citá-lo: “no plano do normativo político, assistimos desde os anos 80 a sucessivas tentativas de codificação das relações do Estado com as autoridades tradicionais [a partir dos anos 90, no caso angolano, apesar de alguns balbuceios experimentalistas na década anterior
Para reter o exemplo angolano: numa segunda fase, encetada a partir do início dos anos 90, a situação viria, em Angola, a sofrer profundas alterações. Muitos foram os territórios em que deixou de se fazer sentir a acção do Governo angolano, com o surto de ocupações de extensas áreas urbanas e rurais pela UNITA. Em muitas e amplas regiões a presença do Estado deixou de existir. Nalgumas, foi substituída por uma tutela insurgente que, como vimos, era mais difusa, menos estruturada, e mais baseada na força político-militar do que na administração político-burocrática; noutras, pura e simplesmente desapareceu. Mas (no seguimento, aliás, do que se vinha a verificar desde há já alguns anos) esse apagamento, ou esbatimento, da presença estatal teve lugar mesmo em zonas de hegemonia incontestada do Estado angolano: em muitos casos o êxodo rural, generalizado em diversas das regiões do país (nomeadamente, como vimos, no planalto central, na zona de Malange, no nordeste, e nas regiões limítrofes e litorais do noroeste), juntou-se nessas zonas ao crescendo de dificuldades económicas induzidas pela dívida militar acumulada, pelas irracionalidades de gestão e pela corrupção local, resultando num marcado enfraquecimento dos laços de dependência de grandes porções e camadas da população em relação às autoridades estatais, e a algum esvaziamento nas relações “habituais” de clientelismo local face aos representantes do Estado central. Com rapidez, “autoridades tradicionais” de todo o tipo começaram a firmar-se em Angola: há hoje (finais de 2002) cerca de 25.000 dessas “autoridades” oficialmente (pasme-se) reconhecidas no país.], às mais diversificadas tentativas de circunscrição, por parte do Estado, das (“novas”) funções para as autoridades e ao ressurgimento, sobretudo nos Estados onde a repressão das autoridades tradicionais foi mais violenta, das reivindicações dessas mesmas autoridades locais enquanto figuras auto-proclamadas de incontornáveis no jogo político local e nacional.
No plano da produção científica, assistimos em paralelo a um redobrar no número de análises empreendidas sobre as autoridades tradicionais, para além naturalmente de testemunharmos um “re-questionar” das análises anteriores ao recolocar à reflexão o “lugar” de análise das autoridades tradicionais”
Op. cit.: 30. É precisamente esse o contexto em que cabe o curtíssimo artigo, já citado, de Vitalino Canas (1998), sobre o lugar orgânico das autoridades tradicionais na organização política secundo-republicana de Moçambique..
3.5. AS ALTERAÇÕES NOS PONTOS DE APLICAÇÃO E DOS FOCOS DE ANÁLISE
Como seria de esperar, com a progressão das coisas no terreno, por assim dizer, a dimensão político-pragmática das análises firmara enfim a sua tão prenunciada preponderância e tornara-se notória. No âmbito do “renascimento” verificado (como John Harbeson famosamente apelidou as mudanças que em África foram coroadas pelas “transições democráticas” dos inícios da última década do século XX), emergiram diferenças de fundo quanto ao tipo de conceptualização necessária para levar a bom porto esse último conjunto de esforços de re-enquadramento teórico de uma questão já antiga.
Mais do que redutíveis a meros diferendos teórico-metodológicos, as discordâncias continham agora laivos claramente político-administrativos. Tratava-se de alterações que mantinham cuidadosamente em vista evidências como a de que a reposição progressiva das “autoridades tradicionais”, ou “locais”, nos velhos palcos analíticos, se por um lado respondia a preocupações científicas (por regra segundo explicações ligadas a ideias de um renascimento empírico), por outro lado reflectia ansiedades políticas e jurídico-administrativas.
Por outras palavras: enquanto algumas das diferenças têm, por conseguinte, sido de natureza teórico-metodológica, outras têm tido um cariz mais “político-administrativo”, ou seja, pragmática e instrumental. Umas são descobertas laboratoriais, outras encomendas de poderes centrais em vias (ou com esperanças) de expansão.
Comecemos pelas primeiras, deixando para depois as últimas. Para além de diferenças metodológicas, que se saldam em distinções, por vezes finas, mas muitas vezes irredutíveis, as análises contemporâneas distinguem-se no essencial pelo ponto nevrálgico de aplicação que privilegiam ao tentar esmiuçar o papel de intermediação efectiva preenchido pelos “poderes locais tradicionais” em relação ao poder dos Estados africanos.
Os diferendos manifestados pelos analistas recapitulam, como aliás seria de esperar, as clivagens patentes nos estudos levados a cabo sobre outros aspectos do relacionamento entre “o local” e “o nacional” em África, e que estão em evidência um pouco por todo o domínio científico dos últimos anos, desde os trabalhos relativos ao “desenvolvimento”
Cf. J. Ferguson, 1996, no contexto de um magnífico estudo deleuziano de caso sobre um “projecto de desenvolvimento” sueco empreendido no Lesotho dos anos 80 e 90. Este esbatimento da contraposição analítica clássica entre tradição e modernidade tinha já sido encetado por Sally Falk-Moore, no seu estudo sobre a “invenção” oitocentista (e novecentista) de um dos “Direito costumeiros” tanzanianos, o dos Chagga. aos focados na ligação entre Estados e sociedades civis no continente
J. Harbeson, D. Rothchild e N. Chazan, 1994, J. Comaroff e J. Comaroff, 1999., passando por toda a problemática das difíceis e intrincadas relações (manifestas um pouco por toda a África) entre “tradição” e “modernidade”
J. Comaroff e J Comaroff, 1993, H. Moore e T. Sanders, op. cit., 2001, discutiram o marcadíssimo recrudescimento no uso da feitiçaria nas grandes cidades da África contemporânea, vendo-o como um meio privilegiado de decifrar e comunicar tensões sociais modernas segundo formatos “tradicionais”. Exemplos, porventura mais “excêntricos” (mas talvez por isso mais interessantes), são os dos notáveis trabalhos monográficos de Heike Behrend (1999) e de Stephen Ellis (1999), respectivamente sobre o conflito que grassou no Norte do Uganda nos anos 80 e 90 (em particular as curiosas Holy Spirit Mobile Forces mobilizadas pela misteriosa Alice Lukwena) e sobre a recente guerra civil que, em finais dos anos 90, devassou a Libéria (em que, nomeadamente, muitos dos combatentes se atacavam aldeias e centros urbanos ora em estado de total nudez, ora como travestis, “equipados” com roupagens femininas). Como é óbvio perante estes e outros exemplos, torna-se difícil equacionar “tradição” e “autoridades tradicionais”, ou contrastar “modernidade” e “tradição” de uma maneira estanque e enxuta..
A novas tónicas e novos enfoques juntaram-se, assim, problemas de fundo mais latos e abrangentes. Um ampliar da resolução de imagens evidencia-o. Mais uma vez, muito iria mudar num domínio de análise cuja instabilidade se tornava notória e co-extensiva com a progressão das situações conjunturais vividas nos vários e cada vez mais complexos palcos sócio-políticos africanos.
O resultado é visível. Hoje em dia já não são nem os “poderes tradicionais” nem os Estados quem monopoliza a atenção dos estudiosos; mas sim as relações entre uns e outros.
Uma rápida visão de conjunto das variações existentes demonstra-o com nitidez. Para alguns autores, o lugar de entrada preferível para os trabalhos de pesquisa a empreender no contexto transformado do velho projecto de investigações será essa localização intercalar: aquilo que importa neles sobretudo salientar é precisamente a posição de charneira assumida pelas “autoridades tradicionais” no relacionamento
Cf., eg, E. A. van Nieuwall, 1996, T. von Trotha, 1996, D. Ray, 1998, são outros tantos exemplos desta nova propensão. Para lá das diferenças, tanto uns como outros recorrem com profusão às “teorias das redes sociais” (social network theories), propostas nos anos 60 e 70 por asiatistas como E. Bailey ou F. Barth, bem como aos modelos coevos de relacionamentos entre “patronos e clientes” (patron-client relationships). Fazem-no, naturalmente segundo perspectivas teórico-metodológicas alternativas, com a finalidade de melhor denotar e cartografar os tipos empíricos de ligações efectivamente estabelecidas entre elites estatais e autoridades tradicionais, através do chamado “brokerage político” destas últimas. Todos eles, no entanto, com esta ou aquela preferência tópica, concordam que o quadro empírico-sociológico mais adequado para essas análises do papel de intermediação das autoridades tradicionais é o do relacionamento complexo entre as sociedades africanas e os Estados nelas estabelecidos. E isso, junto com a rápida evolução política das coisas no terreno africano, levou a uma rápida recontextualização, por alargamento, que veio mais uma vez reformular algumas das coordenadas metodológicas dos estudos empreendidos. que entretêm com o Estado.
Para outros, o ponto de aplicação escolhido recai antes nas próprias “autoridades tradicionais”, abordadas enquanto “agentes políticos” inseridos, a nível local, em teias densas, e cada vez mais amplas e alargadas, de competição por um ascendente, entidades cuja estrutura, finalidades e modos de legitimação se entre-definem de acordo com coordenadas “político-culturais” variáveis
P. Nugent, 1996, T. Bierschenk, 1998..
3.6. OS NOVOS ENQUADRAMENTOS SOCIAIS
Vale a pena insistir um pouco neste ponto de que hoje em dia já não são nem os “poderes tradicionais” nem os Estados quem monopoliza a atenção dos estudiosos, mas sim as relações entre uns e outros
Uma reperspectivação “relacional”, por assim dizer, que ilumina com uma nova luz as questões. Torna-se mais claro, por exemplo, que estas relações pluri-constitutivas não devem ser encaradas como soluções para eventuais problemas suscitados pela articulação entre uns e outras, dado que se trata antes de uma nova forma de enquadramento desses memsmos problemas. Não são soluções. Apenas delineiam o objecto dos problemas em análise..
Comecemos por um enquadramento empírico das alterações evidenciadas nos quadros analíticos dominantes. A velocidade e a intensidade das transformações a que se têm visto sujeitos os Estados africanos pós-coloniais, bem como o carácter funcional que tais mudanças têm tido, são porventura as causas motoras dessa efectiva ampliação de âmbitos: nas novas conjunturas emergentes, para além dos “agentes organizados” que no fundo são as “autoridades tradicionais”, novos protagonistas, novos “actores políticos locais” vieram ocupar lugares nos palcos do relacionamento entre sociedade e Estado. A preocupação renascida com as “autoridades tradicionais” (uma denominação que, impulsionada pelos novos ventos “tradicionalistas”, entretanto re-emergira em força) decaiu para o estatuto de uma simples manifestação (decerto ainda a mais importante, mas já não a única) da teia complexa de ligações que, em África, se vai constituindo entre o local e o nacional.
Este nível mais alto de resolução das análises articula-se de maneira interessante com a periodização que atrás esbocei. Novamente tudo se processou por etapas e mais uma vez tudo se passou em resposta a pressões conjunturais.
Durante uma primeira fase, deu-se uma tomada crescente de consciência de que actores diversos de vários tipos, nuns casos com motivações económicas, noutros políticas, algumas vezes com agendas médico-sanitárias, noutras ainda místico-religiosas, alguns deles jovens ou mulheres, começavam a emergir (ou começavam a ser “reconhecidos”, tanto nos novos quadros socioculturais com nos novos enfoques analíticos) como “agentes” locais de seu próprio mérito, ainda que sendo entidades e personagens manifestamente diferentes, independentes, e até muitas vezes antagónicas, em relação às chamadas “autoridades tradicionais”.
Os palcos sociais repopulavam-se com o aparecimento desses novos actores. Tratava-se, na maioria dos casos, de agentes sociais que, embora não reinvindicando nenhuma espécie de poder (melhor, autoridade) formal sobre as populações de que provinham, se disponibilizavam (não raramente, impondo-se) como interlocutores dos Estados e intermediários entre as populações e estes últimos
Deixo aqui em suspenso a questão dos chamados “notáveis” locais, essas figuras fascinantes que tanta importância tiveram no mundo senegembiano (cf. E. Costa Dias, op. cit.: 40 ss), por via de regra dignitários do Islão (marabus, xeiques, etc.), que nesse espaço sócio-político reganharam centralidade e importância na era pós-colonial através, nomeadamente, das numerosas confrarias muçulmanas cujo ascendente está em alta em grande parte dessa região da África (por exemplo, ainda que pouco mais que a um nível “residual”, na região oriental da Guiné-Bissau). Ocupando “espaços públicos de soberania”, como têm sido apelidados, ligados ao Estado por via da administração pública, não nos parece evidente a existência, em Angola, deste “espaço da notabilidade”, como lhe chama E. Costa Dias (idem: 40); a excepção, como se tornará claro, é formada pelos membros locais do partido no poder e pelos “representantes locais” dos interesses das elites próximas deste (dois grupos não necessariamente dissociáveis e que aqui preferimos tratar, em separado, como entidades sui generis).. Numa fase subsequente, muitas vezes conseguiam marginalmente “adquirir”, conquistando-a, alguma dessa autoridade (e continuam a consegui-lo, já que estes processos dinâmicos ainda estão em curso) indo repescar ideias e noções aos contextos político-sociais em que iam surgindo.
O que não deixou de ter consequências no que toca aos quadros conceptuais utilizados para dar conta destes novos “notáveis” emergentes. Do ponto de vista das análises científicas levadas a cabo (muitas vezes sintonizadas com investigações focadas em domínios afins) seriam os próprios conceitos de “tradicional”
S. Falk-Moore, 1986, numa monografia que já citei sobre grupos vizinhos do Kilimanjaro, na Tanzânia, T. Ranger e E. Hobsbawm, 1989, numa célebre colectânea comparativa sobre as “invenções de tradições” enquanto estratégias bastante comuns de legitimação política contemporãnea. e de “autoridade”
Eg, D. Lan, 1985, numa extraordinária monografia sobre a guerrilha da ZANU no Zimbabwe dos anos 80, em que a articulação política dos guerrilheiros com agrupamentos dos Korekore Shona terá sido levada a cabo por intermédio dos médiums e “fazedores de chuva” locais especializados no “contacto directo” com os antepassados em séances públicas de possessão espiritual. que iriam ver-se cada vez mais postos em causa.
As linhas de argumentação por norma esgrimidas para justificar essas hesitações eram tão convincentes quão previsíveis. Foi por exemplo frisado que conceitos como o de “tradições” escondiam muitas vezes dinâmicas pré-modernas; que as “tradições” invocadas nem sempre tinham grande profundidade temporal, sendo muitas vezes antes “tradições inventadas”, também se insistindo que a perspectivação “clássica” não tomava em linha de conta a liberdade criativa efectiva (uma plasticidade que o conceito de “autoridade tradicional” escondia) demonstrada por muitos destes “intermediários”, mesmo os mais “formais”, consubstanciada nas possibilidades de inovação (das margens de manobra realmente existentes, aos espaços conjunturais de invenção) de que esses “agentes” locais, na maioria dos casos investigados, efectivamente usufruem.
Em muitos casos
Por exemplo, os estudados por D. Lan no Zimbabwe, op. cit., 1985, e por E. A. van Nieuwaal, op. cit., 1996, no Togo., tanto o âmbito semântico daquilo que tanto analistas como actores sociais apelidam de “tradição”, como a própria invocação de tradicionalidade, mostraram ser coisas de tal maneira vagas, imprecisas e conjunturalmente manipuláveis (sendo-o, de resto e por via de regra, com a finalidade de capitalizar em legitimação), que parecia preferível tratá-las enquanto actos políticos em lugar de as ver como conceptualizações dotadas de uma eventual utilidade analítica directa.
Tradições e alegações de tradicionalidade passaram assim a ser perspectivadas como outros tantos dados a carecer de investigação
Uma sumarização excelente das reperspectivações a que isso tem dado azo no que diz respeito à alçada semântica de conceitos como o de “tradição”, tal como utilizada na expressão “autoridades tradicionais”, é a de M. O. Hinz (1995: 6-7), na sua introdução a uma compilação de artigos sobre as autoridades tradicionais e a democracia na Namíbia e na África do Sul contemporâneas. Hinz pôs a tónica na flexibilidade e na inclusividade das noções de “tradicionalidade” localmente utilizadas, suscitando dúvidas quanto à aplicação acrítica a estes casos de conceitos menos elásticos de “tradicional” como os desenvolvidos por Max Weber., e deixaram de ser encaradas enquanto chaves que nos permitissem desenvencilhar coordenadas e dinâmicas em situações políticas de enorme complexidade.
3.7. OS NOVOS VENTOS METODOLÓGICOS
A contrapartida para esta problematização contemporânea das conceptualizações “clássicas” relativas a “autoridades tradicionais” tem sido um novo alargamento na circunscrição metodológica do espaço jurídico e político do relacionamento entre o local e o estatal em África. Uma reformulação desta vez focada na natureza e “textura” da multiplicidade de interacções efectivas que têm lugar.
Efectivamente, os canais em que têm tido lugar essas interacções têm vindo a diversificar-se de maneira notória. As alterações, tanto económicas como políticas a que as “transições democráticas do início dos anos 90 deram corpo, redundaram, a esse nível, no que muitas vezes só pode ser considerado como uma verdadeira explosão. A economia de mercado e a competição político-partidária, por esbatidas e mitigadas que estas em África muitas vezes sejam, propiciaram-na e deram-lhe alento. A dinâmica imprevisível de situações plurais tão complexas como as vividas aceleraram estes processos.
O resultado está à vista. Novas personagens têm, com efeito, emergido e têm sido reconhecidas a níveis locais, entidades que vão de agentes económicos de intermediação “informal” destes com patamares regionais e nacionais mais abrangentes, a agrupamentos e movimentações, de natureza “místico-religiosas” (muitas vezes de tom messiânico), dotadas de lideranças muitas vezes fortemente carismáticas, a “senhores” (big men) “políticos” que ora “representam” a níveis locais o Estado central, ora se arvoram em “senhores da guerra” que pretendem operar como elos de ligação entre este e aqueles.
Conjunturalmente, como frisei, reformular quadros analíticos para dar conta destas novas realidades tornou-se imprescindível. As implicações disso têm sido profundas. Nos novos enquadramentos teórico-metodológicos, nem os “agentes locais”, nem o Estado, são em boa verdade encaráveis como entidades unitárias. Ambos são antes olhados como peças, ou actores, num jogo político amplo, visto como muitíssimo mais dinâmico do que há apenas alguns anos; um jogo que envolve outras personagens, e que pode porventura ser caracterizado pela sua enorme intrincação e pela sua marcadíssima multidimensionalidade.
Em conformidade com isso, eventuais “autoridades tradicionais” tendem hoje em dia a ser vistas como um de entre vários agentes locais, num “campo” (ou em “arenas”
Para uma discussão fascinante sobre o conceito de “arena” aplicado aos domínios político e jurídico dos relacionamentos contemporâneos entre Estados e grupos locais, é interessante a leitura do estudo monográfico de T. Svensson (1997) sobre as ligações muito contestadas entre os Sami e a Coroa Sueca. Para um enquadramento do problema de escolha entre a noção de “arena” e a de “campo” para análises desses relacionamentos na África sengambiana de hoje, ver o apanhado genérico feito por E. Costa Dias, op. cit.:36), de quem retiramos a seguinte citação: “o espaço da ‘notabilidade’ ganhou progressivamente novas dimensões [...]: para além de se ter tornado numa espécie de lobby que pressiona permanentemente a administração, constituiu-se numa espécie de palco informal de discussão política interna que, em conjunturas mais favoráveis, tenta combinar tanto a escala local com a regional e nacional, como os interesses das “autoridades tradicionais” com as imposições da administração”.) mais ou menos ordenado em termos de posicionamentos, competências funcionais, apoios ou fundamentos invocados, e a consequente legitimação nesses moldes alegada. Um forte acento tónico tende, nos esforços analíticos mais recentes, a ser colocado na interactividade dos dois grandes domínios circunscritos, o “local” e o “central”: têm assim sido objecto de cada vez maior atenção
Ver, por exemplo, a excelente e longa introdução de J. Comaroff e J. Comaroff (1999), op. cit.. tanto a intrusão dos agentes locais no interior do “Estado” (por meio da sua articulação activa com novas e velhas redes clientelares, no âmbito de uma “participação” político-partidária ou, ainda mais informalmente, em termos dos lobbies económicos, ou religiosos, em que tantas vezes se integram); quanto tem sido atribuída uma maior importância à penetração ideológica e político-organizacional do Estado central a nível do local e da representações que aí são produzidas
Cf. A. Marques Guedes et al. (2001) e A. Marques Guedes et al. (2003). Refiro-me aqui, naturalmente e muito em particular, às imagens e práticas locais que, a nível jurídico e político, designadamente, mimetizam as formas estaduais, indo assim buscar nelas alguma da legitimidade por que anseiam..
A consequência: a imagem “clássica”, simplificada e reducionista, de agentes organizados envolvidos em relacionamentos formalizados tem vindo a perder terreno de maneira irreversível. Um pouco no que diz respeito a toda a África, não é já automática a presunção de que a legitimação pela “tradição” continue a ser motivo desta panóplia de novos agenciamentos sociais, nem do ponto de vista dos grupos localmente estabelecidos, nem do dos Estados centrais; os quais, tal como aqueles, encontram hoje em dia uma variedade de razões para interacções que cada vez são mais intensas e substanciais.
Como mais adiante irei tentar pôr em realce, este é um dos pontos cujas implicações faço sempre questão de discutir no programa da disciplina de Direitos Africanos. Para já, no entanto, voltemo-nos para a reponderação concomitante a que estes processos de fragmentação da “sociedade” e do “Estado” têm vindo a dar azo no contexto mais lato dos estudos levados a cabo sobre as dinâmicas políticas em África.
4. OS ESTADOS, AS SOCIEDADES, O SISTEMA INTERNACIONAL E A ÁFRICA: PRIORIDADES, RELAÇÕES CAUSAIS, TRANSFORMAÇÕES E CONSTRUÇÕES RECÍPROCAS
Começo por uma simples constatação. Saímos há não muito tempo de um longo período de reificação teórica ou, talvez melhor, de naturalização, do Estado. Durante vários anos viu-se estabelecida de maneira consensual, entre uma muito significativa parcela dos especialistas que sobre o tema se debruçaram, a convicção de acordo com a qual os Estados seriam o “formato único” de integração política na época moderna; segundo os defensores desta perspectivação eles formariam, por conseguinte, os únicos elementos constitutivos de um sistema internacional por isso mesmo apelidado de “sistema internacional de Estados”
Não valerá decerto a pena, neste como nos casos seguintes, ir mais longe do que uma breve indicação dos mais importantes proponentes das perspectivações teóricas a que faço alusão nesta subsecção. A noção de sistema internacional de Estados faz parte da dieta comum do estudo das Relações Internacionais, e é utilizada pela larguíssima maioria dos Autores anglo-saxónicos. Como irei sublinhar a par e passo ao longo do presente texto, a sua utilidade analítica atinge o seu apogeu na âmbito das teorizações realistas, neo-realistas e afins.. De par com esta convicção, pareceu facto assente a um grande número daqueles que sobre o tema se debruçaram a ideia de que a eficácia dos processos políticos contemporâneos dependeria, em larga medida, da acção política estadual.
Essa naturalização, ainda que sujeita a avanços e recuos, foi endémica: de uma ou de outra maneira, em todas as Ciências Sociais houve quem participasse numa convicção epistemológica que a muitos parecia inabalável. A noção da centralidade do Estado ganhou assim foros de cidadania no âmbito daquilo que talvez se possa chamar a “ideologia espontânea” quanto a questões políticas de fundo. Embora o porquê desse contágio exceda a economia do presente trabalho introdutório, importa sublinhar que durante a primeira trintena de anos da segunda do século XX, enquanto formas institucionais e nexos de agregação de dispositivos normativos (e, em particular, de dispositivos e nexos jurídicos) para a organização da governação, os Estados apresentaram-se a investigadores, políticos e cidadãos comuns como entidades unas, perenes, criaturas de algum modo imutáveis, seres cuja desejabilidade era por todas essas razões dificilmente discutível.
Afirmar que ocorreu um processo de naturalização quando à caracterização e à centralidade dos Estado não equivale todavia a asseverar que se verificou uma sua hegemonia exclusiva. Seria um erro presumir uma qualquer verdadeira universalidade nesse conglomerado de convicções, por muito largamente partilhadas que elas tenham sido e não obstante a propensão que se tornou patente para as conceptualizar como um conjunto coeso e unitário.
Efectivamente, perspectivas centradas no Estado não vigoraram sòzinhas. Repartiram o território com outras hegemonias, de algum modo como que em contraponto. Em paralelo, muitos outros foram os investigadores que se ativeram a modelizações, curiosamente mais “clássicas” no que toca à sua gestação e emergência, que de algum modo invertiam a ordem dos factores. De par com essa reificação, manifestaram-se assim propostas analíticas simétricas e inversas que, em lugar de insistir na subordinação (que conceptualmente se saldava numa subsunção) das sociedades aos respectivos Estados, preferiam pelo contrário centrar a atenção nas sociedades, entrevendo antes os Estados como entidades institucionais e organizacionais por elas em larga medida constrangidos
Stein. S. Eriksen (2000, op. cit.: 14-26), no que redunda numa recensão de conjunto destas posturas teóricas, apelidou o primero grupo de teorizações de “centradas no Estado” e o segundo de “centradas na sociedade”. Apesar de baseada num contraste excessivamente simplificado, a tipificação tem vantagens em termos de arrumação, pelo que, sem necessariamente concordar com Eriksen, a utilizo neste estudo. Tal como alguns outros Autores coetâneos, Eriksen delineia ainda um terceiro grupo de posturas teóricas, em que aliás se inclui: apelida-o de “relacional”. Teorias “centradas na sociedade” (que aqui traduzo por “centradas na sociedade”) são aquelas que explicam o carácter do Estado por referência à sociedade. Incluem as teorias “clássicas” da modernização tal como as teorizações mais em voga nos anos 70 e 80 relativas à “sociedade civil” e ao “capital social”. Para as teorias “centradas no Estado” (a que aqui chamo “centradas no Estado”), o tipo de explicações gerado por esses modelos é parcial e insuficiente; em alternativa, este grupo de teorizações tenta explcar o Estado por referência às propriedades do próprio Estado. O Estado, argumentam os defensores do estato-centrismo, é uma instituição sui generis, dotada de uma marcada e sensível autonomia, e por isso não pode ser reduzido às características da sociedade. Tal como iremos ver, várias teorizações mais recentes têm insistido na relação recíproca, e de mútua constituição, entre Estados e sociedades, retendo embora alguns níveis de autonomia tanto para os primeiros como para as segundas: um exemplo, para além da teorização que Eriksen apelida de “relacional”, é a de Joel S. Migdal, que este último intitula de “state-in-society” (e a que me refiro como perspectivações do tipo “Estado na sociedade”)..
Como irei tentar pôr em realce, estão aí incluídas as perspectivações liberais clássicas, aquelas genericamente apelidáveis de marxistas e aquelas outras, de carácter mais funcionalista, que tão influentes foram, nessa época (sobretudo durante os anos 60 e 70), nalguns círculos intelectuais anglo-saxónicos. Para essas teorizações alternativas, que não lograram ocupar mais do que um nicho secundário durante a longa fase de relativa dominância das grelhas analíticas estato-cêntricas, mas que nalguns círculos académicos, intelectuais e políticos se mantiveram como dominantes, o Estado só pode ser explicado (de uma ou de outra maneira, variável consoante as características distintivas do “sociologismo” abraçado pelos seus proponentes) por referência à sociedade.
As coisas não se ficaram todavia por aqui. Este sócio-centrismo não foi o único formato das alternativas teóricas a repartir um território conceitual que o tempo, as mudanças no Mundo contemporâneo e os diálogos e as controvérsias dos estudiosos se encarregaram se ir redimensionando, um espaço nocional cuja topografia e limites em qualquer caso nunca foram muito claros. Tal como a hegemonia estato-cêntrica, as “doutrinas” sócio-cêntricas foram-se progressivamente esbatendo. O alcance deste autêntico redimensionamento foi estrutural. Talvez não seja excessivo aventar que o paradigma dualista (chame-se-lhe isso) que tantos anos durara entrou em crise.
Em anos recentes, vários estudiosos, com um maior ecumenismo, insistiram na evidência de uma interacção recíproca entre Estado e sociedade, asseverando que nenhuma destas entidades seria verdadeiramente inteligível sem alusão à outra, já que elas se constituem mutuamente. O que começou com uma solução sincrética para uma velha oposição talvez esteja porém a tornar-se porém numa inovação monta. Uma espécie de novo patamar parece poder estar em vias de albergar uma novo paradigma.
Talvez valha a pena entrever a mudança de um outro ângulo, de modo a aclarar os seus contornos. É certo que durante um longo período uma preponderância indubitável coube a teorizações que atribuíam ora ao Estado ora à sociedade um lugar central e dominante no desenrolar dos processos políticos contemporâneos. Pouco a pouco têm sido trazidas à ribalta perspectivas mais sintonizadas com a ideia de fundo de que é por norma analiticamente preferível (no duplo sentido de que é empiricamente mais bem fundamentado e de que assim se conseguem gizar dispositivos conceptuais com uma melhor capacidade explanatória) pôr a tónica no relacionamento recíproco entre sociedade e Estado, um relacionamento que, tal como iremos ver, em larga escala é constitutivo tanto de ambos estes termos do binómio quanto da separação entre eles vai a par e passo sendo reformulada
Podemos ir mais longe. Como disse, não foram apenas a universalidade e a centralidade do Estado aquilo que foi naturalizado, ou reificado, nem tal aconteceu somente nos níveis da aceitabilidade e da desejabilidade das formas e processos políticos contemporâneos. A convicção estendeu-se ao domínio dos processos políticos e da sua progressão, com a consequência de que os palcos analíticos se viram ocupados por discussões teórico-metodológicas muitas vezes intrincadas, nas quais se contrapunham opiniões mais ou menos bem fundamentadas e de plausibilidade variável quanto aos papéis respectivos de Estados e sociedades em coisas como as dinâmicas políticas actuais e passadas, as políticas legislativas prosseguidas, os esforços quantas vezes laboriosos de desenvolvimento, ou os processos, umas vezes difusos outras nítidos e bem delineados, de transição política. Tal ocorreu no que respeita às investigações sobre Estados ocidentais, latino-americanos, asiáticos, ou africanos, e tanto no que se prende com o papel e o peso relativo dos Estados e de outras entidades, no plano normativo como no económico, no ideológico-nacionalista, ou no político-militar, para apenas apontar alguns dos muitos exemplos possíveis..
Nas páginas que se seguem deste trabalho introdutório, começo por enunciar em pormenor essa progressão estrutural. Virar-me-ei de seguida, ainda que tão-só de forma sucinta e indicativa, para as implicações de tudo isto no que diz respeito ao estudo dos Estados e dos Direitos africanos contemporâneos. O foco será firmemente colocado nas análises que têm sido empreendidas quanto ao peso e à extensão da acção política dos Estados. Pari passu, irei fazendo alusão ao lugar e papéis do Direito estadual, à sua produção, e às formas cambiantes do seu relacionamento-separação vis-à vis as normatividades consuetudinárias com que em África este coexiste
Retomo desse modo aqui a questão, abordada numa subsecção anterior dedicada ao lugar estrutural do Direito em África e em várias considerações (que fui formulando e que pormenorizei na subsecção 2 da Parte I) relativas à construção de um quadro analítico unitário que possa dar boa conta dessa tão complexa ligação..
Um breve alerta. Como iremos ter a oportunidade de verificar, as investigações levadas a cabo sobre os complexos relacionamentos entre os Estados e as sociedades africanas pós-coloniais não progrediram segundo padrões muito diferentes daquelas empreendidas no que respeita aos Estados ocidentais ou a quaisquer outros. Algumas distinções houve no entanto, que importa saber pôr em evidência pelo interesse de que se revestem. As inovações e tranformações a que os estudos dedicados às realidades políticas emergentes no Continente africano têm sido sujeitos parecem ir precisamente num sentido paralelo aquele que dão corpo ao novo patamar de teorizações genéricas que se têm vindo a afirmar no âmbito da análise dos processos políticos em geral. O como e o porquê dessas curiosas convergências são questões que irei também aflorar, dada a importância daquilo que nos revelam quanto às especificidades das experiências africanas pós-coloniais.
4.1. AS TEORIZAÇÕES “CENTRADAS NO ESTADO”
Embora a assunção de uma relativa (e repartida) hegemonia epistemológica das modelizações estato-cêntricas a que aludi tenha sido bastante nítida, o grupo de teorizações “centradas no Estado” para explicar as dinâmicas políticas (e, ainda que de forma marginal, as jurídicas) actuais não se tem apresentado com uma face, ou numa versão, monolítica. Bem pelo contrário, investigadores diferentes têm proposto formatos diversificados para o ascendente dos Estados que todos concordam melhor explicaria as dinâmicas políticas modernas. Não será abusivo agregar as formulações teóricas estato-cêntricas em duas grandes “famílias”, por assim dizer.
Em primeiro lugar, avultam desde há bastante tempo as construções realistas e neo-realistas
Hans Morgenthau, Henry Kissinger, Kenneth Walz e John Mearsheimer estão seguramente entre os principais realistas e neo-realistas no estudo das Relações Internacionais. Esta perspectiva é evidenciada virtualmente em todas as numerosas obras publicadas por estes Autores. comuns no estudo das Relações Internacionais, segundo as quais os Estados seriam entidades unitárias, actores racionais que se dedicariam à prossucussão dos seus próprios interesses no contexto daquilo que é apelidado um sistema internacional de Estados. De acordo com os defensores deste tipo de perspectiva, já que a finalidade última das políticas estaduais é a de proteger e defender os interesses e assegurar a sobrevivência do Estado num meio internacional pejado de outras entidades que prosseguem objectivos semelhantes, as políticas estatais (incluindo as legislativas neste caso no âmbito jusinternacionalista) tendem no essencial a ser interpretadas como tendo em vista a maximização dos interesses próprios de cada Estado, “interesses” esses definidos, grosso modo, em termos geo-estratégicos.
Para alguns proponentes deste género de postura analítica, tais interesses são definidos objectiva e racionalmente
Kenneth Walz (1979), com a sua teoria das “threes images”, é porventura o mais famoso expoente desta postura analítica, que tanta escola tem feito sobretudo nos Estados Unidos. Como seria de esperar, as interpretações quanto ao papel do Direito (e designadamente o do Direito Internacional) tendem a seguir de perto estas perspectivações teóricas mais gerais.. Outros discordam e consideram, ao invés, que eles são antes subjectivos e são identificáveis com as preferências dos líderes que controlam as rédeas do poder
Cabem decerto a um dos primeiros trabalhos analíticos de Stephen Krasner (1983) as formulações mais minuciosas desta perspectiva de análise.. Para todos eles, no entanto, essas preferências, esses interesses, a racionalidade, os processos de maximização, e a unidade do Estado tendem a apresentar-se como pressupostos, como dados prévios cujas características e energência ficam inexplicadas.
A segunda “família” de teorizações estato-cêntricas faz frente a precisamente um desses problemas que acabei de inventariar, o da presunção não fundamentada da unidade do Estado, e insiste em apontar as suas baterias na direcção do Estado enquanto organização, virando a atenção para as suas interacções internas e externas e para a consequente complexidade dos processos de tomada de decisões. Análises dete tipo proliferam no que toca tanto ao estudo de políticas nacionais quanto, mais uma vez, à investigação sobre os nexos de relações internacionais em que os Estados se embrenham
No que toca ao estudo dos relacionamentos internacionais dos Estados, esta posição tem sido nomeadamente defendida por Autores como Graham Allison (1968), num trabalho famoso relativo à chamada “crise dos mísseis de Cuba” e, de maneira mais compósita, por Robert Keohane e Joseph Nye (1983), nos termos da escola dita “institucionalista”. .James March e Johan Olsen (1979) são seguramente os mais influentes defensores dete tipo de modelização às políticas internas dos Estados contemporâneos.. Nelas, as políticas estaduais emergem como resultado dos agregados de preferências, muitas vezes antagónicas entre si, dos diversos actores e instituições que constituem os aparelhos de Estado. Em lugar de ser encarado como um actor verdadeiramente unitário, tanto o Estado como a sua produção legislativa, para os defensores deste tipo de formulações, são por via de regra retratado como uma arena em que outros actores (Ministérios, departamentos, e indivíduos, por exemplo) se degladiam.
Por reveladoras que possam parecer estas modelizações alternativas ou complementares, a verdade é que em qualquer das suas múltiplas versões, uma perspectivação “hegemónica” puramente estato-cêntrica não podia durar. O rápido evoluir das conjunturas nacionais e internacionais, e a progressão concomitante das formulações analíticas utilizadas como quadro para a interpretação delas encarregar-se-iam de o assegurar.
A erosão teve duas frentes por assim dizer: a pouco e pouco, com o andar do tempo e das coisas, tanto as anomalias intrínsecas a esse género de teorizações “centradas no Estado” quanto as suas desadequações empíricas se foram tornando cada vez mais evidentes. Tal aconteceu à medida que novos Estados, com características muitas vezes sui generis, emergiam com as descolonizações dos anos 50, 60 e 70. Desadequações e anomalias firmaram-se a par e passo com uma bipolarização que se instalava e depois se apagava, primeiro subalternizando a larga maioria dos Estados em relação às duas grandes superpotências e depois fazendo vir à tona as suas deficiências estruturais relativamente ao modelo ideal quando estes passaram de “Estados-clientes” a Estados-membros, num sentido pleno, do sistema internacional.
Finalmente, o rol incongruências tornou-se dolorosamente óbvio com a generalização do fenómeno mais recente que resultou da evidência de que algumas dessas novas entidades recém-“autonomizadas” (muitas delas em África) eram, afinal, failed states. Acossado por todos os lados, o velho paradigma hegemónico
Para uma excelente e assaz pormenorizada discussão da ascensão e queda deste género de perspectivações, é útil a leitura do trabalho já citado de Joel S. Migdal (2002, op. cit.: 41-58, 97-135. Trata-se de uma monografia em que Migdal leva a cabo um balanço de uma vintena de anos na sua elaboração da “state in society perspective”. começou a soçobrar: tomar a forma Estado como um dado adquirido tornava-se, nas conjunturas emergentes, empiricamente mais e mais incongruente. Mais e mais dúvidas sistemáticas se começaram por isso a manifestar de forma incontornável
Nalguns casos, essa acumulação de dúvidas foi mesmo pormenorizadamente teorizada em termos que redundavam na construção de uma ponte que transmutava o estato-centrismo criticado num sócio-centrismo alternativo. Um só caso bastará, dos vários possíveis. Tomando África como exemplo, Robert Jackson e Carl Rosberg (1983) puseram-nas designadamente bem em relevo ao asseverar que a convicção, tão longamente partilhada, na universalidade e estabilidade do formato “Estado” sofreria em muitíssimos casos danos irreparáveis se tomássemos em linha de conta questões outras que não o estatuto jurídico de que gozam, designadamente a sua ocupação efectiva de um território ou a tutela exercida sobre uma determinada população, se olhássemos para os factos e não apenas para as palavras. Muitas das entidades que apelidamos “Estados”, concluiram com mordacidade estes dois analistas, apenas o são em termos das ficções jusinternacionalistas em vigor e em virtude do reconhecimento que recebem, nesses mesmos termos, pela comunidade internacional. As consequências epistémicas deste tipo de dúvidas, que cada vez melhor se foram fundamentando, não devem ser subestimadas. As suas implicações têm resultados que não podem ser ignorados. Um deles verifica-se a nível das teorizações relativas ao posicionamento internacional dos Estados. Caso levemos a sério objecções como essa, com efeito (e parece difícil evitá-lo), os Estados não deteriam afinal um qualquer monopólio no sistema internacional: para além deles (e das muitas entidades não-estaduais que cada vez mais populam os palcos internacionais) há numerosos “quasi-Estados”, entidades dotadas de uma “soberania negativa” que lhes é atribuída por outrém. Por outras palavras, e como Christopher Clapham (1996) viria a concluir, mais uma vez tomando os Estados sub-saarianos pós-coloniais como exemplo, vigoram de facto na ordem internacional diferentes “graus de estaticidade”.. Independentemente da qualidade das formulações teóricas produzidas em sua sustituição, concordemos que não são difíceis de trazer à tona as limitações mais teórico-epistemológicas das perspectivações estato-cêntricas até há bem pouco tempo dominantes.
Comecemos pelo plano mais geral. As teorizações “centradas no Estado”, como pudemos notar, não nos oferecem nenhuma explicação para as fontes do poder do Estado e do Direito que dele brota: a capacidade que os Estados manifestam em agir é tão-só pressuposta, sem que quaisquer explicações sejam disponibilizadas em relação aos mecanismos da sua emergência e estabilização. Os estatistas tendem ainda a presumir, como vimos, a existência, senão de uma separação radical, pelo menos de uma separabilidade integral, entre o Estado e o seu contexto externo, constituído por sociedades e por outros Estados.
Há que não subestimar as objecções implícitas nestas duas limitações. Enquanto a primeira destas dificuldades põe em realce as limitações históricas e explanatórias das modelizações estato-cêntricas, a segunda peca ao vislumbrar os Estados (e os seus Direitos) enquanto variáveis excessivamente independentes relativamente às conjunturas em que se movem, remetendo assim, artificial e arbitrariamente, para análise posteriores e separadas, tanto a interdependência manifesta quanto as demarcações funcionais sempre tão patentes entre um qualquer Estado e os meios internos e externos em que opera.
Numa outra subsecção do presente estudo irei debruçar-me sobre este tipo de posturas analíticas no que diz respeito a investigações levadas a cabo relativamente à África pós-colonial. Para já, no entanto, irei poisar a minha atenção na “família” de teorizações sócio-cêntricas que partilharam durante tantos anos a hegemonia interpretativa com as estato-cêntricas que tentei brevemente resumir.
4.2. AS TEORIZAÇÕES “CENTRADAS NA SOCIEDADE”
Se nos virarmos agora para o segundo grupo de teorizações que delineei, aquelas a que chamei “centradas na sociedade”, também não é particularmente árduo, à imagem aliás daquilo que levei a cabo no que diz respeito ao primeiro grupo, o das teorizações centradas no Estado, tentar fazer um rastreio delas e das objecções que as têm erodido. Mais uma vez tanto empírica como teoricamente, não se revelou fácil, com efeito, postular em simultâneo que, por um lado, o carácter do Estado e do Direito que produz derivam da sociedade que tutela; mas que, por outro lado, os Estados se revelam muitíssimas vezes capazes de manifestar uma marcada autonomia em relação às sociedades a que supostamente seriam redutíveis e que por conseguinte hipoteticamente os “governam”.
Para melhor o compreender, vale decerto a pena determo-nos um pouco neste ponto, que enuncei tão-somente de maneira geral, pormenorizando-o. Comecemos pelas teorizações “liberais pluralistas” e pelas “funcionalistas”
Há que realçar que cada um destes grupos de teorizações compreende várias versões alternativas. Neste texto atenho-me apenas a um apanhado geral dos maiores denominadores comuns existentes entre elas.. E notemos que estas duas tradições (chame-se-lhe isso) partilham perspectivas similares quanto ao relacionamento entre o Estado e a sociedade, embora difiram no que toca à conceptualização que propõem quanto à relação entre o indivíduo e a sociedade.
Talvez seja mais fácil vislumbrar estas semelhanças e distinções de família em termos narrativos. Se para os liberais de cepa mais “clássica” o Estado e o Direito estadual são retratados como uma arena de competição institucionalizada entre interesses e valores diferentes uns dos outros, para os proponentes do funcionalismo Estado e Direito estadual são antes encarados como expressão de uma integração normativa mais genérica que a ambos subtenderia, representando ademais vários pré-requisitos sistémicos, entre os quais avultaria a reprodução telle quelle da sociedade de que dependem. De acordo com a tradição liberal, as instituições e as normatividades estatais são configuradas como molduras neutras em cujo interior se degladiariam conflitos de interesses e valores (individuais e de grupo
Uma verdade a nível genérico, embora as noções tanto de indivíduo como de grupo variem fortemente de Autor liberal para Autor liberal, tendo sido largamente abandonadas as delineações setecentistas que sobre estes conceitos mantinham os philosophes fundadores. Robert Dahl (1971) é provavelmente o mais articulado e influente dos defensores contemporâneos deste postura teórica.), e os conteúdos das políticas estaduais não seriam mais do que um reflexo desses valores e interesses.
O poder estatal (normativo ou outros) reflectiria, vistas as coisas deste ângulo, o poder social relativo de grupos e indivíduos. Pelo contrário, de acordo com a perspectivação funcionalista as instituições estatais são em alternativa configuradas como vocacionadas para o preenchimento de “funções”
Funções essas definidas de forma claramente teleológica, que substitui (muitas vezes subrepticiamente) causas por consequências: o resultado da operação de prácticas e representações socioculturais (ou de instituções e esquemas conceptuais) é muito caracteristicamente anunciado pelos funcionalistas como o motivo para elas. A circularidade deste tipo de raciocínios não carece de melhor demonstração. O sociólogo norte-americano Talcott Parsons (1952) tem fortes direitos de paternidade em relação a este género de teorizações. No domíio da Ciência Política, A versão do funcionalismo de David Easton (1965) pontificou durante mais de um decénio. tidas como imprescindíveis para a reprodução da sociedade enquanto um sistema integrado e estável. O poder estatal exprimiria no fundo, se olhadas as coisas deste outro ponto de vista, um conjunto de imperativos sistémicos próprios da sociedade enquanto entidade colectiva a que os indivíduos se subsumem.
Não será decerto necessário detalhar com muito mais minúcia os contornos e minudências de perspectivas tão bem conhecidas como estas. Vale seguramente no entanto a pena distinguir entre si as várias versões delas que têm vindo a ser ellaboradas. Teorizações liberais e teorizações funcionalistas convergem na perspectivação do Estado e do seu Direito enquanto representante e promotor dos interesses comuns da sociedade como um todo. Nisso se distinguem da tradição marxista, que ao invés recusa tanto a ideia de que Estados e Direitos seriam molduras neutras de conflitos, lutas e compromissos quanto a ideia de que expressariam valores partilhados na sociedade.
O Estado e a normatividade que dele brota não representariam quaisquer interesses comuns. Em vez disso, representam os interesses próprios de classes sociais específicas, os quais, por serem particulares e não universais, não podem senão ser defendidos por recurso ao uso da força
Formulações marxistas mais híbridas (que alguns Autores preferem por isso denotar como “marxianas”), admitem alguma autonomia não-classista à acção dos Estados modernos: outras, fazem uso de uma noção alargada de “força”, incluindo nela ideias como a de “hegemonia” ou a de “aparelhos ideológicos do Estado”. São disso exemplo os formulações de Antonio Gramsci, as de Louis Althusser (1966), e as de Nicos Poulantzas (1968); todos tiveram os seus seguidores. Vários investigadores anglo-saxónicos têm tmbém partilhado também deste perspectivação mais mitigada.. Estados são por conseguinte encarados como conjuntos de instituições que, através do recurso à violência, asseguram a manutenção e a reprodução de relações concretas de poder e dominação enquanto que Direitos seriam como que a forma soft e ancilar de solidificação desses relacionamentos. Por detrás destas diferenças, e de acordo com uma ou outra formulação, os três grupos convergem porém na convicção de o carácter último do Estado e do Direito derivam da sociedade e são-lhes em última instância redutíveis.
Tal como é o caso com as formulações estato-cêntricas que atrás abordei, não são difíceis de trazer à tona algumas das limitações mais teórico-epistemológicas das perspectivações sócio-cêntricas que agora delineei. E isto independentemente da qualidade das formulações teóricas produzidas.
Comecemos novamente pelo plano mais geral. Insisti já na evidência de que as teorizações “centradas na sociedade” demonstram uma vincada incapacidade de dar conta da autonomia tanto do Estado em geral como do seu Direito em relação às forças sociais que, postulam, de uma ou de outra maneira e conforme as formulações em causa o formatariam e dirigiriam. É no entanto nítido, se olharmos os factos com um mínimo de atenção, que essa autonomia estatal existe. Os Estados delineiam políticas e implementam-nas; muitas vezes fazem-no, para além do mais, de maneira coerente e sustentada. Este tipo de teorizações, torna-se por conseguinte evidente, não consegue dar conta de uma parcela crucial das reais dinâmicas políticas e jurídicas muito concreta e empiricamente observáveis.
Torna-se fácil perceber que, caso Estados e Direitos não fossem senão arenas que refletem, ou encenam, forças sociais em competição, essa autonomização não seria possível. Um módico de reflexão revela-o. Para lograr formular políticas coerentes (quer se trate de políticas legislativas ou não) e, sobretudo, para as implementar de forma consistente, coesa e continuada uma vez elas aprovadas, mesmo fazendo frente às forças que se lhes opõem, os Estados precisam claramente de ser dotados de uma larga margem de manobra em relação a estas últimas. O paradoxo central das teorizações sócio-cêntricas pode ser assim equacionado: trata-se de perspectivações que presumem um controlo total do Estado e do Direito pela sociedade, não deixando à autonomia estatal qualquer espaço conceptual, mas que no entanto pressupõem uma autonomia do Estado na sua habilidade e capacidade de agir ao nível político lato sensu.
Finalmente, e salvo raríssimas e honrosas excepções, o pressuposto de que cada Estado e cada normatividade jurídica estatal devem ser no fundamental identificados com, e analizados como, um reflexo da sua própria sociedade subtende tanto as teorias liberais quanto as funcionalistas ou as marxistas. Todas estas “famílias”, com efeito, erigem a “sociedade” como o seu conceito central, e com isso entendem, por via de regra, a sociedade composta pela população instalada no território delimitado pelas fronteiras desse mesmo Estado
Isto é também o caso, apesar de o ser de forma sui generis, nas teorizações marxistas “clássicas”, que tendem (mas fazem-no apenas num segundo passo, a embutir as análises que levam a cabo num quadro mais “internacionalista”.. Uma perspectivação deste tipo tende naturalmente, senão a ignorar, pelo menos a subalternizar, relações com outros Estados e populações, que tendem assim a ser encaradas enquanto meras relações “externas” a operar no campo de um sistema internacional de Estados
Para a maioria dos analistas que sobre estas questões se debruçam, um estado de coisas como este exige mais do que um abandono genérico das velhas conceções universalistas e reificadas sobre o lugar estrutural tanto da “sociedade nacional” como do Estado no estudo dos processos políticos modernos. Clama também pela urgência da gestação-delineação de elementos constitutivos das ordens políticas nacionais e internacional, entre si diferenciados q.b. para dar conta da diversidade empírica efectivamente observada. Alguns investigadores foram mais longe: presumindo uma estruturação sistémica dos processos políticos a um nível mais alto (ou mais profundo) de inclusividade, asseveraram que essa diversidade responderia a diferenças no lugar dessas entidades na lógica mais abrangente de uma ordenação internacional ditada por pressões de outro tipo. Increve-se nesta família de teorizações a postura de Boaventura de Sousa Santos (2003) sobre as características particulares dos Estados da “periferia” do “sistema mundial neoliberal hegemónico”.
que formariam deste modo uma realidade no essencial independente do relacionamento entre os dois termos de base de um binómio pré-concebido.
Simplificações destas, como é óbvio, esbarram contra uma objecção metodológica de fundo. Por muito que o desejemos, um Estado não pode ser concebido como primeiro existindo e, depois, participando no sistema internacional em que está integrado. A sua existência não pode sequer ser imaginada independentemente dessa sua participação e, como vimos, para muitos Estados africanos isso é particularmente manifesto. Designadamente, as dinâmicas políticas de um Estado tornam-se incompreensíveis fora dos quadros regionais em que se inserem e das múltiplas relações em que nesse âmbito se embrenham. No caso concreto de África, os Estados pós-coloniais nunca são integralmente inteligíveis se não tomarmos em linha de conta as ligações históricas e contemporâneas com as suas ex-Metrópoles coloniais. E, por último, quaisquer interpretações depressa se revelam incompletas se ignorarmos o seu tipo de inserção na ordem internacional vigente como um todo
Apesar de haver que ter cuidado, como tive a oportunidade referir, com as generalizações que possamos ser levados a elaborar a esse respeito.; questão que, como tivemos antes o ensejo de sublinhar, muitas vezes se torna particularmente aguda quando se trata de analizar e compreender Estados como os africanos.
4.3. AS PERSPECTIVAÇÕES DO TIPO GENÉRICO “ESTADO NA SOCIEDADE”
Como tive a oportunidade de insistir, as teorizações “centradas no Estado” encaram-no enquanto um actor político e social de uma ou de outra maneira pré-existente e autónomo, cuja propensão é a de maximizar os seus próprios interesses face a outros Estados e a outros grupos sociais que agregam a população que tutela no território que controla. Em contrapartida, as teorizações“centradas na sociedade” tendem a analizar o Estado enquanto uma mera moldura institucional, mais ou menos neutra, no interior da qual são mediados, de uma ou de outra forma, os relacionamentos entre agrupamentos sociais definidos segundo critérios variáveis.
Tal como tive também o ensejo de referir, as implicações destas duas posturas alternativas podem com facilidade ser equacionadas. De acordo com as interpertações geradas pela última “família” analítica, as políticas estaduais vêem-se reduzidas a simples reflexos destes ou daqueles interesses sociais, sem que ao Estado enquanto instituição sejam reconhecido um qualquer papel na sua delineação. De acordo com as intepretações gizadas nos termos da primeira das “famílias” que circunscrevi, as políticas estaduais vêem-se pelo contrário delimitadas pelas propriedades e características do próprio Estado ou das forças sociais que ocupam postos no seu aparelho político-administrativo, independentemente das características da sociedade governada
Para os marxistas, par contre, as delimitações existentes dependem da sociedade de que fazem parte..
Quebrando de alguma forma a longa hegemonia de um e do outro destes dois tipos de perspectivação, em anos recentes tem despontado, e tem-se vindo a solidificar, uma terceira postura analítica. Um pouco por todo o âmbito das Ciências Sociais, têm começado a ser formuladas variações teóricas
Um movimento, se se lhe pode chamar isso, que teve no essencial início no âmbito da Antropologia e da Sociologia (sobretudo a chamada Sociologia Histórica) e que depressa se propagou á Ciência Política. de uma posição alternativa que prefere antes encarar Estado e sociedade como entidades profundamente interligadas entre si: uma postura analítica que, a um tempo, rejeita esse tipo de constraste-oposição radical entre essas duas entidades, e insiste em procurar antes, professando reconhecer a sua importância e centralidade, a relação de influência (no sentido de interferência) recíproca entre sociedades e Estados. Quando comparamos esta com as posturas anteriormente descritas, aquilo que está em causa não são já os relacionamentos recíprocos entre Estado e sociedade, mas sobretudo o grau e a intensdade destes.
Por outras palavras, trata-se de uma “família” de formulações-modelizações teórico-metodológicas segundo as quais Estados e sociedades, ainda que possam ser concebidos como instituções relativamente autónomas, tornam-se mais inteligíveis quando encaradas como entidades entre si mutuamente entrosadas
No seu estudo monográfico comparativo sobre a política local na Tanzânia e no Zimbabwe, S. Eriksen (2000, op. cit.: 31-37) intitula precisamente por isso de “relacional” este novo tipo, mais recente, de perspectivação analítica. Embora, como aliás tive já atrás a oportunidade de referir, a minha posição de maneira nenhuma se possa confundir com a de Eriksen, não quereria deixar de reconhecer a utilidade de que para mim se revestiu a leitura das considerações teóricas de fundo que formam a abertura desse estudo monográfico. Importantes também foram os notáveis enquadramentos teóricos providenciados por Migdal, designadamente aqueles detalhados em Joel Migdal (2002, op.cit.) e que, repito, este último Autor apelida de “state-in-society perspective”.: num sentido forte, nenhuma delas pode ser integralmente comprendida fora do contexto da outra. Um exemplo deste género de perspectivação “relacional”, se se quiser assim apelidá-la, é a da estratégia analítica genérica que proponho no presente estudo introdutório, e que puz já em evidência nomeadamente no que se refere à hibridização, ou “mestiçagem”, como lhe chamei, do “jurídico consuetudinário” e do jurídico estadual em África
Na Parte II, a que se segue neste trabalho, fornecerei exemplos detalhados de como, a nível micro e a nível macro, esse relacionamento biunívoco, por assim dizer, pode com utilidade ser trazido à colação no estudo de alguns dos países africanos “lusófonos”..
Seria decerto excessivo tentar delimitar em qualquer sentido útil eventuais “famílias” nas modelizações das dinâmicas políticas e político-jurídicas deste terceiro tipo, que intitulei de teorias “Estado na sociedade”. Trata-se, com efeito, de teorizações demasiado novas, e demasiadamente inovadoras a nível metodológico-epistemológico para que as possamos com segurança agrupar desse modo
Defensores de uma ou outra versão deste tipo de teorizações são, por exemplo e para além dos já citados Joel S. Migdal e Stein Eriksen, Anthony Giddens (e.g. 1984), Pierre Bourdieu (19 ), Peter Evans, Dietrich Raeschsmeyer e Theda Skocpol (1985), J.-F. Bayart (1989), Michael Mann (1993), James Ferguson (1994), ou Jürgen Habermas (199 ), para me ater a apenas alguns dos nomes mais influentes. Note-se que incluo nesta listagem africanistas e não-africanistas.. Nada nos impede, no entanto, de pormenorizar um pouco mais os seus denominadores comuns.
Talvez não seja abusivo afirmar que a principal linha de força deste conglomerado difuso de perspectivações teóricas mais recentes consista na recusa liminar de uma visão atomística da vida política e social. Pelo contrário, tenta assumir enquanto tal a complexidade de interacções e interpenetrações realmente existente segundo esta perspectiva: ou seja, redunda numa muito real hesitação perante uma qualquer ontologia segundo a qual entidades sociais (Estados, sociedades, ou quaisquer outras) existiriam enquanto objectos de análise anteriores uns em relação aos outros e independentes uns dos outros. Trata-se para formular as coisas de outra forma, de assumir uma posição avessa a quaisquer essencialismos.
Os eixos constituintes (e portanto as implicações teórico-metodológicas) de uma reperspectivação nestes moldes não são triviais. Na variante mais pura e dura deste tipo de enquadramento teórico, entidades políticas, jurídicas e sociais não são encaradas como separadas umas das outras, como contrapostas umas com as outras, ou como entretendo quaisquer relações variáveis entre elas: a importância (muitas vezes a prioridade) atribuída aos relacionamentos soletra à la limite uma perspectivação segundo a qual tais entidades seriam, em última instância, um claro produto desses relacionamentos e não apenas a sua causa.
As consequências não são de todo neutras: vistas as coisas de um ângulo como este, os tipos de ligações e de interacções actuantes entre entidades não emergem aos olhos de um analista enquanto o peso, o impacto, ou o valor, de uma dada variável. Pelo contrário, os múltiplos e sempre complexos relacionamentos existentes são, nessa versão depurada da perspectiva “Estado na sociedade”, antes encarados como plenamente constitutivos da entidade ela mesma dessas entidades.
Algumas das teorizações que incluo neste agrupamento analítico-metodológico dão corpo a versões light destes pressupostos “relacionais”, como lhes chamei. Outras a versões mais “pesadas”. Uma implicação comum a todas elas, ainda que em graus variáveis de intensidade, é todavia a de que nem “indivíduos”, nem “sociedades”, nem “Estados” são alguma vez assumidos como pontos de partida. Por um lado, conceitos como o de “indivíduos” não são por norma entrevistos como mais do que isso mesmo, conceitos: restringem-se sempre, pelo menos parcialmente, a imagens construídas como entidades que nem são separáveis dos relacionamentos, dos contextos e das conjunturas em que estão envolvidos nem verdadeiramente lhes pré-existem enquanto unidades de análise
Um ponto que infelizmente tem recebido insuficiente tratamento teórico. Não vale decerto a pena aqui fazer mais do que uma mera alusão aos trabalhos seminais de Marcel Mauss sobre a tão variável “notion de personne” e aos numerosos estudos antropológicos que ao tema se têm dedicado. No quadro da sociologia política, bastará referir Autores como Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Charles Tilly ou Anthony Giddens..
Por outro lado, esses relacionamentos, quer sejam estruturais quer conjunturais, não podem ser nunca configurados como verdadeiramente concebíveis fora do contexto das acções e das actividades que desencadeiam e em que são gerados. Não é tudo. Por um outro lado ainda, o Estado e o Direito estadual, nos termos desta perspectivação, nunca podem ser inteiramente dissociados, enquanto instituições, institutos, e formas organizacionais, das características específicas dos sempre intrincados nexos de relacionamentos sociais sobre os quais agem e com os quais mantém uma forte ligação umbilical.
Note-se que a arbitrariedade de uma delimitação útil de eventuais “famílias” nas modelizações das dinâmicas políticas e político-jurídicas deste tipo de teorias “Estado na sociedade”, naturalmente não inviabiliza de maneira nenhuma que tentemos levar a bom porto uma sua arrumação ponderada. Nada nos impede, por exemplo de arrumar as teorizações propostas segundo um eixo que corre de um pólo em que entidades estão embutidas nas relações que as constituem a um outro em que entidades retêem uma marcada margem de autonomia relativamente às relações recíprocas em que estão embebidas
Em termos daquilo que aqui nos interessa (explicações das dinâmicas políticas modernas e os lugares estruturais nela preenchidos pela dimensão normativa que comportam) o melhor comentário geral quanto a este tipo de perspectivação é decerto o de Joel S. Migdal (2002, op. cit.: 11-12): “no single, integrated set of rules, wheter encoded in state law or sanctified as religious scriptures or enshrined as the rules of etiquette for daily bbehavior, exists anywhere. Quite simply, there is no uncontested universal code – in law, religion, or any other institution – in any society for guiding people’s lives. The state-in-society model […] zeroes in on the conflict-laden interactions of multiple sets of formal and informal guideposts for how to behave that are promoted by different groups in society. These multiple groupings, all of which use subtle and not-so-subtle rewards and sanctions – including, at times, out-and-out violence – to try and get their way, comprise loose-knit informal collections of people as well as highly structured organizations with manifold resources at their disposal [o Estado sendo apenas uma delas, já que, como Migdal assevera meia dúzia de páginas depois, “states are no different from other formal or informal organizations in a society”]. In short, all societies have ongoing battles among groups pushing different versions of how people should behave. The nature and outcomes of those struggles give societies their distinctive structure and character”. Um dos resultados dessa interacção-competição, acrescentaria eu, são os fenómenos de miscigenação recíproca a que fiz referência.. Por outras palavras, não há impedimentos quanto a seriá-las, de alguma maneira.
No que é porventura a versão mais soft deste género de teorizações, as formulações programáticas limitam-se a constatar que é crucial assumir plenamente a evidência de que Estados são sempre entidades dotadas de alguma autonomia (e nalguns casos, até, primazia), embora o ponto focal das análises deva ser mantido nos relacionamentos entre o Estado e a sociedade bem como entre o Estado e os outros Estados presentes no sistema internacional
Esta é, no fundo a postura programática geral assumida na famosa colectânea intitulada Bringing the State Back In, editada por Peter Evans, Dietrich Raeschsmeyer e Theda Skocpol (1985 op. cit.). O volume, muitíssimo influente e que inclui curtos estudos monográficos relativos a Estados ocidentais e não-ocidentais, teve como razão de ser e Leitmotif a quebra da “hegemonia” sócio-cêntrica que muitos Autores norte-americanos sentiam pesar, nos anos 80, sobre os estudos políticos de então. Em diversos trabalhos posteriores, coube sobretudo a Theda Skocpol, da Universidade de Harvard, elaborar esta perspectivação.. Outras formulações deste tipo de perspectivação”não-atomística”, afins mas mais polarizadas, preferem substituir a ideia de que existiria a muito comum “primazia” e centralidade do Estado adviriam de quaisquer propriedades suas enquanto objecto, pela simples constatação de que quando estas se verificam tal resulta tão-somente da maior eficácia que patenteiam no contexto em que estão embebidos, em termos de coesão organizacional e complexidade institucional
Joel S. Migdal (2002, op.cit.) representa seguramente o expoente mais articulado e sofisticado desta posição analítica. Note-se no entanto, que em muitas das formulações de Migdal, Estado e sociedade, apesar de profunda e profusamente interligados, emergem como entidades pelo menos parcialmente constituídas antes e independentemente uma da outra. Nem sempre é porém assim; nalgumas das suas tomadas de posição, Migdal parece preferir um postura mais relacional, tal como aliás a mioria dos Autores proponentes deste posicionamento “intercalar”: Anthony Giddens (e.g. 1984) e Michael Mann (1993) defendem o que pode sem reducionismos excessivos ser encarado como variações sobre este tema-gradiente..
Versões mais hard destas perspectivas relacionais, por último, advogam antes posições mais “construtivistas”, insistindo num maior descentramento e fragmentação de ideias como as de “Estado” ou “sociedade”, e escolhnedo dar palco nas análises que levam a cabo, em seu lugar, a visões menos “essencialistas”
James Ferguson (1994) e Jürgen Habermas (1992, 1998), cada um à sua maneira, têm vindo a defender posturas deste tipo, tal como, aliás, grande parte dos seguidores das interpretações de Michel Foucault sobre as características do poder no Mundo moderno. Tal como o têm feito, ainda que segundo formatos bastante distintos entre si, J.-F. Bayart (1989) e Patrick Chabal (19 )..
4.4. ESTADO SOCIEDADE, DIREITO E A ANÁLISE DOS PROCESSOS POLÍTICOS E JURÍDICOS PÓS-COLONIAIS NA ÁFRICA CONTEMPORÂNEA
Tal como poderia ser de esperar, no que toca ao estudo dos Estados e dos Direitos africanos pós-coloniais, as modelizações que têm vindo a ser propostas não se afastam muito do programa “tripartido” de investigação (embora baseado num paradigma dualista que, como vimos, contrapõe um ao outro, naturalizando-os, tanto o “Estado” quanto a “sociedade”) que até aqui tentei delinear. Nesse sentido, increvem-se bem nos domínios epistémicos dos contextos em que foram enunciadas. Ou seja, e por outras palavras: as dinâmicas evidenciadas nos processos político-jurídicos que se alinham ao longo dos caminhos pós-coloniais percorridos no Continente têm, grosso modo, sido interpretadas nos termos de simples variantes dos três esquemas analíticos gerais que esquissei, sendo por norma posicionáveis, portanto, no quadro paradigmático que elaborei.
Isso é todavia verdade apenas a traço grosso. Se aumentarmos a resolução de imagens, por assim dizer, depressa verificamos a presença de alterações de pormenor nas modelizações realtivas a processos políticos africanos pós-coloniais que, apesar de serem aparentemente de pouca monta, em todo o caso inviabilizam uma arrumação enxuta das perspectivações elaboradas de acordo com a tripartição até aqui privilegiada. A impressão genérica que resulta de uma leitura atenta da bibliografia sobre o Estado a sociedade e o Direito em África é a de que, no “afeiçoamento” de teorizações gerais às novas e muitíssimo complexas e multidimensionadas realidades emergentes no Continente, foram tornados explícitos pressupostos e preconcepções que até então permaneciam escondidos nas formulações “clássicas”, o que têm a virtude de permitir uma ultrapassagem dos enquadramentos que os sustentam.
Uma visão ampla de conjunto, ainda que sucinta e configurada à vol d’oiseau, põe-no em relevo
Limitamo-nos nas páginas que se seguem a uma perspectivação geral sobre os posicionamentoss analíticos e aquilo que considero como as suas mais importantes transformações nos trabalhos de investigação relativos a África. No que toca aos estudos que dizem respeito às estruturas e dinâmicas políticas na África lusófona é imprescindível a leitura da longuíssima e muito exaustiva recensão recente empreendida por Patrick Chabal (2002)., pondo a nú as condições que dão azo à emergência desse potencial para uma mudança de paradigma. E, em simultâneo, traz à luz uma das ambivalências nodais das teorizações gizadas pelos primeiros “africanistas” logo após as independências encetadas em meados do século passado.
Como antes fiz, começarei por arrolar diacronicamente as perspectivações que foram sendo enunciadas, desta feita atendo-nos às que diziam respeito a África. Durante os anos 60 (isto é, no período imediatamente após as independências africanas iniciais e em plena fase de estabelecimento dos primeiros verdadeiros Estados pós-coloniais no Continente), dois conjuntos de perspectivas analíticas maiores se afirmaram e ocuparam efectivamente o terreno: as chamadas “teorias da modernização” e variantes das “teorias da dependência”, estas últimas de raízes marxistas mais ou menos ortodoxas. Ambas tiveram histórias curtas mas densas.
Nas formulações comuns equacionadas nos termos do primeiro destes dois agrupamentos analíticos, o das chamadas teorias da modernização, tornava-se claro (este ponto tendia, de resto, a ser afirmado sem quaisquer ambiguidades) que aquilo que os investigadores pretendiam era uma transposição pura e simples, para os novos contextos pós-coloniais emergentes, das teorizações liberais pluralistas e das funcionalistas defendidas pela maioria dos analistas com convicções sócio-cêntricas. As vias de eleição eram por norma o “desenvolvimento” e o “nation-building”; mas o que no estudo das dinâmicas políticas eram formulações teóricas que representavam la créme de la créme das posturas analíticas coetâneas “centradas na sociedade”, no contexto dos estudos políticos africanos pareciam curiosamente preferir pôr a tónica nos Estados.
Foi com efeito nestes mesmos Estados, encarados, como era da praxe interpretativa na época, enquanto ao mesmo tempo organizações e instituições, que os teóricos da modernização puseram o acento tónico. A curiosa deslocação-omissão que tal significava foi como que tácita. Esquecida pareceu ter ficado a perspectivação liberal fundadora, segundo a qual o Estado seria uma arena neutra em que se degladiariam valores e interesses existentes na sociedade: era para as elites que controlavam o Estado, por via de regra compostas por naturais africanos culturalmente muitíssimo ocidentalizados, que os “modernizadores” poisavam os olhos, ao procurar as iniciativas e a energia que, postulavam, punha em movimento a política pós-colonial dos novos Estados africanos independentes. As outras forças sociais, por norma em tais formulações tidas como sendo “tradicionais”, e por isso “retrógradas”, não entravam na equação senão enquanto “forças conservadoras”, ou como reacções e resistências “de bloqueio”
Sem querer, novamente, aflorar mais do que a superfície: os mais influentes porta-vozes das leituras “modernizantes” foram, seguramente, Gabriel A. Almond e James S. Coleman (1960) e S. N. Eisenstadt (1966). Seguiram-se-lhe muitos outros autores, entre cientistas políticos economistas, sociólogos, antropólogos e historiadores..
Retrospectivamente parece-me nítido que a reconfiguração implícita foi notável. Num acto subreptício de prestidigitação intelectual, elaborações oriundas de perspectivações sócio-cêntricas vestiram as vestes solenes de enquadramentos analíticos “centrados no Estado”. Deu-se como que uma substitução por permuta. Bem vistas as coisas, tudo se passou como se, no quadro especial dos estudos africanos (e terceiro-mundistas em geral), a hegemonia estatista não pudesse ceder lugar à hegemonia “sociologística” em voga como sua alternativa no marcado emparelhamento contrastivo que, como insisti, dominava o campo epistémico de então.
Esta reconfiguração-reposicionamento analítico foi no entanto tudo menos inconsequente. Como é evidente, nos convuluídos termos deste tipo de perspectivação o Estado pós-colonial não era tido como sendo um representante autêntico do conjunto dos valores presentes na sociedade; ao invés, numa fascinante inversão, eram os próprios Estados que se viam encarados como sendo responsáveis por gerar nas respectivas sociedades os valores a que, idealmente, dariam corpo, forma, substância e até futuro. O ideal do “nation-building” emergia, nessas formulações, como difícil de distinguir de um “state-building”
Nesse contexto, seria interessante levar a cabo um estudo teórico-metodológico comparado destas “teorias da modernização” e dos trabalhos, produzidos uma dúzia de anos antes sobre o despontar dos movimentos nacionalistas anti-coloniais em África como por exemplo aqueles detalhados em análises clássicas como as de percursores como o de Thomas Hodgkin (1956) e de James Coleman (1954). tido como imprescindível e urgente no processo de acessão dos novos Estados africanos independentes ao estatuto de membros plenos na nova versão alargada da já provecta “comunidade das nações” e na do velho sistema internacional de Estados.
Do ponto de vista de alguns dos participantes de então, era vísivel o alcance que essa estranha permuta iria ter. A extensão deste reposicionamento e desta verdadeira reconfiguração, como lhe chamei, pareciam demonstrar à saciedade que estava perante muito mais que uma anomalia paradigmática localizada. Com afinidades porventura surpreendentes com este tipo de modelização (mutatis mutandis, naturalmente) posicionaram-se as teorizações marxistas, no decurso dos anos 70, o período imediatamente posterior
A correlação entre estas duas séries, a do estabelecimento dos Estados pós-colonias africanos e a da progressão das interpretações analíticas de que foram objecto) é de geometria variável. Não é árduo compreender porquê: dada a data comparativamente tardia das independências dos países africanos “lusófonos”, a emergência e por conseguinte os primeiros estudos sobre estes coincidiram com a ascenção das terorizações marxistas. à fase inicial tanto do estabelecimento dos Estados pós-coloniais africanos como das investigações a seu respeito.
Olhadas as coisas com os benefícios da retrospecção as convergências que se foram evidenciando tornam-se transparentes. Apesar de constituirem, nas suas características teórico-metodológicas, um conjunto diferente de perspectivações da “família” sócio-cêntrica, as análises de uma ou de outra forma tributárias do marxismo partilharam e trilharam, na prática, muitas das pré-compreensões teleológicas implícitas na “teoria da modernização” comungando, no essencial, com a interpretação evolucionária destas. Ainda que o fizessem de maneira própria, sublinhando alto e bom som que tanto o “avanço” providenciado pelo capitalismo como o próprio Estado capitalista” e a normatividade que produzia seriam forças historicamente progressivas que tendiam a assegurar um desejável desenvolvimento económico e sócio-político por via da remoção sistemática de todos os obstáculos pré-modernos e “feudais”.
Tal como as teorias liberais, as formulações marxistas viam e identificavam no Estado e no seu Direito reflexos do poder das elites (neste último caso, configuradas enquanto “classes sociais” que se iriam coagulando a partir de relacionamentos inter- e intragrupais sobretudo económicos) dominantes
Embora seja decerto abusivo reduzir o conujunto de teorizações a que Naomi Chazan,..........Mortimer, ..............Ravenhill e Donald Rothchild (1992) chamaram, ecoando uma prática comum, “dependency theories”, teorias da dependência essas que, no notável estudo introdutório que publicaram sobre a política africana pós-colonial puseram a par com as “modernization theories” e com as “state-centered theories” em que subdividiram as expressões desta), a coincidência parcial dessas perspectivas com as marxistas é óbvia. Como tem sido notado, as teorias da dependência (desde as de E. Wallerstein às de A. Gundner Frank às de A. Emmanuel) não propuseram propriamente uma modelização detalhada do Estado: o seu ponto focal está antes com firmeza e obstinação implantado nas articulações que “determinam” que o desenvolvimento económico está condicionado pela posição do Estado em relação ao sistema internacional. Para uma tentativa mais recente de elaboração no essencial “dependentista” sobre as características e a natureza dos “Estados periféricos”, ver Boaventura de Sousa Santos (2003).. O mesmo tipo de transmutação de um ponto de partida sócio-cêntrico para um ponto de chegada estato-cêntrico teve assim lugar nestes outros palcos teóricos, menos alternativos do que paralelos.
Não quero com isto de maneira nenhuma sugerir que não tenham emergido teorizações assumidamente estato-cêntricas, propostas sem quaisquer subterfúgios com o intuito de reconstruir racionalmente as dinâmicas políticas patentes em África. Bem ao invés, houve muitas formulações deste tipo e elas foram importantíssimas na formatação de uma opinião teórico-analítica de fundo quanto às dinâmicas vividas nos palcos políticos africanos. Mas mais uma vez, porém, a caracterização-arrumação de que são passíveis não é conclusiva: nas várias formulações que estas metodologias de análise têm assumido no âmbito dos estudos políticos africanos, as perspectivas frontalmente “centradas no Estado” nunca de facto se apresentaram como inteiramente distintas das formulações obliquamente “sócio-cêntricas” que esmiuçámos. Para o verificar, bastará detalhar as principais traves mestras daquels que se têm apresentado como as mais importantes de entre todas elas: as neo-patrimonialistas e as versões estatistas das perspectivas de “rational choice”.
A ênfase posta na operação dos aparelhos de Estado pós-coloniais instalados em África depois das independências e na utilização política que deles fazem as elites africanas dominantes para seu próprio benefício é o denominador comum deste agrupamento difuso de perspectivações teóricas. A finalidade última destas teorizações é também semelhante: trata-se sempre de tentar oferecer uma explicação para as crises e os insucessos económicos e políticos ocorridos tanto antes como no decurso da aplicação dos famigerados “Programas de Ajustamento Estrutural” impostos pelas instituições de Bretton Woods, designadamente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Numa frase, têm como objectivo compreender as diferenças entre os Estados africanos pós-coloniais e o modelo ideal dos Estados ocidentais de que derivam e de que claramente divergem: buscam-no tentando pôr a nu a lógica que subtende as escolhas políticas feitas pelas elites que dominam os novos Estados africanos e aquela que subtende e torna por isso mais inteligíveis as situações jurídicas neles de facto verificadas.
Apesar das convergências manifestas entre as variantes deste agrupamento difuso de teorizações, vale a pena, em todo o caso, contrastá-las naquilo em que se distinguem entre si. No seu âmago, as teorias estato-cêntricas baseadas na teoria das escolhas racionais
Robert Bates (1981) e William Reno (1999) são porventura os expoentes maiores deste tipo de teorização no que diz respeito aos estudos políticos africanos. encaram as políticas estatais africanas pós-coloniais como reflexos das tensões intestinas entre grupos de interesses que neles estão representados. Uma postura dificilmente distinguível, como se vê, daquelas equacionadas pelos africanistas metodologicamente mais “centrados na sociedade”
No trabalho monográfico já amplamente citado relativo à articulação entre o Estado e as comunidades locais na Tanzânia e no Zimbabwe, S. Eriksen (2000, op. cit.: 35) notou, num sentido afim ao que aqui defendo, que “although its main focus is on state institutions, this approach has clear affinities with the neo-liberal approach, [generally] classified among society centerd theories”. Apesar dessas e de outras anomalias, Eriksen mantém a dicotomia entre teorias centradas na sociedade e aqulelas centrads no Estado na sua taxonomia política da África pós-colonial.. As traves de sustenção narrativa das formulações do tipo “rational choice” são simples: como todos os actores sociais, os líderes políticos e os funcionários burocráticos africanos tentam obstinadamente maximizar a utilidade das suas posições para com isso acumular vantagens de vários géneros. Em contextos como os da África contemporânea, em muitos casos a maneira mais fácil de o fazer é ganhando apoios, o que se pode lograr sem grandes esforços por intermédio de uma apropriação directa e “personalizada” de alguns dos recursos à disposição do Estado, distribuíndo-os depois criteriosamente pela população-alvo.
Nas conjunturas típicas dos Estados e das economias modernas, esta estratégia genérica pode assumir várias facetas de pormenor que são complementares e de uma certa forma funcionalmente equivalentes: oferecendo empregos aos apoiantes visados, entregando-lhes licenças ou adjudicando-lhes concessões e celebrando com eles contratos vantajosos ou, mais subtil e indirectamente, manipulando serviços, preços ou taxas de câmbios de maneira a favorecer indivíduos ou grupos específicos. A distribuição social consequente de bens e serviços é tudo menos homogénea equitativa: o resto da população, aqueles cuja participação-recrutamento políticos não são visados, é por norma subalternizada, quando não ignorada e esquecida no processo. Nos Estados pós-coloniais da África contemporânea não é assim por exemplo incomum que as populações rurais se vejam relegadas para esta última posição, enquanto a mobilização política das urbanas (cujas capacidades reinvindicativas e organizacionais tendem a ser muito maiores e muito mais eficazes) é assegurada com vista à manutenção de um módico de estabilidade política.
Uma estratégia de exercíco do poder deste género dá porém origem a situações instáveis e tem um tempo de vida limitado. Não são precisos muitos conhecimentos do funcionamento de uma economia e de um sistema político modernos para compreender que, quando mantido por tempo suficiente, este tipo de actuação das elites políticas gera nós górdios em pelo menos três frentes. Um deles emerge de uma inevitável “crise fiscal”
Ver, quanto a este ponto, o estudo geral de James O’Connor (1973). Um bom exemplo da aplicação deste tipo de modelo a um dos países africanos lusófoos é o da monografia de T. Hodges (2002) sobre a economia e o sistema político que caracterizariam a 2ª República em Angola., já que rapidamente é criada uma situação em que os que controlam as rédeas do poder no quadro do Estado assistem a um progressivo mas inexorável esgotamento das receitas disponíveis e cada vez se vêem com menos recursos para distribuir por seguidores que se habituaram a posicionar-se socialmente e a viver à custa do seu acesso privilegiado a tais benesses.
Um outro dilema é político e decorre das inevitáveis movimentações (sempre ameaçadoras, por muito descoordenadas e ineficazes que elas possam ser) de resistência por parte dos sectores ignorados da população e das clivagens nacionais que a estratégia das elites insinua entre esses e os beneficiários dos favores do poder. Por último, e em consequência de tudo isto, instala-se uma crescente (e cada vez mais pública) “crise de credibilidade” quanto ao funcionamento do Estado e dos políticos e burocratas que o utilizam.
A linha de horizonte deste tipo de dinâmica é de simples delineação. A base económica de que depende tanto o “Estado” como a população tende a sofrer uma erosão acelerada. Mas o processo é imparável: os interesses instalados por este tipo de funcionamento do sistema político estão apostados em garantir a reprodução desta dinâmica e assim manter a sua posição de privilégio. Em consequência, insistem estas teorizações, naqueles Estados africanos que enveredam por esta via (e são muitos os que acabam por fazê-lo) rapidamente se tornam em failed states que se apresentam como palcos de lutas ferozes entre “senhores da guerra” cada vez mais ferozes embrenhados em contendas por sobras cada vez mais exíguas
Um só exemplo. William Reno (1998) disponibilizou uma análise comparativa magistral destes processos de “warlord politics” em quatro Estados africanos, o Congo, a Nigéria, a Serra Leoa e a Libéria..
Uma versão alternativa deste género de teorizações dos processos políticos africanos entevistos como “centrados no Estado” é a persepectiva vulgarmente conhecida como neo-patrimonialista
“Neo-patrimonialismo” é uam apelidação adveniente das classificações políticas de Max Weber. Distingue-se mal do “patrimonialismo” weberiano, tratando-se porventura antes de uma sua versão “modernizada”, que vê a “privatização” do público por interesses privados nos contextos políticos e económicos actuais insistindo sempre no estabelecimento de laços personalizados, ao nível mais macro do Estado, entre “patronos” e “clientes”.. As diferenças específicas que separam o neo-patrimonialismo das teorias de escolha racional que acabei de esquissar são poucas: trata-se de meras variações sobre um tema comum. Mas não são inconsequentes.
A traço grosso, a modelização geral deste subgrupo de perspectivações analíticas é no fundo a mesma que a do anterior. Tal como foi o caso no agrupamento que antes descrevi, as relações de poder são vistas pelos proponentes de uma perspectivação neo-patrimonialista das dinâmicas políticas africanas contemporâneas como reproduzidas no essencial através de canais informais
São comuns assim, no contexto destas teorizações, conceitos como o de “shadow state” ou o de “shell state”, que descreveriam modelos política e juridicamente idealizados mas sem que as estruturas formais representem as verdadeiras relações de poder. Essas resultariam de redes informais paralelas em que o poder real será exercido. É fácil ver o papel meramente instrumental que, nos termos deste tipo de interpretação, seria apanágio das produções jurídico-estatais. Tal como se tornam óbvias as razões de fundo para a marcadíssima disjunção patente na África contemporânea, entre law in the books and a law in action. Um bom exemplo desta perspectivação teórica quanto a um dos PALOPs é oferecido pelo excelente estudo monográfico de Gerhard Seibert (2001) sobre S. Tomé e Príncipe. A Guiné-Bissau sobre a qual faz falta um qualquer estudo de conjunto, fornecerá porventura um exemplo ainda mais nítido para testar a aplicabilidade deste género de modelos.. E tal como nas teorizações anteriores ao acento tónico está posto com firmeza nessas redes informais. Mas é no entanto antes nas relações pessoais e familiarísticas de reciprocidade, de obrigações mútuas e na lógica subjacente de “dádivas” inter-pessoais e inter-grupais (gift-giving para os investigadores anglo-saxónicos, para os autores francófonos dons) que está pousado o ponto focal destas interpretações
De maneira semelhante, aliás, ao que se passa nas análises sócio-antropológicas clássicas sobre as relações ditas de “patrocinato” e “clientelismo”. René Lemarchand (um especialista sobre as dinâmicas políticas na África Central, designadamente as do Rwanda e do Burundi) e Richard Sandbrook (1988) são pais fundadores deste tipo de perspectivação que, no essencial, se distingue do anterior pelas diferenças nas formulações sociologísticas em que se fundamenta. O que mais uma vez lança dúvidas quanto à utilidade da antinomia “state centered”/“society centered” no quadro dos estudos políticos pós-coloniais africanos..
No fundo aquilo que separa este pólo “neo-patrimonialista” do de “rational choice” localiza-se ao nível das pré-compreensões exibidas pelos estudiosos quanto ao “motor de propulsão” dos processos sociais, políticos e económicos: para estes últimos, tratar-se-ia de uma pulsão maximizante racionalista e formal, enquanto para os primeiros aquilo que o alimentaria seriam antes considerandos substantivos particulares, próprios das lógicas internas que expressam o funcionamento sociocultural das sociedades africanas em causa.
4.5. AS TÓNICAS NAS MODELIZAÇÕES RELACIONAIS MAIS RECENTES QUANTO ÀS DINÂMICAS POLÍTICAS PÓS-COLONIAIS EM ÁFRICA
Expor, como o fiz, o desenrolar da operação destes modelos analíticos relativos a África põe em relevo a forma como estas formulações teóricas se entrecruzam nas suas formulações, tornando-os dificilmente dissociáveis, conceitos como o de “Estado” e o de “sociedade”. E mostram, com nitidez, a comparativa despreocupação dos analistas, nas explicações de muitas das dinâmicas políticas pós-coloniais no Continente, relativamente a uma aplicação rigorosa dessa velha dicotomia, desse paradigma dualista. Uma despreocupação, como vimos, tão compreensível quanto justificável pela patente inaplicabilidade estrita e estreita de um binómio enxuto como o “sociedade-Estado” a uma realidade empírica que cada vez menos se lhe adequava. Em substituição, foram com uma rapidez surpreendente adoptados conceitos como os de shell state e o de shadow state, com as suas desenfatizações implícitas nas estruturas formais dos aparelhos de Estado e com a tónica posta, em alternativa, em redes informais de controlo por elites e agrupamentos etnolinguísticos. A realidade empírica nua e crua impôs-se, de algum modo.
O que explica a curiosa transmutação das modelizações sócio-cêntricas num efectivo estato-centrismo oblíquo, tal como aquela que tivemos a oportunidade de constatar ter sido tanto tempo utilizada. Stricto sensu, tratou-se mais de um reconhecimento tácito das limitações e insuficiências do dualismo “clássico” do que de uma verdadeira transmutação; mas acabou por ser-lhe funcionalmente equivalente. Em boa verdade, foi apenas com os anos 80 e 90 que teorizações explícita e integralmente “centradas na sociedade” se afirmaram alto e bom som no âmbito cada vez mais especializado dos estudos políticos africanos
Como escreveu J. Migdal (2002, op. cit.: 58-59), “in third-world studies [...] one could probably […] say that the state was more assumed or taken for granted than neglected during the 1950’s and 1960’s. Many social scientists writing about non-Western societies saw the conscious manipulation of social life – public policy – as a central ingredient of the social histories and futures of newly independent societies. Such manipulation, of course, lies at the heart of politics”. Segundo Migdal, este facto resultava, nas formulações então produzidas, da estreita associação postulada entre polítca, economia e comunicação, que levavam ao estabelecimento de um constraste marcado entre o que os analistas chamavam o “sector” moderno” e aquilo que apelidavam de o “sector tradicional”..
Retomar, em termos narrativos, o encadeamento dos passos analíticos dados é decerto uma boa táctica reveladora do facies assumido por essa progressiva mudança paradigmática. No período formativo das décadas de 60 e 70, conceitos como o de “nation-building”, o de “state-building”, ou o de “desenvolvimento”, coalesciam sem grandes turbulências nos quadros teóricos formulados e nas estratégias metodológicas gizadas. Os anos das décadas de 80 e 90 progressiva mas muito rapidamente vieram pôr em dúvida as ligações entre eles. Em particular, ideais como o incorporado na noção de “state-building” começaram a cair em descrédito, à medida que os Estados africanos cada vez mais visivelmente se manifestavam como sendo afinal entidades de uma gritante ineficiência, que em muitos casos se desagregavam e dissolviam, ou pelo contrário se cristalizavam em redes cada vez mais intrincadas de “corrupção”
Sobre o tema em geral ver, por todos, Patrick Chabal e Jean-Pascal Daloz (1999, op. cit.) e Jean-François Bayart, Stephen Ellis e Béatrice Hibou (1999). O já citado Gerhard Seibert (2001) toca nestas questões em pormenor relativamente a S. Tomé e Príncipe. Para uma interpretação mais intrincada (e porventura algo excessiva) que vê no recrudescimento da feitiçaria na África subsaariana uma forma de resistência “tradicional” contra os novos senhores do Estado que acumulam um poder que, segundo os “marginalizados” pelas “consequências”, directas e indirectas, dos “Programas de Ajustamento Estrutural” há que tentar aplacar e combater, ver C. F. Fisiy e P. Genschiere (2001). Enquanto os primeiros investigadores se posicionam em posturas mais ou menos “liberais”, os dois últimos dão voz a um “pós-modernismo” muito próximo das teorizações modernistas da “dependência”..
A uma tal tomada de consciência correspondeu não só a certeza de que novos acentos tónicos se tornavam imprescindíveis para lograr compreender os processos políticos em África, mas também a convicção de que a velha polaridade Estado-sociedade muitas vezes escondia mais do que revelava quanto às lógicas reais geradoras das suas dinâmicas. Compreensivelmente, os Estados pós-coloniais mais e mais tendiam a ser vistos, não como os dinamizadores, mas como obstáculos, para um qualquer dos tipos ambicionados de desenvolvimento. Em seu lugar, segundo a lógica de hegemonia partilhada que vinha de trás, tanto as esperanças políticas quanto as teorizações sobre a sua viabilidade se viraram para o papel preenchido (ou a preencher) pela sociedade. Deu-se como que um fechar de um círculo, embora tivesse havido uma mudança de patamar como tal nem sempre reconhecida. A prestidigitação intelectual e a transmutação a ela associada das perspectivações sócio-cêntricas num estato-centrismo “indirecto” esgotara-se: o liberalismo, numa nova versão sócio-cêntrica, desta feita numa variante mais dura e madura, regressou em força. Pareceu para alguns um retrocesso; tratou-se, porém, dos primeiros passos de uma inovação de fundo ainda hoje em dia em curso.
Para a pôr com nitidez em realce ajuda cartografar o pano de fundo em que se deu a transição. A viragem “neo-liberal” nas políticas e nos estudos africanos (como aliás, nos do resto dos “países em vias de desenvolvimento”, como o wishful thinking teleológico dos primórdios os apelidara) resultou, no fundo, do toda uma série de acontecimentos convergentes
É riquíssima a bibliografia existente quanto a essa tão sensível viragem nos estudos empreendidos sobre África e nas políticas africanas propriamente ditas. Nos comentários que passo a passo alinhávo nos próximos parágrafos, atenho-me a um mero encadeamento, ainda que ponderado, de algumas das principais linhas de força das interpretações mais influentes que têm sido formuladas. Caso a caso providencio referências bibliográficas q.b. em notas de rodapé.. Referi já as percepções crescentes de uma incompetência generalizada dos Estados pós-coloniais, cuja interpretação tendia a ser ligada as ideias cada vez mais firmes quanto a uma enorme falta de probidade de que padeceriam, o que depressa feriu a sua credibilidade interna e externa. As próprias elites políticas e sociais dominantes em muitos dos Estados africanos começaram a ver-se em apuros cuja solução não era óbvia
Quanto a este tema, ver Robert H. Bates (1999) e, no que diz respeito aos primórdios da “transição democrática” em Angola, Armando Marques Guedes et al. (2003, op. cit.: 236-240). Um excelente estudo monográfico, de sociologia estatística, sobre as transições africanas é o de Michael Bratton e Nicolas van de Walle (1997). A colectânea de referência editada por Richard Joseph (1999) contém arigos importantes, designadamente os da autoria de Nicolas van der Walle (1999), Crawford Young (1999), John W. Harbeson (1999), do próprio Richard Joseph (1999), de Robert H. Bates (1999), Jeffrey Herbst (1999) e Adebayo Olukoshi (1999).. O declínio abrupto da legitimidade de noções como a de “partido único” agravou uma conjuntura já de si de difícil destrinça
Para uma extensa recensão crítica das inúmeras tomadas de posição quanto a este ponto preciso, ver Luis Rodriguez-Piñero Royo (2000).. Entrou-se assim numa grave crise destes Estados, difícil de resolver nos quadros político-administrativos instalados no Continente e impossível de ignorar, dada a gravidade dos descalabros que se sucediam e daqueles que se anunciavam.
De par com estes processos, nos Estados ocidentais eles mesmos o modelo do welfare state, por via de regra caracterizado como era por doses fortes de intervencionismo, esbarrava com sérias dificuldades. A “crise petrolífera” de 1973 abriu a porta a rápidos avanços do bloco soviético um pouco por todo o Mundo, mas talvez sobretudo em África. A reacção não se fez esperar: a década de 80 veria a subida ao poder de defensores fervorosos de uma linha dura de liberalização nos Estados ocidentais mais aguerridos: jogavam-se os movimentos finais do que culminou na dissolução do império soviético, na implosão da própria URSS, e na primazia inconstestada, pela primeira vez desde o princípio do século XX, dos velhos modelos liberais, entretanto também reformulados
Cf. J. e J. Comaroff, 1999, op. cit.: 16-17, e A. Marques Guedes et al., 2002, op. cit.. Numa colectânea famosa de estudos “liberais”, ou “modernistas” sobre as sociedades civis na África pós-colonial contemporânea (editada por J. Harbeson, D. Rothchild e N. Chazan em 1994), foi levada a cabo uma defesa fervorosa da utilização “transcultural” de conceitos como o de “sociedade civil”, baseada na alegação, em muitos sentidos convincente, de que esta noção não é menos tangível nem mais “etnocêntrica” que os de “classes sociais”, “burguesia”, ou “democracia” – conceitos esses por via de regra usados com comparativa despreocupação por quase todos os analistas que sobre África se têm vindo a debruçar. M. Bratton (ibid: 52), por exemplo, declarou que “despite [...] formidable obstacles [...] civil society is a useful formula for analysing state-society relations in Africa because it embodies a core of universal beliefs and practices about the legitimation of, and limits to, state power”. Não deixa porém de ser verdade, como J. e J. Comaroff (idem: 17) notaram com azedume, que “if civil society is tacitly taken to be a Eurocentric index of accomplishment, Africa’s difference once more becomes a deviation, a deficit”. Uma distorção de perspectiva já infelizmente antiga e de consequências gravosas e não desprezíveis. Outros estudos e colectêneas dos anos 90 sobre a aplicabilidade do conceito aos processos políticos na África contemporânea são os de J. L. Cohen e A. Arato (1992) e (eds.) J. Harbeson, D. Rothchild e N. Chazan (1994)..
Talvez mais importante, ocorreu um verdadeiro renascimento de um conceito antigo, o de “sociedade civil”
Quanto a este tema, é útil, por todas, a leitura de Ernest Gellner (1994) e de Alejandro Colás (2002: 25), entre numerosos dos autores que sobre isso se debruçaram. No que diz respeito a S. Tomé e Príncipe, ver Armando Marques Guedes et al. (2002, op. cit.: toda a última parte); no que toca a Angola, ver Armando Marques Guedes et al. (2003, op. cit.: 301-331)., no contexto de análises de fundo relativas ao desaparecimento, a partir de meados dos anos 80, de muitos dos regimes autoritários na América Latina, na Europa do Sul e na Ásia Oriental; bem como, sobretudo a partir dos anos 90, no do desmantelamento de regimes autoritários e totalitários na Europa Central e de Leste. Para muitos dos observadores a activistas que de uma ou de outra forma se viram empenhados nas contendas que abalaram a África da última parte do século XX, “sociedades civis” eram entidades empírica e nitidamente visíveis nos processos em curso da desagregação das diversas formas autoritárias de poder estatal que com tão estrondoso sucesso desafiaram. Os novos enquadramentos metodológicos e epistemológicos daí resultantes providenciaram um terreno fértil para um regresso em força das teorizações liberais
E, com efeito, as perspectivações neo-liberais, que em larga medida acompanharam os modelos de desenvolvimento favorecidos pelo único pólo remanescente depois do fim da bipolarização, entraram em África em força. De um total de 51 Estados africanos, 47 tiveram “transições democráticas”, que redundaram na instalação de regimes democráticos parlamentares e economias de mercado. É edificante a leitura de Michael Bratton e Nicolas van de Walle (1997), para lograr uma visão matizada destas “transições” no Continente e das suas causas mediatas e imediatas. É interessante verificar (ainda que Bratton e van de Walle o não refiram), que Angola foi porventura o primeiro país africano a encetar uma transição, S. Tomé e Príncipe o primeiro Estado do Continente a declará-la, e Cabo Verde o primeiro a executá-la de facto. Sem querer insinuar um qualquer excepcionalismo: ao que parece, as independências dos países africanos lusófonos vieram tarde comparadas com as dos vizinhos, mas as suas democratizações chegaram cedo..
A inovação que daí resultou revelou-se como sendo de monta. Em relação aos modelos anteriores, o corte (pelo menos in the books) foi radical. Até então o Estado tinha sido encarado como a solução, por políticos e por analistas. Com a ascensão do neo-liberalismo dos anos 80 e 90, transmutou-se no problema. Apelos não tardaram para a urgência de “rolling back the state”, um Estado agora retratado como sendo a fonte de todos os males. As forças e as energias da sociedade, imaginada por analistas, políticos e populações como “a sociedade civil”, era em simultâneo erigida como a grande fonte de esperança numa redenção. A velha oposição conceitual parecia regressar de armas e bagagens, se bem que se reconhecesse que o fazia com novas e inusitadas vestes. Mas a ilusão de que assistíamos a uma reinstalação em força do velho dualismo foi sol de pouca dura.
Nas novas conjunturas os investigadores (se bem que, em África, nem sempre nisso acompanhados pelos políticos) enfrentaram pela primeira vez depois de um longo interregno a possibilidade de ultrapassar esse binómio já antigo, que tem por norma, como vimos, dado azo a formulações dicotómicas marcadamente reducionistas.
Pela primeira vez, tornava-se pensável mudar de patamar epistemológico, anunciando assim porventura uma mudança crucial de paradigma. As razões para essa oportunidade são talvez, no essencial, formais. Com a emergência paralela de imagens teóricas de Estados dotados de autonomia e de sociedades com eles profusa e profundamente articuladas, estavam como que gizados os palcos metodológicos em que se tornava possível equacionar não só a interdependência mas também a constituição recíproca destas duas entidades. Um inesperado patamar, um plano de análise muitíssimo mais assumidamente relacional, podia por fim ser ocupado.
Não foi esse novo acento tónico nas relações entre Estados e sociedades, agora pensáveis em simultâneo, o único factor de mudança nos quadros interpretativos. O que não é surpreendente: toda uma nova topografia se apresentava a carecer de um levantamento adequado. Cartografar as suas minudências impunha-se. E isso começou a ser feito. Nas suas versões mais recentes, os investigadores, com alguma ambição analítica, têm tentado ir mais longe do que o foram os “pais fundadores” que se limitaram a asseverar a inseparabilidade da parelha Estado-sociedade: para além dessa interligação dinâmica têm esboçado fascinantes análises pormenorizadas
Têm-no feito autores como Martin Chanock (1985), Jean-François Bayart (1989), Mahmood Mamdani (1996) e Patrick Chabal (199 ) e J. Migdal (2002). Este tema, seguramente dos mais ricos em implicações metodológicas, consequências teóricas e reconconfigurações epistemológicas no contexto dos estudos políicos africanos pós-coloniais, é porventura o plano de análise que melhor permite a delineação de uma interface não-reducionsta entre Estado, sociedade e Direito. J. Migdal (2002, op. cit: 116-135), decerto o Autor que foi mais longe nesta teorização, oferece-nos mesmo um gradiente do que apelida “the junctures of states and societies” e que corre da sociedade às “trenches” aos “dispersed field offices” às “commanding heights”, em termos de diversas dimensões em simultâneo. da maneira como, nos contextos africanos pós-coloniais e na tantas vezes sublinhada ausência de fronteiras nítidas, rígidas, eficazes e consensuais entre sociedade e Estado, a delimitação entre o “público” e o “privado”, entre o estatal e o sociocultural, entre o Direito estadual e o “consuetudinário”, é uma separação-distinção construída, mantida e reproduzida em formatos cada vez mais formalizados e (na precisa medida em que o Estado vai logrando erigir-se em entidade autónoma) segundo linhas divisórias cada vez mais estáveis
Como resulta evidente para um qualquer observador atento da progressão-extensão histórica de institutos e instituições políticas, administrativas e jurídicas, é justamente de par com essa separação-distinção que (por intermédio de rituais, edifícios, leis e medidas polítcas) o Estado vai logrando escavar, que a sociedade” se constitui como uma espécie de “outra margem” desse processo de autonomização..
É nessa frente viva de análise que as investigações contemporâneas se movem e posicionam. E seria um erro não reconhecer o alcance daquilo que tem vindo a redundar numa profundíssima e muito inovadora alteração de perspectiva. Note-se, por exemplo, que os estudiosos cada vez menos presumem a existência de uma qualquer unidade no “Estado” ou na “sociedade” nos casos empíricos que estudam. Uns vêem nisso o resultado e o motivo para a mudança de paradigma, outros atêem-se a críticas mais avulsas de algumas das formulações anteriores mais habituais.
Uma só ilustração bastará por todas. James Ferguson
James Ferguson (1994). Esta monografia minuciosíssima de Ferguson sobre um projecto concreto de “desenvolvimento” e as suas conotações e implicações ao nível da implantação local do Estado no Lesotho ir-se-á seguramente transformar num texto clássico de uma variante deste novo tipo de perspectivações a que o novo paradigma emergente tem dado fôlego., por exemplo, frisou no seu excelente estudo crítico sobre as “políticas de desenvolvimento” no Lesotho, cientistas e economistas políticos criaram um puzzle
Op. cit. : 271-272. quanto à natureza do Estado pós-colonial africano, um imbroglio que torna quase irresolúvel a seguinte questão: terá este “demasiado poder”, ou “poder insuficiente”? Os analistas parecem com efeito divididos entre estes dois pólos, ora
Eg, Charles Tilly, 1992. Escusado será insister na riqueza analítica e no alcance deste tão influente trabalho de Tilly. As posições adoptadas por Michael Mann, ainda que mais gerais e fundadas num enquadramento de partida diferente, parecem convergir de maneira interessante com a leitura de Tilly sobre a “pós-colonialidade” dos Estados africanos de hoje. insistindo no seu “sobre-desenvolvimento” resultante das assimetrias dos Estados coloniais repressivos que lhes deram origem, ora
Eg, P. Geschiere, 2001, ou T. Sanders, 2001. Esta tónica é comum a muitos aitores que se auto-qualificam como “pós-modernos”, entre os quais, no que diz respeito à África contemporânea, avultam os já citados John e Jean Comaroff, dois norte-americanos sediados na Universidade de Chicago. salientando antes a sua fraqueza e ineficácia face a sociedades civis enganadoramente coerentes e a ele contrapostas.
As tendências recentes, não será descabido asseverar, têm sido de concordar com J. Ferguson quando este afirma, citando Michel Foucault e Gilles Deleuze, que “the state is not an entity that “has” or does not “have” power, and state power is not a substance possessed by those individuals and groups who benefit from it. The state is neither the source of power, nor simply the projection of the power of an interested subject (ruling group, etc.). Rather than an entity “holding” or “exercising” power, it may be more fruitful to think of the state as instead forming a relay or point of coordination and multiplication of power relations”
Op. cit.: 272. Para Ferguson (seguindo aliás de perto G. Deleuze) o “Estado” seria melhor concebido como uma “machine” de localização, articulação, multiplicação e desdobramento de nexos de poder em rede do que como um organismo, um aparelho coeso, ou uma instituição nos sentidos tradicionais em que estes termos são utilizados nas analíses sócio-políticas.. A generalização é significativa: nos novos palcos paradigmáticos, mesmo reperspectivações avulsas redundam em muitos casos em reformulações maiores que relançam os dados.
Em consonância com esta perspectiva, tende-se em cada vez mais das análises contemporâneas a preferir alusões ao “poder do Estado”, à “dimensão administrativa estatal”, ou às “elites posicionadas no Estado” em vez de aludir pura e simplesmente ao “Estado”; o intuito é o de sublinhar a dimensão adjectiva sobre a substantiva daquilo que é cartografado. Por outro lado, os investigadores têm vindo cada vez mais a fazer questão de tornar evidentes as fracturas patentes dentro tanto do “Estado” como da “sociedade civil”, e as interpenetrações e processos de constituição recíproca manifestos entre ambos estes domínios ou nexos de relações
Para além de conceitos, já referidos e hoje em uso comum, como o de shadow state ou o de shell state, convém aqui aludir ao apport que este tipo de reperspectivaçção tem vindo a significar no que diz respeito aos PALOP. Gerhard Seibert (2000, op. cit.) e A. L. Correia e Silva (2001, op. cit., logo nas suas primeiras páginas) relativizam nos seus estudos o conceito de Estado, fragmentando-o, respectivamente a respeito de S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Em ambos os casos, aquilo que está em causa é um autêntico descentramento da ideia de Estado, substituído no primeiro exemplo por “redes informais” de parentes e amigos, e no segundo por um anti-“institucionalismo” programático, aliás não plenamente seguido. Num sentido paralelo mas de modo menos directa e mais informal e implicitamente, Boaventura de Sousa Santos (2003, op. cit., no artigo de abertura) caminhou na mesma direcção na sua delineação do “Estado heterogéneo” em Moçambique..
Tanto o Estado como a sociedade civil, nas leituras mais recentes, são assim por exemplo muitas vezes abordados como “nexos de poder” profundamente inter-relacionados, mesmo quando essa interacção é sobretudo “negativa” ou, tal como é cada vez mais commumente encarada por isso corresponder à realidade política de facto patente em África, “uma presença de uma ausência”. E a normatividade estatal (jurídica ou outra) tende, de maneira característica e nos termos de uma reconfiguração relacional paralela e em muito semelhante, a ser encarada e destrinçada como um produto das lutas, tensões, e negociações que resultam da interacção e dos esforços de supremacia, uns em relação aos outros desses nexos de poder: uma das dimensões em que eles se articulam, no contexto de diálogos-transacções ora culturais ora instrumentais, que caracterizam esse domínio de normatividade.
Nos novos plateaux de análise em que se movem os estudiosos a antiga dicotomia não redunda em mais do que em pontos de referência de mero valor indicativo, sem apresentar quaisquer verdadeiras valências operacionais.
4.6. OS ESTADOS E OS DIREITOS AFRICANOS ENTRE O INTERIOR E O EXTERIOR
Antes de nos voltarmos para as implicações que decorrem de um reperspectivar das dinâmicas sociais e políticas africanas (incluindo os complexos normativos que aí vigoram) nestes termos, acrescentemos àquilo que acabei de discutir outra camada, por assim dizer, de considerandos. Desta feita, proponho que nos debrucemos rápida e brevemente sobre o peso relativo que têm factores externos na progressão-evolução das coisas no Continente.
Uma leitura da bibliografia existente, ainda que cursória e mesmo se feita apenas de relance, põe claramente em evidência a propensão, compreensível, de muitos investigadores em tomar em especial consideração tais factores: como escreveu Jean-François Bayart
Jean-François Bayart, 1989, op. cit.: 14., “[en Afrique] les ‘dynamiques du dehors’ ne sont pas vraiment séparables de celles ‘du dedans’ et l’État postcolonial est produit à leur point d’interférence”. Por maximalista que nos possa parecer esta formulação, a sua pertinência é iniludível.
Não é preciso muito afinco intelectual para concluir que, efectivamente, “dinâmicas exteriores” têm tido uma enorme importância nos casos africanos. Importa, porém, saber evitar excessos na ponderação de factores externos nas mecânicas explantórias que postulamos relativamente às dinâmicas africanas contemporâneas. Alguns dos autores que sobre estes temas se têm vindo a preocupar têm querido insistir numa espécie de determinação externa, mais ou menos difusa, que sobre esses processos actuaria, o que me parece claramente exagerado. Urge, por conseguinte, encontrar para tais factores o seu lugar devido.
Uma tendência comum, tributária das variantes mais marxizantes das dependency theories a que atrás fiz alusão, é decerto a de equacionar as pressões externas actuantes como dominantes e muitas vezes enquanto resultado de uma supremacia última das relações económicas que com tanta nitidez pautam os relacionamentos complexos entre os novos Estados africanos pós-coloniais e o sistema internacional em que se integram. Para outros, todavia, os laços de dependência teriam raízes no essencial políticas, e reflectiriam a posição de subordinação em que, por uma ou outra razão, estes Estados se encontram. Outros há que insistem, ao invés, numa configuração de subalternidade cultural, que redundaria numa dominação hegemónica do “Ocidente” sobre eles. Em todos os casos, factores exógenos, chame-se-lhes isso, aparecem posicionados como se tratando de peças cujos papéis são preponderantes nas teorizações levadas a cabo quanto às dinâmicas observáveis no Continente.
Com o intuito de melhor poderar o peso relativo de factores endógenos e de factores exógenos, irei mais uma vez esmuiçar exemplos angolanos que considero paradigmáticos da “mecânica causal” discutida. Começo por abordar questões políticas. Volto-me, depois, para questões jurídicas. Nos dois conjuntos de exemplos, aquilo que está em causa é tentar apurar o doseamento relativo de factores internos e externos nas reconstruções racionais propostas. A minha escolha de Angola como ilustração não será difícil de compreender: de todos os PALOP, Angola e a Guiné-Bissau são seguramente os exemplos mais nítidos do jogo desses dois tipos de factores; e Angola é indubitavelmente o caso relativamente ao qual há mais informação e melhor disponível.
Começando então pelos processo políticos angolanos pós-coloniais, cabe aqui um breve esboço de um background histórico ponderado. Os primeiros tempos da nova República Popular de Angola foram marcados por uma rápida degradação de uma situação política e militar conjuntural que logo à partida, a 11 de Novembro de 1975, já não era muito famosa. Justificavam-no não só as dissensões internas existentes
Seria porém um erro reduzir estas separações intestinas à luta inter-partidária. As divisões existiam também dentro do MPLA. Para uma discussão pormenorizadíssima destas clivagens internas a nível do próprio partido no poder, ver J.-M. M. Tali (2001)., mas também as conjunturas geopolíticas externas, tanto no plano regional como no internacional, em que Angola se via embrenhada
Neste mesmo dia 11 de Novembro de 1975, a FNLA e a UNITA proclamaram a independência, na cidade do Huambo, da República Democrática de Angola; de par com a RPA, foi assim criada uma RDA. Essas proclamações foram pre-emptivamente precedidas por uma declaração portuguesa da independência de Angola, lida a 10 de Novembro (a véspera) às 12,00 horas, pelo Alto Comissário português, Leonel Cardoso: “Em nome do Presidente da República Portuguesa proclamo solenemente – com efeito a partir das 0 horas do dia 11 de Novembro de 1975 – a independência de Angola e a sua soberania, radicada no povo angolano, a quem pertence decidir das formas do seu exercício”. Um grande número de Estados (liderados pelo Brasil) apressou-se a reconhecer a Angola cuja independência fora declarada pelo Governo do MPLA, o mesmo não se tendo passado com as proclamadas pelos outros movimentos. Posição ambígua foi porém a inicialmente assumida pela OUA. O problema vinha de trás. Sem músculo nem autoridade suficientes (e convenhamos que teriam sido precisos bastantes), a OUA pura e simplesmente não logrou uma coligação dos três movimentos armados angolanos (como o estipulava o “Comité de Libertação” da organização antes de formalmente apoiar a FNLA), o que deixou aos Estados membros a discricionaridade para reconhecer, em alternativa e nos termos canónicos, ou aquele que ocupasse a capital, Luanda (J. Herbst, 2000, op. cit.: 110) ou, seguindo um infeliz precedente estabelecido em 1966, no Gana (quando o peso-pesado Joshua Nkrumah foi vítima de um golpe de Estado num momento em que se encontrava fora da capital), qualquer um dos agrupamentos em contenda. Quando em finais de 1975, face à vitória efectiva do MPLA sobre os seus adversários, a organização se decidiu finalmente por um apoio a este, o mal estava feito e os Estados membros estavam divididos em alianças com movimentos angolanos que passaram com rapidez à “clandestinidade” (cf. D. Birmingham, 2002, op. cit.: 147).. A vizinhança relativamente a uma África do Sul, poderosa tanto económica como político-militarmente, formava uma das suas parcelas. A presença de inúmeros minérios estratégicos no seu território, outra. O posicionamento do novo Estado numa rede local de distribuição-localização de recursos, e numa zona-chave do Atlântico sul e do continente africano, configuravam de maneira suplementar essa marcada centralidade regional e global. Se é indubitável que, de um ponto de vista geográfico e do seu desenvolvimento, Angola estava relegada a uma das periferias da ordem internacional então instalada, não deixa de ser verdade que, de um ponto de vista político-militar, o novo Estado se assentou, pelo contrário, num lugar central relativamente aos processos que sobre aquelas agiam.
A coalescência dessas várias coordenadas tinha implicações profundas para o equilíbrio das relações entre as duas superpotências que então contracenavam nos palcos globais em formação, cujo papel era fulcral na ordenação do sistema internacional. Tudo isso fez com que Angola desempenhasse um papel geo-estratégico importante durante os anos 80 e 90, indissociável do contexto geral da Guerra Fria bipolar que então se vivia.
Com efeito, o novo Estado ir-se-ia rapidamente transformar no palco de uma das tristemente célebres, mais violentas e mais prolongadas “guerras de substituição” (proxy wars) que caracterizaram os cenários do interlúdio bipolar da ordem internacional do pós-2ª Guerra Mundial. As frentes, interna e externamente, eram muitas. Mas a determinação do partido único no poder em Luanda no que toca a essas várias frentes ir-se-ia revelar inabalável: a teimosia das novas autoridades angolanas em tentar fazer-lhes face não esmoreceu.
Numa primeira fase, o sucesso governamental parecia assegurado. Impulsionado por uma forte ajuda “internacionalista” cubana, e contando com o apoio de conselheiros militares soviéticos e leste-europeus, o Estado-MPLA infligiu, logo em 1975 e 1976, pesadas derrotas militares à UNITA e FNLA; o que permitiu ao partido no Governo, pelo menos inicialmente, assegurar o controlo de grande parte do país. Esta intervenção foi paralela a outras, uma delas zairense, uma segunda sul-africana, e uma última norte-americana
A guerra civil angolana tomou proporções inusitadas a partir do momento em que forças zairenses e sul-africanas entraram no país em apoio dos beligerantes. Na verdade, a África do Sul interveio em auxílio das forças da UNITA e da FNLA, invadindo o sul de Angola em Agosto de 1975, avançando em Outubro e Novembro tanto pelo litoral como pelo interior e chegando até cerca de 200 Km de Luanda. Dois batalhões do exército regular sul-africano, denominados “Zulu” e “Foxbat”, num total de seis mil homens, equipados com carros blindados e beneficiando de apoio aéreo, progrediram, em Outubro de 1975, respectivamente pela costa e pelo interior, ocupando sucessivamente, à medida que se deslocaram para Norte, as principais cidades; foram parados em Kifangondo, numa batalha que contou com uma intervenção decisiva da artilharia cubana. Por sua vez, o exército zairense invadiu em simultâneo o norte, em apoio da FNLA; foi rapidamente desbaratado, mais uma vez com apoio cubano, e bateu em retirada de regresso ao então Zaire. Mas o conflito ir-se-ia contiunuar a internacionalizar. Por forma a reequilibrar o jogo de forças entre os movimentos de libertação, Cuba enviou milhares de soldados para Angola, sobretudo a partir de Outubro de 1975. Uma escalada começara em que os números falam por si. Até à data da independência, cerca de três mil soldados cubanos chegaram ao país. Desde Agosto anterior, estavam em Angola cerca de quinhentos instrutores militares cubanos, duas centenas dos quais treinavam, em CIRs (Centros de Intrução Revolucionária), “recrutas” angolanos ligados ao MPLA. Em meados dos anos 80, as forças expedicionárias cubanas em Angola (as famosas auto-apelidadas “tropas internacionalistas”) totalizavam mais de 50 mil homens. É ainda importante não esquecer o permanente apoio que as superpotências da altura, os EUA e a URSS, forneciam às partes em contenda. Para maior desenvolvimento, vd. John Stockwell (1978) e T. Hodges (2002), pp. 26 e 27.. Algumas dessas ingerências duraram mais do que outras; todas tiveram consequências pesadas.
Em qualquer o caso, a vida do jovem Estado prosseguiu. As conjunturas gerais não soavam decerto a excessivamente desfavoráveis, para os ouvidos do Governo de então. Suspensa a intervenção (ou pelo menos a ingerência “legal” e directa) dos Estados Unidos da América (na sequência da aprovação, pelo Congresso norte-americano, da célebre Emenda Clark, que impedia o apoio a qualquer uma das facções angolanas), e rechaçadas ou contidas as forças sul-africanas e zairenses, parecia livre o caminho para o partido único, o MPLA, assumir um controlo pleno do recém-criado Estado.
No entanto, tal não iria ser fácil. Nem iria revelar-se célere. Dos dois outros movimentos concorrentes na luta anti-colonial, apenas a FNLA fora erradicada do mapa político-militar
Especialmente depois do regime do Zaire (hoje Congo), dirigido na altura por Mobutu Sese Seko, ter normalizado relações com o Governo de Angola em 1978.; uma vez que a UNITA, onde começava a despontar a liderança carismática de Jonas Malheiro Savimbi
O surgimento da UNITA como movimento de guerrilha na sequência da derrota infligida pelo MPLA, na qual resultou a perda do Bailundo e do Andulo, foi apelidado de recuo estratégico pelos seus dirigentes. Note-se ainda que o apoio da África da Sul se traduziu na disponibilização de bases no norte da Namíbia, armamento e instrução militar, o que fez com que a UNITA centrasse o seu comando de operações no Cuando Cubango, as apelidadas terras do fim-do-mundo, onde mais tarde fundou a Jamba, também conhecida como a capital das terras livres de Angola., desde logo iniciou uma guerra de guerrilha em larga escala contra o Governo instalado na capital e nos outros centros urbanos do recém-criado Estado angolano independente.
Foi uma insurgência coerente e perigosa para o controlo efectivo exercido pelo partido único governamental: sustentada logisticamente pela África do Sul e financeiramente apoiada nos Estados Unidos da América, a UNITA depressa iria ocupar extensões enormes de um território a que as autoridades estatais só com dificuldade conseguiam acudir. O recém-criado Estado angolano, cedo em deficit de facto tanto em termos de legitimidade como em implantação, tinha inesperadamente pela frente uma tarefa ciclópica. E, pelo menos enquanto a URSS existiu, viu-se alinhado com o bloco liderado pelos soviéticos.
Algum cuidado é todavia imprescindível quanto à estipulação que daí teriam resultado eventuais relações lineares de hegemonia-dependência que, como poderemos facilmente verificar, seriam injustificadas. As relações não foram sempre boas, nem sequer podem ser encaradas como tendo sido homogeneamente de relações de mera submissão, como é tornado evidente por questões como a tensão desencadeada durante e após um 27 de Maio de 1977
A tristemente célebre movimentação “fraccionista” de Nito Alves, apoiada pela URSS e que deu origem a uma primeira grande depuração “pró-Agostinho Neto” nas fileiras do MPLA, então partido único. Noconlito entre “Nitistas” e “Netistas”, a URSS apoiou inicialmente Nito Alves, talcomoaliás o fez também o Partido Comunista Português. O Primeiro-Secretário da Emaixada soviética em Luanda reputadamente suicidou-sequando os cubanos decidiram apoiar A. Neto. A tensão nas relações bilaterais manteve-se durante algum tempo., e por numerosas questiúnculas avulsas que se foram acumulando. O que por si só lança dúvidas quanto à procedência do “monismo explanatório” sempre de uma ou de outra maneira implícito em explicações “externalistas”, quaisquer que sejam as suas linhas de força principais.
Para lá destes avanços e recuos “microscópicos”, poder-se-á, no entanto, postular de modo convincente uma supremacia “macro” de factores externos em Angola? Entrever as coisas num enquadramento mais genérico tem óbvia utilidade, quanto mais não seja pelo efeito de revelação que produz.
Comecemos por um ponto cujo alcance é sobretudo de método. Durante a 1ª República, a aparente posição de subordinação da República Popular de Angola face à União Soviética, bem como a sua posição de subalternidade política, económica e militar em relação tanto a esta como aos Estados Unidos da América, significaram, por via de regra, que as análises das relações entre o país e as superpotências tomassem sempre como ponto de partida (e como linha de chegada) a superpotência em causa, em detrimento do lado angolano da ligação. A margem de manobra de Angola era, ou ignorada, ou de forma implícita tida como sendo reduzidíssima. O que redunda num reducionismo que ignora a evidência de que, como escreveu recentemente Patrick Chabal
Patrick Chabal, 2002, op. cit.: 73., no caso de Angola como no dos outros PALOP, “any proper understanding of their place in the international system must analyse their foreign policy in terms of their own historical development”, sem se ater apenas à dos seus parceiros ou às posturas, porventura mais pró-activas que estes possam assumir. O que, por sua vez, resulta numa gravosa subalternização do papel preenchido, neste caso, pelas entidades angolanas envolvidas no processo, que subtilmente as minoriza.
Podemos abordar a questão que aqui suscito de um ponto de vista ligeiramente diferente. O parcialismo patente nas (de qualquer maneira poucas) análises levadas a cabo, tem resultado em mais do que numa mera produção de meias-verdades. O ponto a destacar é que para além disso esse viés tem tido implicações heurísticas sérias. Implicações essas que são bastante fáceis de equacionar: como bem nos alertou Christopher Clapham
Christopher Clapham, 1996: 135-136., preocupado com um quadro continental mais geral, “one result of this emphasis was that the contours of the Afro-superpower relationship from an African perspective were often neglected, or reduced to the sterile formula of African independence versus superpower imperialism”. Enunciada assim a questão, não estamos muito longe daquilo que Chabal escreveu e que antes citei. A essa simplificação adicionam-se porém quantas vezes uma omissão metodológica muitíssimo grave.
Importa salientar (o que, aliás, Clapham também fez) que, dada a relativa falta de importância de África para as superpotências, a margem de manobra dos Chefes de Estado e dos Governos africanos nas suas relações com os dois líderes da bipolarização era grande. Nas palavras de Clapham
Ibid., op. cit.: 139., “for African rulers, the superpowers could [...] be regarded very largely as a resource”, um recurso a ser instrumentalizado nas suas contendas domésticas pelo controlo do poder. E histórias de manipulação instrumental desse “recurso” não faltam, no progredir da política pós-colonial de muitos dos novos Estados africanos.
Encarar as coisas desta perspectiva mais “biunívoca” tem consequências imediatas e interessantes. Ao contrário daquilo que é ainda muitas vezes o senso comum, torna-se por exemplo óbvio que os “superpowers did not impose themselves on Africa, nearly as much as they were sucked into it through the search for competing forces within the continent for external resources through which they could pursue their internal rivalries”. Um ponto que passa despercebido a quem se atenha ao parcialismo que acima expuz.
Neste sentido menos reducionista, pelo contrário, torna-se ainda claro que a relação dos Estados africanos (e nomeadamente a Angola que, como insisti, nos oferece um caso paradigmático disso mesmo), com as superpotências na época bipolar nos fornece um exemplo clássico da chamada “política de extraversão”, um conceito, (segundo por exemplo C. Clapham e Jean-François Bayard
Cf. Christopher Clapham e Jean-François Bayard, 1989.) central para a inteligibilidade do funcionamento dos Estados africanos pós-coloniais. Contra alguma “sabedoria convencional”, que em contrapartida, repito, tende infelizmente a esquissar as relações de Angola (e, aliás, a de quaisquer outros países do chamado “Terceiro Mundo”, ou da “periferia”, na versão wallersteiniana) com as superpotências, de maneira muito redutora e bastante abusiva e “infantilizante”, como tendo estado indexadas num “imperialismo” voraz e expansionista destas últimas, ou numa situação de uma qualquer simples “periferização”.
O salto não é grande dessas pré-compreensões para generalizações (tão abusivas e descabidas quão convincentes para aqueles que partilham visões reducionistas, e mais ou menos deterministas, quanto à ordem internacional contemporânea) sobre as pressões a que tem sido sujeito o “jurídico” nessas zonas de um Mundo em época de globalização acelerada. Um só exemplo bastará, relativo a uma teorização recente tributária das formulações “dependentistas”, as fascinantes deambulações de Boaventura de Sousa Santos
E.g. Boaventura de Sousa Santos, 2003, op. cit.,: 67-69. Em páginas fascinantes relativas ao que apelida “o pluralismo jurídico interno em Moçambique” (que antes definira como “uma situação de extrema heterogeneidade no interior do direito estatal” (ibid: 62), Sousa Santos alude a “uma [sua] outra vertente [...] que resulta das fortes pressões da globalização hegemónica a que Moçambique tem estado sujeito. Trata-se [...] do impacto do global no local e no nacional, em condições em que nem o local nem o nacional podem endogeneizar, interiorizar, adaptar e muito menos subverter as pressões externas”. Segundo este A., “nestas condições, tais pressões, porque muito intensas e selectivas, provocam alterações profundas em algumas instituições e em alguns quadros legais, impondo-lhes lógicas de regulação muito próprias, ao mesmo tempo que deixam outras instituições e quadros legais intocados e, portanto, sujeitos sujeitos às suas lógicas próprias”. Nos termos deste enquadramento, Boaventura Sousa Santos contrasta “o sector do direito económico e financeiro” com “o sector do direito da família”, dele “fragmentado” e “segmentado” (ibid.: 68). O primeiro seria fortemente ”transnacionalizados” e os segundos “nacinalizados”, devido aofactode ser “pouco importante para as forças transnacionais”. Esta disjunção e a consequente heterogeneidade (ou “segmentação jurídico-institucional”) resultariam do lugar estrutural “periférico” que Moçambique ocupa no “sistema capitalista internacional”. sobre o Direito e o “Estado heterogéneo”, como apelidou o de Moçambique.
Não quereria pronunciar-me relativamente a uma realidade jurídica, política e institucional, o Direito moçambicano, que Sousa Santos com toda a probabilidade conhece melhor do que ninguém. Cumpre no entanto alertar para o facto de que essas pressões externas e essa dinâmica de mudança por elas causadas não se exercem inteiramente da maneira em que tal se verificaria caso resultassem, como Sousa Santos assevera, do mero posicionamento “periférico” de Moçambique no sistema internacional. Os factos assim o demonstram. Em Angola, cuja posição (apesar do petróleo e dos diamantes que nopaís abundam) está também firmemente localizada na “periferia” do “sistema mundial”, o panorama jurídico-político, ou jurídico-institucional, se assim se preferir equacionar as coisas, pelo menos nas frentes aludidas, é muito diferente; e é-o de uma maneira que põe seriamente em cheque a generalização teórica formulada
Ver, para todos estes pontos, A. Marques Guedes et al., op. cit.: 2003, sobretudo a introdução..
As transformações jurídicas pós-coloniais que têm tido lugar ao nível do Direito angolano da Família têm sido, em muitos sentidos, mais importantes do que aquelas que têm ocorrido no plano do Direito económico e financeiro: precisamente o inverso daquilo que se tem passado em Moçambique e que a interpretação-generalização teórica “dependentista” que resumi visa explicar. De modo a melhor evidenciar tanto esta progressão como os limites de modelos que postulem determinações externas lineares sobre o desenvolvimento de processos jurídicos pós-coloniais, vale a pena pormenorizar q.b. algum do caso relativo ao Direito angolano pós-colonial. Como iremos ter a oportunidade de verificar, o enovelamento existente é tal, e de tal maneira complexo, que se torna pouco convincente qualquer modelização que insista num contraste entre pressões exercidas por “agências multinacionais” e aquelas exercidas por “elites nacionais e locais”.
Durante todo o período colonial, o Direito em vigor em Angola foi sobretudo (pelo menos nas áreas sob a alçada do Estado) o Direito português. Nalguns casos, para algumas das muitas populações do território, as “práticas ‘consuetudinárias’ tradicionais” eram nominalmente reconhecidas. Mas eram poucas e raras as instâncias em que isso efectivamente ultrapassava o nível da mera declaração de intenções.
A hegemonia (ou pelo menos a preponderância inquestionada) do Direito português naturalmente não sobreviveu à independência angolana
Agradeço a Carlos de Freitas, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, pelos dados de pormenor que se seguem quanto à progressão pós-colonial, em Angola, do Direito Económico e do Direito da Família.. Quando a 11 de Novembro de 1975 foi proclamada a República Popular de Angola entrou em vigor uma Lei Constitucional para o novo Estado, que o definia como uma entidade soberana, independente e democrática. Nesse mesmo ano, entrou igualmente em vigor a primeira Lei da Nacionalidade, através da qual foi concedida a nacionalidade angolana a todos os indivíduos nascidos em Angola ou no estrangeiro, desde que filhos de mãe ou pai angolanos. Estes momentos consagraram uma ruptura.
O próprio texto da Lei Fundamental traçava as novas linhas de falha, bem como as continuidades. Com efeito, a Lei Constitucional angolana de 11 de Novembro de 1975 continha uma norma de recepção material no seu artigo 84º, por meio da qual as leis e regulamentos do ordenamento jurídico português em vigor em Angola à data da independência nacional continuaram em vigor "…enquanto não forem revogados ou alterados e desde que não contrariem o espírito da presente lei e o processo revolucionário angolano". Evitou-se assim o vazio jurídico que, de outra forma, se seguiria à proclamação do novo Estado; tendo-se, no entanto, acautelado a possibilidade do recurso à declaração de inconstitucionalidade daquelas disposições legais que pudessem de alguma forma estar em contradição com os fundamentos e o "espírito" da então recém-criada República Popular de Angola.
É certo que ainda hoje, transcorridos que são quase trinta anos sobre a data do nascimento do Estado que agora se intitula de a República de Angola, muitas das leis e regulamentos de fonte portuguesa se mantêm em vigor
Veja-se, a título de exemplo, o Código Civil português de 1966 (excepto o livro da família) e o Código Penal português de 1888.. Não é, contudo, menos verdade que desde os primeiros momentos da sua existência como Estado, em Angola se tem vindo gradualmente a dar corpo a profundas alterações, que têm redundado na criação de um quadro jurídico próprio. Essas modificações não têm, contudo, sido homogéneas.
As alterações foram de início (e, em boa verdade, na Angola pós-colonial têm sempre sido) sobretudo levadas a cabo ao nível do Direito Público. A produção legislativa dos primeiros anos visou, em essência, matérias relacionadas com a protecção da soberania e da independência nacionais e com a estruturação do Estado, tal como então este fora ideologicamente projectado. Foi assim que se assistiu, logo no ano de 1976, por exemplo (e sem pretendermos ser exaustivos), à “nacionalização” do ensino, ao confisco do Banco de Angola e de Bancos comerciais, à aprovação das leis relativas às nacionalizações e confiscos de empresas e do património imobiliário.
Não foram essas, porém, as únicas frentes “políticas” de inovação jurídica pós-colonial em Angola. A repressão ao crime (o que incluía alguma redefinição do âmbito deste conceito) conheceu igualmente nesta fase uma atenção particular. Foram aprovadas leis que introduziram novos tipos de crime: por um lado, como aconteceu com a aprovação da Lei sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Mercenarismo (Lei nº 4/77, de 25 de Fevereiro); e, por outro lado, foram retomados e adaptados às circunstâncias específicas de Angola, vários tipos de crime já previstos, nomeadamente no Código Penal Português, como aconteceu com a entrada em vigor da Lei dos Crimes Contra a Segurança do Estado - Lei nº 7/78, de 26 de Maio.
Essas inovações não eclodiram naturalmente sòzinhas. A organização judiciária conheceu de igual modo em Angola alterações profundas. Cabe destacar-se aqui a criação dos Tribunais Populares Revolucionários (pela Lei nº 8/78, de 26 de Maio) destinados a julgar “crimes contra a segurança do Estado”, “crimes de mercenarismo”, “crimes de guerra e contra a Humanidade”, mas que tinham o poder de avocar quaisquer processos por crimes que, pela sua natureza, qualidade dos agentes, repercussão social e dano causado aos interesses fundamentais do Estado, o tribunal entendesse julgar. Os Tribunais e a Procuradoria Militares foram institucionalizados em 1978, e nesse mesmo ano foi aprovada a Lei dos Crimes Militares. Com o andar das coisas na Angola pós-colonial, esta disseminação judicial não iria durar. Com a institucionalização do Sistema Unificado de Justiça (instaurado pela Lei nº 18/88, de 31 de Dezembro) o Tribunal Popular Revolucionário da Província de Luanda, o único que acabou por ser constituído (e que acabou por projectar a sua acção ao conjunto do território nacional angolano), foi convertido na Sala dos Crimes Contra a Segurança do Estado do Tribunal Provincial de Luanda.
Logo de início, o domínio da organização dos órgãos locais do Estado pós-colonial mereceu, do mesmo modo, uma particular atenção. De 1975 a 1981 houve uma evolução administrativa que começou com a autonomia local e terminou com o centralismo democrático (nomeadamente com a Lei nº 7/81, de 4 de Setembro, mais tarde revogada pela Lei nº 21/88, de 31 de Dezembro, que instituiu os Órgãos Locais do Estado, regulamentando as disposições constitucionais a isso relativas). Verificaram-se também aqui recentemente actualizações, primeiro através do Decreto-Lei nº 3/99, de 25 de Fevereiro, que estabeleceu a estrutura e composição do Governo da República de Angola, do Decreto-Lei nº 17/99, de 29 de Outubro, que veio aprovar a nova orgânica dos Governos Provinciais e das Administrações dos Municípios e das Comunas e do Decreto nº 27/00, de 19 de Maio, que aprovou o Regulamento e o Quadro de Pessoal dos Governos das Províncias e das Administrações, dos Municípios e Comunas
Evolução que será sinteticamente enunciada e esmiuçada em mior pormenor na primeira parte (a Parte I) da presente monografia..
Ainda no domínio público, houve mais. Com a independência e dadas as opções político-ideológicas desde cedo assumidas pelo novo Estado angolano soberano, o sector empresarial do Estado foi também objecto de tratamento jurídico adequado com a aprovação do regime específico das Unidades Económicas Estatais ("UEE") contida na Lei nº 17/77, de 15 de Setembro. Essas alterações, por sua vez e no entanto, depressa se veriam, elas próprias, alteradas. Com a emergência da chamada 2ª República em Angola, muito iria, também nessa frente, mudar. A matéria viria a beneficiar de actualizações em 1988 e 1995, por via das Leis nº 11/88, de 9 de Julho (Lei das Empresas Estatais) e nº 9/95, de 15 de Setembro (Lei das Empresas Públicas). O investimento estrangeiro também não deixou de ser objecto de atenção, tendo a primeira lei a ele consagrada sido aprovada em 1979
Para uma tentativa de visão de conjunto da progressão normativa angolana neste domínio genérico da economia, ver J. A. Morais Guerra (1994).. A lei do investimento estrangeiro actualmente em vigor, é a Lei nº 15/94, de 26 de Julho.
Não foi só a esses níveis que as alterações no Direito Público induzidas pela “transição democrática” em Angola se fizeram sentir
É curioso notar que as transformações do Direito Público começaram no domínio da intervenção do Estado na economia e só depois se propagaram para o nível político com a transição democrática, a partir de 1991. Alguns juristas angolanos consideraram mesmo essas leis como materialmente inconstitucionais.. Importa frisar que, a partir de 1991, mereceu tratamento legislativo uma série de outras matérias “públicas” (consideradas como particularmente relevantes) que não podemos deixar de aqui realçar. Tratou-se nomeadamente das revisões constitucionais, da legislação relativa às eleições, à nacionalidade, à administração pública, à impugnação dos actos administrativos e ao contencioso administrativo, às associações, aos partidos políticos, ao direito de reunião e de manifestação, ao estado de sítio e de emergência, à imprensa, aos sindicatos e ao direito à greve. Tais instrumentos jurídicos foram tidos, nos novos climas políticos, como sendo cruciais para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, constitucionalmente alicerçados.
Como antes referi, uma qualquer simples observação-comparação impressionística (sempre a nível macro) do espectro da produção legislativa do Estado angolano depressa nos leva à conclusão, pacífica, de que o domínio de intervenção privilegiado foi este, o do Direito Público; as relações jurídico-privadas continuam basicamente a reger-se pela legislação que se encontrava em vigor em Angola antes da Proclamação da Independência. O que não será surpreendente.
As alterações que a esse outro nível ocorreram não se distribuíram, contudo, de maneira homogénea. Há que referir os casos excepcionais que são o das relações jurídico-laborais e jurídico-familiares. Mais uma vez tão-somente de forma indicativa, comecemos pelo último destes âmbitos, o das relações jurídico-familiares. A necessidade de proteger, à luz dos novos princípios constitucionalmente consagrados, a igualdade do género, de redefinir o regime do instituto do casamento, da filiação e da adopção, entre outras questões, foi motivo para que se aprovasse um Código da Família, logo em 1988, que revogou toda a legislação sobre tais matérias então em vigor, particularmente o Livro IV do antigo Código Civil.
Excepcional, como indiquei, foi também o caso da progressão-diferenciação do quadro normativo das relações jurídico-laborais. O advento da 2ª República angolana, cujo quadro jurídico-político foi esquissado na Lei Constitucional revista em 1992, depressa levou também o Estado pós-colonial em Angola a dar tratamento a matérias do sector jurídico-privado que melhor se coadunasse com o novo ambiente que na sociedade angolana se começava a viver. Embora aí o processo tenha vindo a ser mais lento. É o caso do Direito Comercial (mantém-se ainda, parcialmente, o venerando Código Comercial português de 1888, e a Lei de 11 de Abril de 1901, que regula as sociedades por quotas) cujos projectos de alteração foram aprovados na sessão de 20 de Maio 2003 da Assembleia Nacional. Já em 1981 fora aprovada a primeira Lei Geral do Trabalho, a que se seguiu uma enorme produção de diplomas complementares. A desadequação evidente dos regimes fixados naqueles diplomas relativamente aos fundamentos políticos, ideológicos, económicos e sociais a que a 2ª República angolana cedo se vinculou, levou a alterações profundas que foram plasmadas na Lei nº 2/00, de 11 de Fevereiro.
Não seria difícil continuar com exemplos que demonstram, para o caso angolano como para muitos outros, que não tem cabimento a asserção segundo a qual a situação de “dependência” e “periferização” (definidas, ademais, em termos no essencial económico-financeiros) de algum modo determinariam desenvolvimentos consentâneos (e, por isso mesmo, assimétricos) nos ordenamentos jurídicos pós-coloniais. Tal como não faz grande sentido a ideia de que alguns sectores do Direito estadual estariam “sujeitos” a pressões de “agências financeiras” capitalistas enquanto outros, aoinvés, seriam deixados à mercê das elites locais: muitas das alterações económicas resultaram de pressões oriundas do antigo “bloco socialista” (ou da sua ideologia), tal como, de resto, muitas das mudanças ao nível familiar também; e menos sentido fariam ainda eventuais asserções de que a regulamentação legal da economia e das finanças tem sido intensa e a da família exígua, comoparece ter sido o caso em Moçambique. A ordem internacional está marcada por uma enorme interdependência; mas trata-se de uma interdependência complexa, cujas traves-mestras não se reduzem nem a quaisquer determinações lineares, nem a uma mera hegemonia das relações económicas
A primeira discussão deste conceito fundamental para o estudo das relações internacionais modernas data de inícios dosegundo quartel do século XX; ver Robert Keohane e Joseph Nye (1977)..
É em todo o caso de sublinhar que, entre os PALOP, designadamente, Angola parece ter uma posição privilegiada, já que por via do petróleo existente no território que tutela tem logrado escapar ao controlo (e muitas vezes até ao escrutínio) de entidades postuladas como sendo cruciais para uma implementação do Consenso de Washington, tais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional; Angola nunca se deixou submeter a “condicionalidades políticas e económicas” e aos famigerados “Programas de Ajustamento Estrutural” destas duas instituições de Bretton Woods
Em termos económico-financeiros, o “registo histórico” de Angola é efectivamente pouco claro deste ponto de vista: desde finais dos anos 80, e depois de um longo período em que pouca atenção prestaram a uma Angola que só após a crise dos preços do petróleo de 1985-1986 começou, de maneira sistemática, a recorrer a dadores internacionais, as instituições de Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) a que Angola aderiu, na sequência do programa de Saneamento Económico e Financeiro de 1987 (o precursor SEF), em 1989, têm tentado, (sem grande sucesso, é verdade) impor exigentes condicionalidades económicas e políticas aos apoios que concedem. Fizeram-no, por exemplo, depois de programas de reforma por regra pouco rigorosos na concepção e na execução, no início dos anos 90, em 1995, com o Programa Económico e Social (PES), em que o FMI conseguiu finalmente negociar a sua monitorização. Em 1998, depois do insucesso do célebre Programa Nova Vida de 1996, o Fundo tentou, sem o conseguir, celebrar um novo acordo relativo à política de desvalorizações então tida por imprescindível face à inflação galopante do annus horribilis de 1996 (embora o Governo tenha então decidido liberalizar as taxas de câmbio que assim se aproximaram das informais praticadas no “mercado paralelo”); num novo PES, este para o ano de 2001, as negociações com vista ao reatamento da monitorização dos programas económicos governamentais (tratava-se do 14º desde o SEF de 1987) pelo FMI surtiram por fim efeito (T. Hodges, op. cit.: 156-186).. Podemos ir mais longe. Noutro sentido, tal como antes asseverei, também a Guiné-Bissau parece escapar a essa “periferização” e “dependência”; o seu pouco interesse económico e estratégico coloca-a decerto mais naquilo que E. Wallerstein chamou a “arena externa” do “sistema mundial” que delineou do que propriamente na sua periferia
Para uma discussão pormenorizada quanto às coordenadas pertinentes nas variações da importância que creio ser de atribuir a factores externos na padronização de uma ordem jurídica, no caso a de Angola, ver Armando Marques Guedes et al. (2003a, sobretudo na introdução e na parte III desse estudo monográfico)..
Como pode facilmente ser verificado estamos muito longe de generalizações causais que exijam enormes alterações ao nível económico, por pressão de interesses externos incontornáveis, e uma marcada indeferença em relação ao Direito da Família. Há periferias e periferias. E, coisa que os defensores de modelos dependentistas parecem nunca querer tomar em consideração, em muitos sentidos, como tem sido afirmado, nomeadamente por Michael Mann
Michael Mann, 1996. e Joel Migdal
Joel Migdal, 2002, op. cit.., “globalization actually also empowers states”: em muitos casos entre outras coisas oferecendo-lhes, mesmo a nível económico e por via da rede complexa das interpendências variadas em que estão embrenhados, margens de manobra que importa saber não subestimar. Em conjunturas internacionais como aquela em que hoje em dia vivemos é particularmente difícil arriscar generalizações, por muito que elas se possam coadunar com as nossas pré-compreensões.
Apetrechados com mais dados e com cuidados suplementares, podemos agora regressar ao tema central deste estudo introdutório.
5. IMPLICAÇÕES CONJUNTAS DESTE ESTADO DE COISAS PARA O DELINEAR DE UMA DISCIPLINA DE DIREITOS AFRICANOS
Tudo aquilo que até este momento aduzi nesta Parte I, a introdutória, do presente estudo, traça limites vários que circunscrevem o que é possível levar a cabo a nível do ensino sobre Direitos africanos ministrado no contexto da licenciatura em Direito da FDUNL. O conteúdo que dei ao programa da disciplina de Direitos Africanos, desde que no ano passado (o ano lectivo de 2001-2002) a regência desta disciplina me foi atribuída pelo Conselho Científico da Faculdade, é mais analítico do que descritivo. E é muitíssimo menos completo do que tópico e indicativo.
Não podia ser de outra maneira. Na ausência de dados pormenorizados e em número suficiente quanto a esses Direitos e dada a complexidade, a diversidade, e a mutabilidade das configurações jurídicas patentes em África, optei por proceder na sua leccionação a uma abordagem a um tempo mais teórica e mais ilustrativa. O que não deixa de ter implicações.
Preferi, por exemplo, não tentar fazer um levantamento de fundo de um qualquer aspecto de uma qualquer das ordens jurídicas em vigor naquele Continente. Nem sequer tem sido minha intenção proceder a uma (eventualmente interessantíssima) comparação sistemática entre os Direitos oficiais em vigor nos PALOP e aqueloutro, a estes claramente aparentado e que com eles mantém laços genéticos de paternidade, que está vigente em Portugal. Tal como não intento demonstrar a existência de um qualquer eventual paralelismo profundo entre os vários Direitos africanos “lusófonos”, que nos levaria a entrevê-los como outras tantas variações sobre um tema comum e unitário que brotaria, porventura, precisamente dessa relação histórica de filiação.
Confesso, em todo o caso, sustentar as maiores reservas relativamente a quaisquer dessas hipóteses que a “sabedoria convencional” parece ter por adquiridas
Para uma discussão mais minuciosa de questões aparentadas com esta (que aí apelido de “teses excepcionalistas” e que vejo como uma herança colonial transmitida às elites africanas que detém o controlo dos Estados pós-coloniais), ver A. Marques Guedes (2002, no prelo). Em P. Chabal et al. (2002: 3-134), é levada a cabo uma desmontagem-desconstrução sistemática da ideia, curiosamente comum, de que os Estados e os processos históricos dos PALOP seriam casos “crioulos” marcadamente excepcionais em África e todos do mesmo tipo, muito particular.. O meu intuito tem sido antes o de lograr equacionar bases para um eventual enquadramento metodológico (sempre numa perspectiva multidisciplinar) que melhor nos permita um dia empreender tanto estas comparações
Não quer isto de maneira nenhuma dizer que considere de particular relevância explanatória esta relação “genética” de filiação de grandes parcelas dos Direitos estaduais em vigor nos PALOP em relação ao Direito português. Sublinho-a, não para asseverar a centralidade da ligação umbilical existente mas antes com o intuito de sugerir a necessidade de uma sua problematização. Para além das evidente existência de homologias (em muitos casos verificaram-se transposições directas de códigos, diplomas, entidades institucionais e formas de organização), não é óbvio nem o potencial analítico dessa filiação nem o são as eventuais vantagens de um dos seus corolários, a convicção de que existiriam relações estruturais de germanidade entre entre os vários Estados africanos “lusófonos”. Mais do que mero wishful thinking, tais presunções ecoam de forma suspeita com modelizações conjunturais herdadas relativas a uma hipotética “portugalidade intrínseca” (ou congénita) destas populações africanas. Em lugar de paralelismos superficiais e dúbios, parece-me claro que o enquadramento apropriado para investigar os Direitos dos PALOP (mesmo as parcelas estatais deles) são os regionais africanos em que estão socioculturalmente integrados. quanto aquele levantamento de fundo.
Antes de regressar a estes constrangimentos de maneira mais pormenorizada (ou pelo menos às suas implicações no que diz respeito à estruturação de uma disciplina como a de Direitos Africanos) parece-me, porém, útil dar corpo ao tipo de estratégia pluridisciplinar que escolhi, por intermédio de alguns exemplos relativos aos Direitos dos PALOP.
Parte II
TRÊS EXEMPLOS RELATIVOS A DIREITOS AFRICANOS LUSÓFONOS
[In Africa it is] the history of the relations between state and society, not constitutional frameworks, which determines [a country’s] fate. […] It is strange that students of the Portuguese-speaking African countries – which only became independent some fifteen years after the French and British colonies – should so readily have repeated the mistakes of those who had studied French- and British-speaking Africa in the early years of their independence. Strange indeed, for it was precisely in the late seventies that the experience of these countries suggested that it was time to seek other interpretations of the postcolonial African state.
Patrick Chabal (2002), op. cit.: 38.
6. UM ENQUADRAMENTO GERAL
Para melhor ilustrar o tipo de abordagem que preferi nesta disciplina, irei debruçar-me sobre três exemplos paradigmáticos. Em primeiro lugar, tocarei, ainda que o faça apenas de maneira breve e sucinta, na complementaridade complexa existente, no interior do pluralismo jurídico patente em Cabo Verde, entre a organização judiciária do Estado e alguns dos meios alternativos (as “formas consuetudinárias”) existentes. Num segundo passo, dispensarei alguma atenção às tensões suscitadas pelo pluralismo jurídico que nestas sociedades é tão patente: neste caso pelo imperativo constitucional (proclamado na 2ª República) de uma articulação entre a administração periférica do Estado, a administração local incipiente e as “autoridades tradicionais” em Angola. Em terceiro e último lugar, tentarei esmiuçar os litígios constitucionais endémicos que tão visivelmente têm pautado a vigência da 2ª República em S. Tomé e Príncipe, precisamente no que respeita às dificuldades que ilustrei nos casos anteriores.
Escolhi estes três e não outros tópicos de entre os numerosos que irão ser discutidos no decurso do semestre, por razões de transparência metodológica. Trata-se, com efeito, de três temas, cada um deles relativo a um dos PALOP, cuja análise (ainda que aqui tão-só superficial e indicativa) me permite tornar claro o método que prefiro para empreender um estudo destes Direitos. Em todos estes casos, esforço-me por isso em aliar a pluridisciplinaridade que me parece imprescindível para dar conta de sistemas jurídicos e jurisdicionais complexos e multidimensionados à tentativa de o levar a cabo no âmbito de um quadro analítico unitário.
6. 1. A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E ALGUNS MEIOS “CONSUETUDINÁRIOS” ALTERNATIVOS EM CABO VERDE
O exemplo de Cabo Verde é particularmente revelador do entrosamento multidimensional e muito sui generis entre o “jurídico” e o sócio-religioso
Os dados aqui expostos foram discutidos, em muitíssimo maior pormenor, em A. Marques Guedes et al. (2001), “Litígios e pluralismo em Cabo Verde. A organização judiciária e os meios alternativos”, Themis, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa:1-66. O texto desse Relatório foi republicado em Cabo Verde, na revista Direito e Cidadania, em 2002. Agradeço a Yara Miranda, João Dono e a Maria José Lopes o apoio prestado na recolha, na Praia e na ilha do Maio, de algumas das informações factuais e terminológicas que aqui utilizo.. Na cidade da Praia, a capital, tal como na maior parte (senão no todo) do arquipélago, o Estado caboverdiano pós-colonial montou um sistema de organização judiciária. A nível superficial, pelo menos, este sistema configura uma variante simples do seu congénere português: o que não é surpreendente se tivermos em conta os antecedentes históricos da relação bilateral muito especial que existiu (e, em larga escala, ainda se mantém) entre os dois países.
Como iremos verificar, no entanto, a semelhança é pouco mais do que superficial. E é, além disso, apenas parcial.
5.1.1. O PLURALISMO JUDICIÁRIO EM CABO VERDE: VARIANTES E ENQUADRAMENTO
A situação genérica em Cabo Verde, a este nível (o da condução e resolução de disputas e litígios), aparece-nos como sendo de um “pluralismo judiciário light”, para inventar uma expressão que se lhe coadune. Existem no arquipélago Tribunais civis comuns, distribuídos por Comarcas judiciais e, no topo da pirâmide judicial, um Tribunal Supremo. Os militares estão sujeitos a um Tribunal especial, com competências relativas a “crimes militares”.
Tal como em Portugal, há também em Cabo Verde mecanismos “judiciários” híbridos, que põem a tónica na condução-resolução de classes particulares de disputas: assim, por exemplo, conflitos menores relativos a “conciliações laborais” são muitas vezes “ouvidos” e “negociados” (por vezes com sucesso) sob a égide de uma espécie de mediador da chamada Direcção-Geral do Trabalho, um organismo ministerial; caso os litigantes não consigam alcançar um consenso rápido e abrangente nessas sessões de mediação relativamente informal, a disputa é imediatamente remetida para um Tribunal competente.
Um outro ingrediente de pluralismo judicial caboverdiano é disponibilizado pela localmente bastante influente Igreja Católica, que muitas vezes (mas por via de regra sem grande eficácia, de acordo com os dados que recolhi) aplica disposições extraídas do Direito Canónico
Fá-lo formal e informalmente e aí parecem residir algumas das suas condições de eficácia. De acordo com os membros do clero caboverdiano com quem troquei impressões sobre estes “tribunais eclesiásticos” (e que insistiram que, “sobretudo em zonas rurais”, “os párocos” eram muito procurados “para o efeito de servir de árbitros”) a sua intervenção (“talvez pelo menos em parte por isso mesmo”) parece só muito raramente revelar-se eficaz na solução desses conflitos. Foi-me no entanto sublinhado serem eficazes a outro nível, no que toca nomeadamente a questões tidas como do foro mais canónico (por exemplo, na anulação de casamentos religiosos). Decisões dessa ordem, por via de regra tomadas “pelo bispo” e não a nível local, foi-me dito terem uma larga aceitação geral. Se isso for apenas mera impressão, seria interessante apurar as razões desta diferença de eficácia. e, por meio da sua utilização, tenta “arbitrar” algumas disputas familiares, por norma casos que dizem respeito a separações difíceis entre cônjuges, heranças, ou litígios focados na tutela de crianças.
Mas há em Cabo Verde mais do que isso. Lado a lado com esse pluralismo judicial soft (ou light, como lhe chamei), uma forma mais hard, ou mais pesada, parece operar nas ilhas. A organização judiciária do Estado não consegue alcançar todos os meandros da sociedade, e não o logra por toda uma série de razões. Cabo Verde é geograficamente muito disperso, e economicamente bastante pobre; até 1975, os esmagadora maioria dos juízes eram portugueses: o Estado recém-independente não tinha nem os meios financeiros nem o pessoal necessário para acorrer a todo o seu disseminado território.
Talvez tão ou mais diacrítico, os caboverdianos foram instalados nas ilhas e sujeitos a quatro séculos de uma tutela colonial estrangeira, inicialmente com o objectivo explícito de explorar um tráfico atlântico de escravos
No que toca ao enquadramento histórico destes processos ver, por todos, Luís Felipe Alencastro (2000), numa magnífica (ainda que algo parcial) monografia recente dedicada ao papel do tráfico atlântico de escravos na formação do Brasil. durante muitos anos intenso. Esse mesmo Estado foi tomado (e largamente mantido) por uma parte das elites locais, organizadas num sistema unipartidário rígido
Para uma revisão pormenorizada das várias análises produzidas sobre as funções preenchidas pelos sistemas unipartidários que grassaram em África depois das independências e até inícios dos anos 90, é útil a leitura do longo artigo de L. Rodriguez-Piñero Royo (2000)., durante a década que sobreveio à independência. No tempo colonial, os juízes das Comarcas eram, por lei, os Administradores portugueses; depois da independência, e até meados dos anos 80, não havia muito em termos de uma separação de poderes: os juízes nos então vigentes Tribunais de Zona (uma versão indígena, assaz aguada, dos Tribunais Populares Revolucionários soviéticos
A. Marques Guedes et al (2001, op. cit.: 33-35). Boaventura de Sousa Santos redigiu, em meados dos anos 80, uma monografia (obra de difícil acesso) sobre os Tribunais de Zona caboverdianos; estes tribunais foram abolidos, formalmente ainda no decurso da 1ª República, , devido aos reputados abusos cometidos.) eram, por via de regra, membros de confiança do Partido único.
Com este quadro, não será surpresa constatar que os caboverdianos não confiassem grandemente (ou não atribuíssem verdadeira legitimidade, se se preferir esta formulação) em pessoas e num sistema que, do seu ponto de vista, tendiam a ser encarados essencialmente como delegados locais do poder central do Estado. Uma espécie de “cultura de resistência” passiva, ainda que informal, parece ter-se ido sedimentando como correlato: e ainda hoje, muitos são os caboverdianos que temem e não confiam verdadeiramente no sistema judicial do Estado
Ou melhor, no Estado tout court. Valerá a pena citar neste particular a perspectivação, muito diferente, de Correia e Silva (2001: 55-56) sobre o relacionamento entre a “sociedade civil” e o Estado caboverdiano, embora este Autor o faça com um ponto de aplicação diferente. Numa definição decerto maximalista, Correia e Silva propôs olharmos “a política”, em Cabo Verde, como a legitimação de uma relação de poder de uma elite sobre uma sociedade, relação essa mediada pelo Estado através de projectos de atendimento social”. Segundo Correia e Silva, “a personificação do poder” (logo o neo-patrimonialismo, tão comum no resto de África) ter-se-ia mantido “sempre larvar” nestas ilhas norte-atlânticas ao longo de todo o período pós-colonial, e isso seria o segredo do indubitável sucesso político e económico conseguido pelo país. E isso dever-se-ia ao crescimento, logo com a 1ª República, de “uma pequena burguesia burocrática”, portadora de um ethos “performante” aliado à necessidade imperativa de “produzir uma imagem política aceitável para os países ocidentais” em nome da urgência de uma efectiva captação de ajuda que viabilizasse o progresso económico daquele arquipélago. Se bem que convidativa, a linha de argumentação não é totalmente convincente. O Autor parece considerar (com alguma circularidade e incongruência) que “os constrangimentos impostos pela necessidade de reprodução social tão prementes neste país-arquipélago” devem ser encarados, por um lado, como o quadro que torna inteligíveis as implicações das “circunstâncias do nascimento” do “processo de estruturação institucional do Estado em Cabo Verde” (a resposta “assistencial” à estiagem de 1968); e, por outro lado, como o enquadramento que nos permite compreender as suas “contradições” (ibid.: pp. 55-56, 58 e 67-68). Descontada, porém, a remissão à “reprodução social” (que me parece pouco mais que a curiosa utilização, no contexto de um bem delineado quadro teórico weberiano, de um conceito funcionalista apresentado sob roupagens terminológicas marxistas) que insiste em fazer, a dinâmica sugerida por Correia da Silva é muitíssimo interessante, ainda que porventura exagerada; e sublinha a existência de alguma cumplicidade entre os caboverdianos e o seu .Estado, facto raro na África pós-colonial., e que muito profundamente se ressentem daqueles seus conterrâneos que se atrevam a “levar a tribunal questões pessoais”
Tanto quanto me foi possível apurar, em Cabo Verde (pelo menos na cidade da Praia), este sentimento de ultraje é com efeito particularmente agudo naqueles casos tidos como sendo do foro “privado”, envolvendo familiares ou vizinhos. O recurso a um Tribunal é, segundo esse quadro de representações, encarado como um “insulto mortal”, que em vez de resolver um conflito ou litígio causará decerto uma sua escalada em flecha.:: fazê-lo, mais do que resolver seja o que for, leva muitas vezes a retaliações violentas, seguidas de uma rápida escalada.
6.1.2. LITÍGIOS E PLURALISMO: UMA FORMA “TRADICIONAL” VISITADA
Como é que então os caboverdianos comuns dirimem as disputas que inevitavelmente eclodem no decurso da sua vida do dia a dia? A solução não é simples. Uma resposta possível é que não as resolvem. Muitos conflitos pura e simplesmente marinam e fervilham, outros vão-se esbatendo à medida que os protagonistas começam a evitar-se estudiosa e mutuamente, outros ainda vêm-se coroados por actos terríveis de violência.
Alguns destes conflitos e muitas destas querelas (e este ponto é particularmente interessante) são obliquamente canalizados na direcção de práticas tradicionais como a possessão espiritual, a feitiçaria e a bruxaria. Práticas essas entendidas no seu contexto e com um vocabulário próprio. De uma forma muito sucinta: tensões familiares são comummente postas em evidência, e de algum modo arejadas, em Cabo Verde, quando um finado (a palavra usada em crioulo para um ser humano morto) camba (entra em) uma das pessoas envolvidas e, a não ser que seja afundado (ibid. em português), começa a falar com autoridade através dele ou dela, por via da “boca” do hospedeiro “vivo”. Litígios regularmente desencadeiam recurso a mestres (bruxos), que tendem a usar os seus poderes e conhecimentos para intervir activamente, e muitas vezes de maneira decisiva, nas tribulações entre as pessoas, quantas vezes redimensionando-as e agravando-as. Não é raro que conflitos, quando “processados”
Traduzo directamente da expressão conflict processing, tão útil quanto cara aos antropólogos jurídicos anglo-saxónicos,. O ponto focal está assim com firmeza posto não na eventual resolução normativa do conflito, mas antes na sua condução formal. segundo as configurações socioculturais locais, envolvam mestres e finados, não verdadeiramente mediadores ou árbitros, apesar de terem um pouco de ambos: não verdadeiramente “de fora”, são muitas vezes também aliados ou inimigos, parceiros e não personagens neutras. Assim, muitas disputas vêem-se menos resolvidas que “processadas” e reordenadas, no sentido em que são tão-só canalizadas para novas trajectórias à medida que adquirem elementos e formatos de uma “agressão mística”.
A padronização desse “processamento” de litígios é visivelmente oeste-africana, mas como parte de um todo densamente salpicado por traços, uma imagética e formas rituais tomadas de empréstimo ao Catolicismo e ao Estado
Ver quadro terminológico 1, que apresento em anexo, em que as próprias expressões utilizadas denotam a importância destas duas fontes para a composição-configuração destes mecanismos alternativos. Fácil se torna verificar que o tópico genérico dos discursos localmente tidos no arquipélago sobre tensões sociais parece ser, no essencial, económico-político-moral; ou relevando, mesmo, de um vocabulário “jurídico” (e das representações nele embebidas) que parecem ter colonizado aquilo que talvez não seja abusivo descrever, tal como atrás referi, como “o imaginário e o vocabulário sociais e políticos” caboverdianos. Como insisti, são os próprios termos crioulos (e portugueses) utilizados que o traem: em Cabo Verde (como aliás, e talvez ainda mais fortemente, em S. Tomé e Príncipe, ver quadro terminológico 2, também em anexo) pagá devê, pagamento, contrato, sentença, castigo, disprezo, xicote, vingança, preso, justiça, mestre, paço do mestre, etc., repito, são termos que obviamente nos remetem para metáforas alusivas a subordinações económicas e à dominação política, a correspondências que aludem a situações e experiências sociais entrevistas em quadros conceptuais por sua vez marcados por uma “juridicidade contratualista” de ecos também curiosa e claramente estatizantes, ou “estadualistas”.. Um duplo sincretismo. Restringindo-me à incorporação “popular” espontânea de um imaginário estatal, há uma outra maneira, mais directa e linear, de exprimir este ponto. Está-se em Cabo Verde longe de uma situação em que haja apenas uma persistente recusa local em aceitar os termos da mediação estadual em tensões sociais que o Estado insiste em retratar como “litígios”: os “princípios alternativos” encontrados pela população do arquipélago têm uma curiosa relação (parcialmente) mimética com as formas impostas pelo Estado, pelo menos ao nível do imaginário “jurídico” que lhes parece servir de “guia cosmológico”. A terminologia utilizada demonstra-o abundantemente.
Tudo isto não é tema que os caboverdianos (e em particular os membros das elites instruídas e ocidentalizadas) apreciem discutir, ou muitas vezes sequer queiram reconhecer. Mas trata-se claramente de um dos “idiomas de poder” locais
Uma boa colectânea de artigos sobre estes tópicos, na sua maioria relativos a sociedades oeste-africanas, pode ser encontrada no volume dos (eds.) J. Comaroff and J. Comaroff (1993)., e é um fenómeno que parece estar em crescimento. As tensões sociais são expressas em termos carregadamente simbólicos, segundo uma lógica cultural que tende a perspectivar disputas e desacatos
O termo “lógica cultural” (cultural logic) foi, neste contexto, pela primeira vez utilizado por John Comaroff e Simon Roberts (1981) , num estudo sobre conflict processing num grupo da África Austral. Em F. Snyder (1981), “Anthropology, dispute processes, and law: a critical introduction”, British Journal of Law and Society 8(2): 141-180, podemos encontrar uma visão geral bastante bem delineada (apesar de teoricamente bastante carregada) das forças e fraquezas da tendência, então em voga nos trabalhos de investigação sócio-antropológicos, de estudar a resolução de litígios (disputes) como dando corpo a mecanismos jurídicos quintessenciais que reflectiriam representações socioculturais implícitas. como sendo indissociáveis das interacções diárias, dos sentimentos interiores de cada um dos actores sociais, e da ideia subjacente de que o “poder”, a “potência”, ou o “conhecimento” são recursos escassos, para cujo controlo as pessoas competem (por vezes violentamente) umas com as outras. Apesar da sua tão famosa crioulidade, ou talvez melhor como um seu ingrediente essencial, está claramente instalada em Cabo Verde, como seria aliás de esperar, uma sociedade oeste-africana
Esta conclusão é iniludível se compararmos estes factos, por exemplo, com os vários casos oeste-africanos discutidos em R. A. Austen (1993), “The moral economy of witchcraft: an essay in comparative history”, um artigo publicado em (eds.) Jean & John Comaroff, op. cit.: 89-111. Como é óbvio, um copo meio cheio está também meio vazio: a crioulidade caboverdiana significa que está igualmente instalada no território (em todo o caso entre as elites que controlam o Estado) uma sociedade “ocidental”..
6.1.3. UM PLURALISMO MAIS OSTENSIVO: AS COMUNIDADES DE “REBELADOS” DA ILHA DE SANTIAGO
Mas há mais no arquipélago. Uma das unidades, ou parcelas, mais fascinantes da situação de pluralismo jurídico existente em Cabo Verde diz seguramente respeito aos vários agregados residenciais que se encontram dispersos um pouco por todo o território, sobretudo da ilha de Santiago. Trata-se de agrupamentos muito característicos de pequenas comunidades autónomas, que se recusam a aceitar quaisquer interferências por parte do Estado, e que, por conseguinte, a si próprios se intitulam Rebelados
Ou Rabelados, em vernáculo.. As comunidades são integradas por seguidores de agrupamentos politico-religiosos desde meados dos anos 40 “dissidentes” relativamente à Igreja Católica; que se isolaram na sequência de uma reacção generalizada ocorrida em Cabo Verde quando da introdução, nessa época e por um grupo missionário então recém-chegado ao arquipélago (os Padres da Congregação do Espírito Santo), de algumas mudanças litúrgicas nas práticas rituais católicas “tradicionais”
Os Padres da Congregação do Espírito Santo chegaram a Cabo Verde em 1941. Nas palavras de Júlio Monteiro Jr., eram “portadores de um novo estilo de vida espiritual” (1974: 41); vieram substituir um grupo de sacerdotes saídos do célebre Colégio das Missões Ultramarinas de Cernache do Bonjardim, cuja ida para as ilhas datava de 1867. A reacção dos Rebelados ocorreu sobretudo na ilha de Santiago e, aí, no tristemente célebre concelho do Tarrafal. Ao que parece, os Rebelados exprimiam o desencanto sentido como uma clivagem, ou uma distinção, entre os Padres Negros e os novos Padres Brancos, numa referência às cores das batinas de uns e outros. Monteiro usa ainda a expressão “Padres do tipo antigo”, mas não é claro de quem é esta terminologia, se dele se dos Rebelados.. Alvo de repressão imediata e violenta por parte das autoridades portuguesas desse período (diz-se que muitos foram presos, outros mortos, e inúmeros outros expulsos das comunidades em que viviam e exilados para outras ilhas
Segundo Monteiro, alguns dos “cabecilhas e famílias” terão mesmo sido enviados para o “desterro”, e mandados para S. Tomé, “a fim de incutirem verdadeiro temor aos outros” (op. cit.:130-138, e em particular p. 132).), os sobreviventes mais apegados à sua própria marginalização lograram reagregar-se em pequenos núcleos localizados principalmente na ilha de Santiago.
Estes Rebelados foram objecto de um estudo monográfico detalhado e interessante em meados dos anos 70 (1974
Ver, na bibliografia, a referência à obra de Júlio Monteiro Jr. (1974).) e, em 1996 e 1998, a Rádio Televisão Caboverdiana (RTC) produziu sobre algumas das comunidades três longas reportagens de indubitável qualidade. Felizmente conseguimos obter tanto esse livro como cópias dos três filmes. Avistámos também (à distância, por falta de tempo) uma aldeia de Rebelados; e lográmos contactos que nos permitirão, se assim o quisermos, um acesso fácil a pelo menos um desses agrupamentos. Não obtivemos porém, de momento, informações em primeira mão sobre estas curiosas comunidades. Por isso, e pela atipicidade deste caso singular, não iremos fornecer neste Relatório grandes detalhes sobre elas e sobre os Rebelados em geral.
Importa, no entanto, dizer alguma coisa sobre umas e outros. Estes grupos vivem em conjuntos de casas bastante rudimentares, pequenas habitações construídas com telhados simples de colmo (com veemência característica, os Rebelados repudiam de maneira sistemática aquilo que consideram como sinais de desenvolvimento ou modernização). De costas viradas para o Estado caboverdiano, estas comunidades não registam nascimentos nem mortes, escapam ao fisco, e por via de regra os seus membros não frequentam Escolas nem fazem o serviço militar “obrigatório”. A nível político como a nível judicial, gozam também de uma largíssima autonomia, funcionando com órgãos próprios. Um panorama decerto fascinante.
Talvez o mais interessante seja, porém, a atitude de tolerância e bonomia relativamente aos Rebelados evidenciada por todas as autoridades caboverdianas com quem troquei impressões; atitude que, de início, muito me surpreendeu. Haverá, seguramente, para essa postura, várias ordens de razões. Embora se trate de um agrupamento “confessional” e “marginal” (agrupamentos estes que constituem quantas vezes “grupos de alto risco” na perspectiva dos poderes públicos), os Rebelados não são um agrupamento messiânico
Contrastando os Rebelados com os “tocoístas” [sic] de Angola e do Congo e “as testemunhas de Jeová “(!), J. Monteiro sublinhou logo em 1974 que, em sua opinião (e ao contrário do Prof. Ilídio do Amaral), “entre os Rebelados falta, em absoluto, [um] elemento central: entre eles não existem nem profetas, nem messias, nem se faz referência a qualquer idade do ouro” (op. cit.: 78). ou proselitista que tenda pelas suas actividades a pôr directamente em causa a ordem pública do país. Ao que tudo indica, ademais, o tamanho das suas (em qualquer caso exíguas) comunidades está a diminuir. Das conversas que tive com numerosos caboverdianos de todos os estratos sociais, não foi difícil concluir que a pose de desafio e o percurso histórico dos Rebelados os transformaram, aos olhos da opinião pública, numa espécie de “heróis da resistência anti-colonial”
Na monografia citada, Monteiro conta como, nos anos 40, “polícias armados cercaram as casas dos Rebelados cujos moradores foram presos”, após o que foram levados “não [para] a Administração do Concelho ou qualquer outro edifício público, mas [para] a própria residência dos Missionários” onde, refere, terão sido submetidos a “exorcismos” (ibid.: 136). Como Monteiro escreveu, premonitiva e filosoficamente, “a acção policial tem sido dura, deixando, no espírito simples e inculto do povo, profundo ressentimento, como tivemos ocasião de sentir” (idem: 137)., cuja relativa autonomia e sobrevivência importa por isso mesmo salvaguardar. Longe de se tratar de pessoas tidas como de alguma maneira avessas à identidade nacional de Cabo Verde, os Rebelados tornaram-se assim, de certo modo, em modelos simbólicos precisamente dessa mesma identidade
Não deixa de ser interessante, neste contexto, verificar (os filmes da RTC mostram-no) que nalguns dos seus rituais os Rebelados, para além de estandartes religiosos arvorem, ainda hoje, bandeiras do PAIGC! Uma forma emblemática de adesão, ou uma prudente coloração protectiva?, apesar de o serem em versão soft e muito idealizada.
Ainda que seguramente atípicas, as pequenas comunidades de Rebelados que hoje em dia pontilham sobretudo a ilha de Santiago constituem, indubitavelmente, uma das parcelas mais fascinantes de um evidente pluralismo jurídico implantado em Cabo Verde.
6.2. A ADMINISTRAÇÃO PERIFÉRICA DO ESTADO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E AS AUTORIDADES TRADICIONAIS EM ANGOLA
Um segundo exemplo que me parece útil aqui decantar (pormenorizando um pouco aquilo que antes expus, e que de algum modo retrospectivamente lhe poderá agora servir de quadro genérico e preâmbulo) diz respeito à articulação entre, por um lado, a administração periférica do Estado
Para um circunscrição precisa do conceito, cf. João Caupers (1994). De notar que, em Angola, esta administração periférica do Estado tende a ser apelidada, algo confusamente, aliás logo no Capítulo VII, artº 145 da Lei Constitucional angolana, “administração local”, confundindo-se assim implicitamente descentralização com desconcentração (vd. Carlos Feijó, 2001: 141-142). No texto que se segue, tentarei manter clara a distinção entre estes dois processos tão diferentes um do outro. angolano, por outro lado a administração local em formação e, por um outro e terceiro lado ainda, o reconhecimento paralelo de áreas relativamente autónomas de jurisdição de “autoridades tradicionais” em muito do território e sobre uma parte significativa das populações que esse mesmo Estado tutela
Disposições constitucionais desse tipo são comuns em muitos dos Estados vizinhos da África Austral contemporânea desde a África do Sul ao Zimbabwe, passando pela Namíbia e o Botswana. O seu sucesso tem sido variável. Para uma discussão fascinante que inclui uma comparação crítica das dificuldades encontradas, ver B. Hlatshwayo (1998)..
Como irei tentar demonstrar, trata-se de um problema complexo, que põe em relevo vários dos limites políticos da administração do Estado em Angola; para além disso, suscita questões que iluminam a luz fria algumas das incongruências que são inevitáveis em tentativas de compatibilização de ordenamentos normativos quando estes se revelam marcadamente diferentes uns dos outros, tal como iremos verificar que é aqui o caso. Um escolho que os recentes esforços de extensão do controlo estatal às “terras livres de Angola”, até há bem pouco tempo ocupadas pela UNITA, tornam particularmente significativo, actual e urgente. Enquanto no caso caboverdiano anterior me preocupei com perspectivar a análise do ângulo das categorias e conceptualizações localmente entretidas, no caso presente o ponto focal está, ao invés, sobretudo colocado no Estado e em conceitos que visam descrever a sua arquitectura política e administrativa, bem como as condições de uma sua articulação com outras entidades não-estaduais.
Insisti, numa das subsecções da Parte anterior deste curto estudo introdutório (designadamente no ponto 3.1.) que, para tornar mais inteligível a legislação relativa à actividade político-administrativa periférica do Estado, tal como a referente à implantação local autárquica deste (latu senso), assim como para melhor compreender as mudanças e inflexões de ambas, havia que as contextualizar bem. No que se segue, procedo, em conformidade, com um enquadramento (ainda que tão-só a traço grosso) da progressão da produção legislativa pós-colonial em Angola embutida nos dois processos paralelos que identifiquei (a administração periférica do Estado e a administração local que parece despontar), no que diz respeito ao caso angolano pós-colonial.
Repito que, em minha opinião, é precisamente nesse quadro coetâneo que ela se torna mais plenamente inteligível
O meu ponto é, evidentemente, sociológico e não jurídico. Ainda que me pareça (neste como noutros casos) não ser fácil integralmente dissociar estas duas perspectivas: aquilo que está em causa prende-se, pelo menos em parte, com condições de exercício do poder estadual, questão cuja resposta é decerto crucial para quaisquer análises jurídicas interessadas numa factualidade (neste caso política e administrativa) que releve de mais do que de meros ajustamentos e adequações formais de enunciados normativos e comandos uns em relação aos outros.. Deixo para um passo posterior as questões relacionadas com a ambicionada regulamentação estatal de uma articulação de cada um e do conjunto de ambos estes processos com o terceiro termo que identifiquei, as “autoridades tradicionais”. Concluo com uma revisitação de conjunto.
6.2.1. DESCONCENTRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM ANGOLA: UMA PROGRESSÃO EM DUAS FRENTES
No que diz respeito à administração periférica do Estado e à administração local em Angola, vale a pena começar por enquadrar histórica e empiricamente (ainda que aqui o faça de maneira sucinta e tão só indicativa) as principais questões suscitadas com essa reposição em contexto. Esquissar o pano de fundo diacrónico e o sincrónico, por assim dizer.
Desde a independência, o Estado pós-colonial tem vindo a tentar assegurar uma implantação efectiva em toda a extensão do território que tem sob sua tutela. Por vicissitudes de vária ordem (de entre as quais avulta a guerra e a consequente ocupação, por forças não-governamentais ligadas à UNITA, de largas fatias do território angolano, ademais em configurações de geometria variável e relativamente a agrupamentos populacionais em constante movimento e recomposição), essa efectiva implantação nunca foi plenamente conseguida. Mas esforços nesse sentido é coisa que não tem faltado.
Para retratar com maior precisão e fidelidade as várias vias, complementares entre si mas distintas umas das outras, desse empenhamento, podemos servir-nos de dois conceitos directamente importados da dogmática jurídico-administrativa, os de desconcentração e de descentralização
Cf. Diogo Freitas do Amaral (1994: 424-425). Para uma discussão pormenorizada relativa ao caso angolano, vd. Carlos Feijó, 2001, op. cit.: 134 ss. Para um enquadramento mais genérico e detalhadíssimo, cf. João Caupers, 1994, op. cit... A sua utilização permite-nos, neste caso, uma muito útil separação de águas.
Com o intuito de melhor a lograr, é decerto útil começar por um enquadramento geral. A organização administrativa que hoje (estes dados são de finais de 2002) vigora em Angola
Cf. Decreto-Lei n.º 17/99, de 29 de Outubro, que regula a orgânica dos Governos Provinciais e das administrações dos Municípios, ainda hoje (Fevereiro de 2003) em vigor. A matéria vinha regulada anteriormente no estatuto orgânico do Ministério da Administração do Território, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 8/98. Já no ano 2000, dando cumprimento ao n.º 2 do art. 63.º e do art. 64.º do Decreto-Lei n.º 17/99, de 29 de Outubro, o paradigma e o quadro de pessoal dos Governos das Províncias, das Administrações dos Municípios e das Comunas foram objecto de regulamentação no Decreto-Lei n.º 27/00, de 19 de Maio, aprovado em Conselho de Ministros., reticulando território e populações, pode ser descrita, em síntese, da seguinte maneira: existem ao todo, no território reinvindicado pelo Estado angolano, dezoito Províncias. Essas Províncias (as mesmas que existiam quando foi proclamada a independência) subdividem-se em Municípios, de que há em Angola um número total de cento e sessenta e quatro. Dentro de cada Município contam-se as Comunas, havendo ao todo quinhentas e cinquenta e sete dessas circunscrições no território nacional angolano. Dentro destas Comunas, nas zonas urbanas, encontram-se Bairros; para além dos Bairros há, no território, aglomerados populacionais dispersos, situados fora das zonas urbanas, que se denominam Povoações
Tal como nos outros casos que abordo de maneira sucinta neste relatório monográfico, todos os dados que aqui discuto são tratados, em muitíssimo maior pormenor (que inclui uma discussão detalhada de toda a legislação produzida desde a independência em 1975), nos trabalhos de investigação que redigi em resultado de actuação no terreno e que vou referenciando, desta feita em A. Marques Guedes et al (2003b); No texto presente, limito-me a uma contextualização genérica (a traço grosso, como indiquei) das fases sucessivas que identifico. Esta referência consta da bibliografia obrigatória da disciplina de Direitos Africanos. Os meus agradecimentos recaem, neste caso, sobre Carlos Feijó e Ravi Afonso Pereira com quem, em Luanda, no Huambo e em Lisboa, tive a oportunidade de discutir e ponderar em pormenor estas e outras questões afins; no Huambo, todos aprendemos com o notável Dr. Paulino Máquina..
O Estado pós-colonial angolano está firmemente sediado em Luanda. Mas desde o seu alvor têm sido gizados esforços para uma desconcentração dos poderes de que constitucional e legalmente goza, por via de uma sua implantação-extensão a níveis locais. Mais ambiciosamente, tem sido prevista uma verdadeira descentralização de alguns desses poderes, por via do reconhecimento-criação de entidades locais “autárquicas”.
A cronologia pós-colonial dos processos de desconcentração e descentralização verificado em Angola é interessante: grosso modo, a evolução das coisas parece seguir linhas políticas atidas às duas formas sucessivas escolhidas para o Estado, a da 1ª e a da 2ª República
Passo deliberadamente por cima do primeiro diploma que procurou, durante o período de transição, estabelecer princípios organizacionais do Estado no que respeita à divisão administrativa do território. Refiro-me à Lei Fundamental de Angola, de 30 de Junho de 1975. Isto porque, apesar de aqui se procurar afirmar o princípio da descentralização administrativa, tendo em vista a participação de todos os residentes na consolidação dos órgãos da administração regional e local, a verdade é que os novos corpos administrativos (para a Província, a Comissão Provincial; para o Concelho, a Comissão Local; para a Comuna Urbana a Comissão Urbana e para a Comuna Rural, a Comissão Rural (cf. art. 131.º) não se traduziam na observância prática daquele princípio constitucional. Antes pelo contrário. Com efeito, o Governo era representado em cada Província e em cada Concelho, respectivamente, por um Comissário Provincial e por um Comissário Local, entidades que eram nomeadas sob proposta do Ministério do Interior. Note-se, por outro lado, que esta Lei Fundamental a que me tenho vindo a referir nunca chegou a ser aplicada. Os órgãos nela previstos não foram preenchidos; as eleições não foram realizadas; e o país mergulhou numa guerra. Pouco tempo depois, os Acordos de Alvor foram suspensos pelo Governo português (através do Decreto-Lei n.º 458-A/75, de 22 de Agosto). Em Novembro desse ano, Angola tornou-se independente.. A sequência genérica é instrutiva. Depois de um longo período, o da colonização de Angola por Portugal, marcado por uma muito vincada concentração e por uma centralização que se foram esbatendo nos seus últimos decénios, em processos lentos e inconclusivos a que a 1ª República pós-colonial não só não deu continuidade mas antes fez esmorecer de maneira abrupta em nome da doutrina do centralismo democrático
Encarado o processo em termos de uma menor duração, não sem curiosos avanços e recuos, para além da lentidão e da inconclusividade que partilhou com o período colonial terminal. Também nisso a Lei Constitucional da República Popular de Angola, de 11 de Novembro de 1975 poderá causar alguma perplexidade. É que, em clara contradição com o dogma do centralismo democrático de inspiração marxista-leninista, o primeiro texto constitucional da Angola pós-colonial veio prever invocações da unidade, da descentralização e da iniciativa local como princípios orientadores da administração local do Estado e da administração local autárquica (cf. art. 47.º). Para além da divisão administrativa do Estado em circunscrições, designadamente em Províncias, Concelhos, Comunas, Círculos, Bairros e Povoações (art. 46.º), consagrava-se paralelamente a criação de autarquias locais, dotadas de personalidade jurídica, e gozando autonomia administrativa e financeira (art. 51.º). Dada a contradição patente, este figurino foi sol de pouca dura. O legislador ordinário angolano deu execução à Lei Constitucional aprovando uma Lei que consagrava o centralismo democrático, concretizado na figura da “unicidade do poder” e na da “dupla subordinação”. Tratou-se da Lei n.º 1/76, de 5 de Fevereiro, a Lei dos Órgãos do Poder Popular. Assim, o art. 54.º vinha esclarecer que “os Comissários nomeados para as Províncias e para os Municípios são órgãos de poder local e de Administração e representam o Governo nas suas respectivas Circunscrições”. De não menor importância era o enunciado no art. 57.º, que dispunha que “no exercício das suas funções, os órgãos do poder local e da Administração [...] actuam em estreita coordenação com as organizações de massas do MPLA-Partido do Trabalho”. O elo mais fraco cedera. Com este diploma as famigeradas “autarquias locais” da Lei Constitucional foram substituídos por mais consentâneos “órgãos do Poder Popular”, e todo o processo evoluiu no sentido de uma muito marcada centralização administrativa., desde a “transição democrática” de inícios dos anos 90 têm sido reatados os esforços incipientes para as realizar. Incipientes mas não inteiramente vazios de conteúdo.
E esforços não levados a cabo de forma homogénea. O Estado secundo-republicano tem-se desdobrado, por um lado, em tentativas sistemáticas de lograr alguma desconcentração administrativa
Mesmo antes da 2ª República, já a Lei de Revisão Constitucional de 1980, de 23 de Setembro, tinha como principal objectivo a criação de órgãos eleitos do Poder Popular, nomeadamente a Assembleia do Povo e as Assembleias Populares Provinciais (art. 64.º). Esta nova filosofia constitucional foi concretizada pela Lei n.º 7/81, de 4 de Setembro (LOLE), que teve o mérito de reunir, num só diploma, todas as matérias atinentes aos órgãos locais do Estado. Em boa verdade, não se tratou porém, nem de descentralização por serviços “impura” ou “imperfeita”; nem foi verdadeiramente legislação que se esgotasse num meio caminho entre a desconcentração e a descentralização administrativa. Do que se tratou foi de canalizar a necessidade, sentida pelo centralismo democrático, de assegurar que certos assuntos ou matérias viriam a ser tratadas e decididas a nível local, enquadrando-se assim naquilo que foi apelidado de “autonomia imperfeita administrativa na dependência política”. Esta Lei veio depois a ser complementada pela Lei n.º 21/88, de 31 de Dezembro, para dar resposta à necessidade de, a par de órgãos executivos das Assembleias Populares, i.e., órgãos representativos do Governo, os Comissariados como que fazerem as vezes de verdadeiros entes da administração local.; tem-no feito através de um processo de definição de circunscrições territoriais onde os vários Ministérios executam a política do Governo em porções geográficas mais pequenas através das suas dependências a nível da Província, do Município, da Comuna e do Bairro ou Povoação: trata-se, em qualquer caso, de serviços na dependência directa dos serviços centrais. Por outro lado, pelo menos ao nível das declarações de intenção, tem manifestado disposto a progredir na via de uma descentralização efectiva dessa administração estadual de pessoas e território
Enquanto a primeira Lei Constitucional do período democrático, a Lei n.º 12/91, de 6 de Maio, não trouxe (ou, pelo menos, não trouxe de maneira directa) nada de novo no plano da divisão do território, i.e., da organização administrativa do Estado e da sua implantação a nível local, já a segunda, a Lei n.º 23/92, de 16 de Setembro, representou uma viragem e ruptura com o sistema anterior. Ela veio, expressamente, consagrar, na Angola pós-colonial, um Estado unitário descentralizado e desconcentrado. Não quero com isso dizer que esta “separação de águas”, plasmada de forma cristalina pelo legislador constituinte angolano, quando este previa, no art. 145.º, que “a organização do Estado a nível local compreende a existência de autarquias locais e de órgãos administrativos locais”, tenha obtido qualquer ressonância na prática administrativa. Como insisto no texto, o princípio descentralizador ficou até hoje longe de ser concretizado, fosse de que maneira fosse, pelo legislador ordinário., como expressão de um professado empenhamento num eventual processo de autarquização a nível local. Com uma dose de ironia, poder-se-ia afirmar que tudo se tem passado como se, no período pós-colonial, as elites que em Angola controlam o Estado têm vindo a manifestar uma maior disposição para uma extensão eficiente do seu poder do que uma qualquer disponibilidade para uma sua partilha. A progressão normativa assim parece sugerir.
Seria todavia arriscado prescindir de uma mais cuidada contextualização da lógica que subtende estes esforços, se os quisermos bem compreender. Os ritmos do duplo processo de descentralização e de desconcentração evidente em Angola não têm sido regulares, nem podem ser confundidos. Mas a tendência para a intensificação de ambas, pelo menos a nível constitucional, não deixa margem para dúvidas
Note-se que o grau de “descentralização” operado pelo legislador ordinário equivale, em larga medida, ao seu grau de cumprimento dos preceitos constitucionais “descentralizadores”. Hoje, e conforme resulta do Decreto-Lei n.º 17/99, de 29 de Outubro, ao lado de uma Administração Central, o aparelho do Estado angolano encontra-se arvorado em quatro níveis de circunscrição territorial. Aquilo a que se convencionou chamar de Administração Periférica do Estado. Repito: trata-se de circunscrições territoriais onde os vários Ministérios executam a política do Governo em porções geográficas mais pequenas através das suas dependências a nível da Província, do Município, da Comuna e do Bairro ou Povoação. Estamos, em qualquer caso, perante serviços desconcentrados na dependência directa dos serviços centrais: podendo falar-se por isso, ainda, em “administração directa do Estado”. A Lei Constitucional não se fica por aqui na afirmação da importância que a autonomia local, enquanto pilar de um Estado de Direito democrático assume para o legislador constituinte. Este reitera a existência daquilo a que podemos chamar um dever Constitucional de legislar, uma espécie de prescrição médica para tratamento permanente que o farmacêutico, a dada altura, recusa aviar. Cf. arts. 145.º e ss.. Estamos perante aquilo que a dogmática jurídico-constitucional designa como Untermassverbot ou de “proibição do défice”. Com efeito, segundo o critério da densidade normativa, o legislador fica obrigado na medida daquilo que seja materialmente determinável a partir dos preceitos constitucionais. J. Gomes Canotilho (2002: 1158-1159) refere-se ao carácter determinado das tarefas nas regras constitucionais impositivas. Numa palavra: o grau de vinculação do legislador face à Constituição será tanto maior quanto maior for a densidade normativa dos preceitos constitucionais. Cf., para uma abordagem de conjunto sobre a matéria, J. C. Vieira de Andrade, 2001.. Nem, aliás, a sua muito diferente concretização in action. Estes factos são muitíssimo reveladores. E não podem deixar de lançar dúvidas sobre interpretações instrumentais precipitadas. O desfazamento temporal que os dois processos exibem é significativo. A própria assunção programática de um projecto desconcentrador e descentralizador a nível constitucional não pode ser desconsiderado.
Vale a pena esmiuçar a sua progressão com algum pormenor suplementar para o pôr em relevo, e a par e passo fazer sobressair outras condicionantes que actuam sobre ambos e que convergem para a sua dissonância mútua. Não é árduo verificar que em Angola, pelo menos desde a independência, foi tendo lugar uma progressiva desconcentração político-administrativa embora, como vimos, esse processo não tenha sido linear e tenha antes oscilado consoante o quadro político vivido e a menor ou maior apetência (uma apetência, como iremos ver, com múltiplas causas) para a absorção de poderes pelo aparelho central do Estado pós-colonial.
Reiterando aquilo que antes foi dito: numa primeira fase, porventura em parte como expressão-repercussão da ideologia dominante numa 1ª República mais apegada ao dogma “centralista democrático”, o Estado central guardou para si, em Luanda, a larga maioria dos poderes, na prática desconcentrando muito pouco. Em parte fê-lo todavia também por falta pura e simples de pessoal e de capacidade logística. Como aconteceu em muitos outros Estados africanos recém-independentes, sobretudo se expostos a situações centrífugas de guerra ou insurgência, ou de perda de quadros e de know-how organizacional (e de tudo isto Angola padeceu de maneira agudíssima), no país o grosso do controlo estadual tendeu a ser exercido à distância, a partir de medidas e decisões tomadas na capital.
Na 2ª República a situação iria mudar: com a “transição democrática” depressa se verificaram em Angola passos rápidos na direcção de uma desconcentração dos poderes estaduais exercidos a nível regional e local. Novos quadros, disponívies para o provimento de lugares criados a nível regional e local, tinham entretanto sido preparados. Alguma aprendizagem técnico-administrativa fora conseguida e um módico de capacidade logística tinha no intervalo sido adquirido. É certo que a desconcentração empreendida não contemplou, de maneira homogénea, todo o território nacional, como é fácil de compreender se nos lembrarmos que nos anos 90 se assistiu, em Angola, a uma séria deterioração da situação político-militar, designadamente com a perda de controlo, pelo Estado, de muitas das cidades do país. É também verdade que, para muitos angolanos, estes processos de desconcentração dos poderes estaduais exercidos a nível regional e local não foram suficientemente longe, muito caminho havendo ainda para andar no sentido de um desejável esbatimento da primazia hegemónica das estruturas estatais instaladas em Luanda. Mas não há dúvida de que, uma vez materialmente tornados possíveis, eles foram encetados.
Muito diferente foi aquilo que se passou no que toca a uma descentralização. Não se pode efectivamente falar de descentralização em Angola, nem mesmo hoje em dia, em plena 2ª República. Não quer isto dizer que não tenha havido, pela parte do Estado, expressões de uma intenção clara de levar para a frente este outro processo. Pelo contrário, tais expressões têm sido comuns, sobretudo no que respeita aos projectos formulados em relação a algumas regiões do país. Mas têm-se revelado pouco eficazes.
Quais os seus pontos de aplicação? A descentralização tem sido uma intenção que, em Angola, se tem vindo a delinear como devendo contemplar duas frentes maiores: a concretização do imperativo constitucional de “autarquização” do território, e a instituição, no país, de um verdadeiro “poder local”. A par e passo tocarei estas duas frentes de descentralizações, bem como a ligação entre elas.
Antes disso, importa porém introduzir um terceiro termo na nossa equação: as “autoridades tradicionais”. O que insere, na nossa análise, um muitíssimo maior grau de complexidade. De facto, a progressão administrativa pós-colonial em Angola não tem sido simples. De par com, por um lado, o esbatimento na concentração de poderes estaduais que até há bem pouco tempo fora habitual em Angola e, por outro lado, a expressão de uma intenção, se bem que todavia não concretizada, de uma efectiva descentralização político-administrativa, verificam-se desde inícios dos anos 90 no país alguns esforços de dar corpo a um conjunto muitíssimo mais inovador de iniciativas que visam o reconhecimento-integração, no sistema de organização administrativa nacional, das chamadas “autoridades tradicionais”. Esforços esses que estão apoiados numa disposição constitucional explícita que, com o fim da guerra civil, se intensificaram rapidamente. E que, embora se possam inscrever no âmbito de um processo genérico de descentralização autárquica “normal”, dele se distinguem com clareza tanto pela variabilidade que implicam (de acordo com as características político-organizacionais da entidade “tradicional” em causa) quanto pelo tipo de questões que suscitam.
Por outras palavras: em simultâneo com a desconcentração e a descentralização, tem-se verificado o esboço de um crescendo no reconhecimento, pelo Estado angolano pós-colonial, de “entidades políticas tradicionais” dotadas de algumas características autárquicas próprias
Convém aqui precisar que uso esta expressão consciente de que ela fica, ao mesmo tempo, aquém e para lá do sentido e alcance que é semanticamente habitual. Por um lado, não nos podemos esquecer que a autarquia pressupõe um sentimento de pertença a uma comunidade política cuja linha divisória entre o “público” e o “privado” tem uma localização sui generis. Por outro lado, trata-se do exercício de um poder que excede os muros da autarquia, no sentido de concentrar em si funções próprias da máquina estadual, como legislativa e a jurisdicional. Parece-me, em todo o caso, simulaneamente útil e inócua a utilização da expressão. e variáveis caso a caso. Embora uma tal equação com três termos viesse de trás, todavia, só com a evolução da guerra em termos favoráveis ao Governo se veio a tentar um primeiro esboço de uma sua concretização conjunta efectiva. Como seria de esperar, o processo foi (e continua a ser) moroso.
6.2.2. A ADMINISTRAÇÃO PERIFÉRICA, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E AS “AUTORIDADES TRADICIONAIS” EM ANGOLA: UM DESDOBRAMENTO PARALELO?
Mantendo os olhos nos desenvolvimentos ocorridos nos últimos anos, revisitemos então aquilo que foi dito, desta feita com uma maior resolução de imagens. E façamo-lo trazendo a progressão até ao presente.
A nova orquestração do aparelho do Estado no território nacional angolano sofreu alterações de relevo com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 17/99, de 29 de Outubro
A matéria vinha regulada anteriormente no estatuto orgânico do Ministério da Administração do Território, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 8/98. Já no ano 2000, dando cumprimento ao n.º 2 do art. 63.º e do art. 64.º do Decreto-Lei n.º 17/99, de 29 de Outubro, o paradigma e o quadro de pessoal dos Governos das Províncias, das Administrações dos Municípios e das Comunas foram objecto de regulamentação no Decreto-Lei n.º 27/00, de 19 de Maio, aprovado em Conselho de Ministros.. É este o diploma que ainda hoje nos diz qual a forma pela qual o aparelho do Estado se organiza. Ao lado de uma Administração Central, o Estado angolano pós-colonial encontra-se arvorado em quatro níveis de circunscrição territorial: aquilo a que se convencionou chamar de Administração Periférica do Estado
Cf. João Caupers, Administração Periférica do Estado – Estudo de Ciência da Administração, Lisboa, 1994.. Trata-se de circunscrições territoriais onde os vários Ministérios executam a política do Governo em porções geográficas mais pequenas do território do país, através das suas dependências a nível da Província
Existem ao todo 18 Províncias. São elas: Bengo; Benguela; Bié; Cabinda; Cunene; Huambo; Huila; Kuando Kubango; Kwanza Norte; Kwanza Sul; Luanda; Lunda Norte; Lunda Sul; Malange; Moxico; Namibe; Uige; Zaire., do Município
É 164 o número de Municípios espalhados pelas diversas Províncias angolanas., da Comuna
É 557 o número de Comunas espalhadas pelos diversos Municípios. e do Bairro ou Povoação
Cf. art. 55.º da Lei Constitucional.. Estamos, em qualquer caso, perante serviços desconcentrados na dependência directa dos serviços centrais: podendo falar-se por isso, ainda, em “administração directa do Estado”
Como foi sublinhado por Carlos Feijó, 2001, “[o]s órgãos administrativos locais desconcentrados não gerem nem administram interesses próprios das comunidades locais e não são órgãos representativos das populações locais”. Cf. Problemas actuais do Direito Público Angolano – Contributos para a sua compreensão, p. 70.. Deixo à margem a questão de saber se com a entrada em vigor deste Decreto-Lei se deu cumprimento ao imperativo constitucional de descentralização e desconcentração administrativa que vem previsto na Lei Fundamental, no seu art. 54.º, al. e).
O mesmo preceito constitucional indica, ao mesmo tempo, a autonomia local
A Lei Constitucional não se fica por aqui na afirmação da importância que a autonomia local, enquanto pilar de um Estado de Direito democrático assume para o legislador constituinte. Este reitera a existência daquilo a que podemos chamar um dever Constitucional de legislar, uma espécie de prescrição médica para tratamento permanente que o farmacêutico, a dada altura, recusa aviar. Cf. arts. 145.º e ss.. Estamos perante aquilo que a dogmática jurídico-constitucional designa como Untermassverbot ou de “proibição do défice”. Com efeito, segundo o critério da densidade normativa, o legislador fica obrigado na medida daquilo que seja materialmente determinável a partir dos preceitos constitucionais. J. Gomes Canotilho fala de carácter determinado das tarefas nas regras constitucionais impositivas em Direito Consitucional e Teoria da Constituição, 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2000, pág. 1136. Numa palavra: o grau de vinculação do legislador face à Constituição será tanto maior quanto maior for a densidade normativa dos preceitos constitucionais. Cf., para uma abordagem de conjunto sobre a matéria, J. C. Vieira de Andrade, 2001, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2ª. edição, Coimbra. como princípio pelo qual os órgãos do Estado se devem organizar e funcionar. Quanto a esta, pode-se desde já adiantar que a sua recepção pelo legislador tem sido problemática, não se antevendo em Angola, por ora, qualquer grande passo no sentido da sua eventual implantação
Perspectivá-lo contra o seu pano de fundo histórico é revelador. É certo que, em relação ao poder local, a Comissão Constitucional aprovou princípios como “a autonomia local e a descentralização e desconcentração administrativa e financeira no quadro do Estado unitário visando o exercício harmonioso do poder e a promoção e consolidação da unidade nacional” bem como “a eleição por sufrágio universal, livre, directo, secreto, igual e periódico [...] dos órgãos representativos do poder local”, só que, em nosso modo de ver, não estamos perante nenhum progresso no sentido da plena consagração do poder local. Porquê? Desde logo, porque não há nenhuma inovação naquilo que será a nova redacção da Constituição de 1992 (com efeito, todos estes princípios já anteriormente tinham dignidade Constitucional). Por outro lado, nada garante que, à imagem do que sucedeu desde 1992, a inércia do legislador não continue a adiar sine die a concretização das opções constitucionais. Mesmo em relação à desconcentração dos órgãos do Estado, o legislador ficou muito aquém do que se lhe impunha. Depois de enumerar os vários diplomas que densificam as competências desconcentradas sobre o regime financeiro, a saber: o Decreto n.º 6/95, de 7 de Abril, Despachos Conjuntos n.º 29/96, de 8 de Maio e n.º 38/96, de 29 de Março, no Decreto-Executivo n.º 80/99, de 28 de Maio, no Decreto-Executivo n.º 30/00, de 28 de Abril e Decreto n.º 11/95, de 5 de Maio (sobre investimento público), Vergílio Pereira considera “esta legislação insuficiente para esvaziar a excessiva centralização administrativa e para o que se pretende com um processo de desconcentração profunda, [sendo] praticamente inexistente para a efectiva institucionalização do poder local”. Cf. O poder local e o desenvolvimento, in Conferência Internacional – Angola: Direito, Democracia, Paz e Desenvolvimento, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2001, p. 320. Na mesma linha de raciocínio, e apesar do aventado no plano político, Rui Ferreira queixou-se da falta de um “processo gradual de autarquização”. Quando lhe perguntámos se ele conseguia periodizar esse processo em curto, médio e longo prazo, o Professor respondeu-nos, com alguma graça: “eu tenho uma ideia sobre o curto; já devia ter começado”. Já o Presidente da República se colocou ao lado daqueles que têm vontade política para caminhar no sentido da concretização da orientação Constitucional ao criar, pelo Despacho n.º 7/00, de 17 de Novembro, uma Comissão Técnica, sob a coordenação do Ministério do Território e integrada por individualidades destacadas em vários domínio (desde geógrafos a arquitectos e juristas). Trata-se da Comissão Técnica para a divisão político-administrativa, que tem como tarefa estudar a divisão actual do território e propor novas alterações, parametrizadas pela consagração constitucional da descentralização administrativa e da autonomia local.. Poucos passos têm efectivamnte sido dados em Angola no sentido de uma qualquer decentralização político-administrativa.
Em todo o caso nem tudo tem estado parado nessa frente. Com a paz e o acesso governamental a todo o território e a toda a população, tudo indica haver uma nova disponibilidade para encetar esse tão protelado processo de descentralizar a administração estadual de Angola. Em Fevereiro de 2002, o Conselho de Ministros angolano aprovou um “plano estratégico” sobre a desconcentração e descentralização administrativa num país ao que parece finalmente pacificado. Trata-se de um documento em que se adoptam linhas para uma relativamente célere evolução política, administrativa e legislativa da administração ao nível local, nos seguintes termos: por um lado, foi adoptado um princípio de gradualismo nos termos do qual se cuidará primeiro de uma fase de desconcentração administrativa (que deverá durar mais ou menos 2 ou 3 anos), seguir-se-lhe uma fase de descentralização administrativa e a institucionalização das autarquias locais (num intervalo de mais ou menos 4 ou 5 anos), salvo se, antes desses períodos, algumas circunscrições administrativas se revelarem em condições para, mais cedo, se verem dotadas, caso a caso, de autarquias locais.
Por outro lado, foi adoptado um princípio de transitoriedade funcional, em cujos termos as funções exercidas pelos actuais órgãos locais do Estado (desconcentrados localmente) deverão ser transferidas para os órgãos autárquicos na fase da descentralização administrativa. O momento oportuno da passagem da fase da desconcentração para a descentralização administrativa será determinado pelo Parlamento e obedecendo ao princípio do gradualismo nos termos do qual deverá ver-se determinada, por Lei, a oportunidade da institucionalização efectiva das autarquias, o alargamento das suas atribuições e o doseamento da tutela de mérito. Caberá, também, ao Parlamento determinar a antecipação de acções de uma e outra fase.
Muitíssimo mais complicado se irá, no entanto, decerto revelar, ou traduzir, o desdobramento simultâneo de áreas de jurisdição “paralela” de “autoridades tradicionais” em Angola. Não se trata, apenas, de temer pelo futuro, tendo em mente a inextricabilidade de problemas (tanto técnico-jurídicos como políticos) que não deixarão certamente de ser suscitados pela simultaniedade de três frentes de alterações. Apesar de uma preocupação a esse nível ser compreensível: a introdução de um terceiro grupo de variáveis irá seguramente dificultar enormente tanto a conceptualização como a implementação das inovações programadas, sejam elas quais forem. É muito mais do que isso.
Como iremos ter oportunidade de verificar, o carácter não-estadual das “autoridades tradicionais” pode vir a criar problemas político-administrativos de fundo, a vários níveis e em vários planos, que poderão pôr em cheque, não só a governabilidade, como até a própria legitimidade, do Estado pós-colonial em Angola
É certo que, ao submeter-se a um processo de reconhecimento pelo Estado (incluindo uma submissão, simbólica e pecuniária a este), as autoridades passam de algum modo de “tradicionais” a criações modernas desse Estado. Mas isso é apenas verdade da perspectiva do Estado e do seu Direito: nada nos garante que essa submissão ao “poder público” seja assumida pelas autoridades elas próprias. O que, para antecipar um pouco as minhas conclusões nesta subsecção deste estudo, faz eco das preocupações sugeridas em termos gerais por Joel Migdal (2001: 125), quando este nos alertou (com África em mente) para o facto de que “the meeting grounds of states and other social forces have been ones in which conflict and complicity, opposition and coalition, corruption and cooperation have resolved the shape of countrywide social and political changes. They have determined whether domination is integrated or dispersed, as well as the varying contours of integrated or dispersed domination”..
6.2.3. REPRESENTAÇÕES DUALISTAS: ENTRE A CULTURA E O PODER
Se repostas nos seus contextos concretos, as justificações-fundamentações para os desdobramentos paralelos dos três termos da equação (chame-se-lhe isso) que enumerei são simples de elucidar. Para além de algum instrumentalismo, o que manifestamente tem estado em causa em Angola, neste plano, é uma mistura saborosa de um novo e saudável realismo político-administrativo com persistentes e mais velhas representações nacionalistas.
Desfiar os Leitmotifs do Estado angolano no processo (ou melhor, os daqueles que nele detêem o poder) não é difícil. Uma das suas motivações é clara e assumidamente político-pragmática e está relacionada tanto com a fraqueza e a pouca capacidade administrativa que na Angola pós-colonial têm sido tão manifestas como com a crise de legitimidade com que depara o controlo estatal. Como vimos, o Estado angolano está longe de ter conseguido uma efectiva e homogénea penetração de todo o território e de toda a população que, nominalmente, tem como função tutelar. As insuficiências a estes níveis podem ter tendência a diminuir com o advento recente da paz; mas, por outro lado, tornaram-se mais visíveis nos últimos anos com a liberdade de expressão e os processos, ainda que incipientes, de formação de opiniões públicas locais, regionais, e nacionais. Foi essencialmente sobre as “autoridades tradicionais” (ou seja, sobre os vários tipos de dignatários que, caso a caso, foram assumindo tais funções) que a manutenção da ordem social recaíu, durante o longo intervalo desde a independência, sobretudo nos territórios ocupados pela UNITA, ou naqueles em que por razões logísticas (ou como resultado de outras prioridades estratégicas) estiveram fora da alçada político-administrativa estadual
Não muito longe desta posição parece estar Boaventura de Sousa Santos (2003, op. cit.), que em relação ao muito diferente caso moçambicano asseverou: “a nosso ver, a maior visibilidade das autoridades locais está [em Moçambique] relacionada com a fraqueza do Estado por duas vias principais: pela incapacidade administrativa do Estado e pela perda de legitimidade do poder estatal”. Concordo ainda com B. De Sousa Santos quando este afirma que “a questão decisiva [com o reconhecimento da “presença” e “actuação” destas autoridades no “tecido administrativo”] é a de saber até que ponto a partilha do controlo administrativo envolve a partilha do controlo político”. É precisamente nesse espaço problemático que ancoro as dúvidas com que termino a presente secção deste estudo introdutório..
No entanto, estes considerandos político-pragmáticos, como lhes chamei, não contituíram seguramente a única motivação do Estado em Angola para permitir e incentivar uma maior visibilidade das “autoridades tradicionais”. Uma vez assumidos os constrangimentos materiais existentes e a sua evolução na Angola pós-colonial, torna-se bastante transparente a lógica da progressão que tem tido lugar. Sobretudo se tomarmos em linha de conta as invocações de “africanidade” e de “autenticidade tradicional” que a UNITA tem vindo a fazer suas, designada, mas não somente, na sua principal área de implantação, o Planalto Central: precisamente uma das regiões de Angola em que estão estabelecidas “autoridades tradicionais” mais vigorosas e incontornáveis.
Invocações de africanidade não caem em saco roto, numa Angola que disso se orgulha. E por muito que os seus conterrâneos urbanos professem desprezá-las, as “autoridades tradicionais” tendem a ser concebidas pelos angolanos como instâncias “anteriores ao Estado”, cuja legitimidade estaria por isso mesmo ancorada em formas históricas de organização social. Toda a educação nacionalista anti-colonial da 1ª República militou ardorosamente, e com alguma eficácia, no sentido de criar tais convicções. Os processos de formação de uma opinião pública desencadeados pela 2ª República cristalizaram-nas, em mais larga escala.
A recuperação-reconhecimento das “autoridades tradicionais” é, por isso, uma acção de interesse mútuo para o Estado e para os lideres dessas “formas políticas ancoradas na tradição”. Do ponto de vista do Estado angolano, o seu reconhecimento-integração preencherá duas funções: uma extensão da sua própria implantação, ainda que em moldes “indirectos”; e um “retorno” a formas de organização “tradicionais”, manipuladas ou destruídas pelo colonialismo. O preenchimento de ambas estas funções, sobretudo tendo em vista que o formato assumido é o de uma “submissão” das “autoridades tradicionais”, ampliaria a legitimidade do Estado. Do ponto de vista das “autoridades tradicionais” em causa, um reconhecimento-integração preenche igualmente diversas funções, que vão de um potencial aumento da sua implantação efectiva num território e junto a uma população, logrado por meio do suplemento de legitimidade acumulada pela ligação ao Estado, à aquisição dos vários proventos e das diversas “mordomias” que esse novo estatuto lhes concede
Da atribuição de uma viatura todo-o-terreno ao pagamento de um salário regular e ao direito a utilizar um uniforme especialmente desenhado para o efeito. Não será surpresa verificar que cresceu de maneira abrupta o número de pessoas que invocam tal estatuto. De acordo com a documentação oficial, existiriam, em meados de 2002, cerca de 25.000 autoridades tradicionais “registadas” e a receber essas mordomias, em Angola..
Num plano mais geral, também não é difícil entrever o quadro nocional que tornou possível que questões deste tipo viessem acrescentar um previsível grau suplementar de complexidade ao funcionamento da administação estadual angolana. Enunciemo-lo, na sua versão mais comum, a dodiscurso oficial.
O discurso oficial sobre o tema entretido em Angola parece ter dois níveis: um, político-pragmático, ligado a uma intencionalidade política e a uma leitura da realidade social complexa com que depara; e um outro, que manifesta uma pré-compreensão mais profunda dessa realidade social, cultural e histórica sobre a qual se debruça. A nível ostensivo, raciocina-se muitas vezes em Angola em termos “logísticos” e “instrumentais”, mas sempre de acordo com modelizações cujos conteúdos e pontos de aplicação variam em função dos diferentes objectivos e preocupações mantidos por quem entretenha esses discursos e formule as asserções que os compõem.
Nada de muito surpreendente. Interessante será em todo o caso frisar as especificidades dessa dualidade nos discursos angolanos contemporâneos. Já que me parece que aquilo que ela põe em evidência são representações socioculturais profundas, implícitos impensados mas nem por isso menos actuantes.
A regra que subjaz ao “jogo” é simples. Ao nível da pré-formatação de conceitos, vive-se hoje (entre as elites que detêm o poder) uma nítida tensão entre, por um lado, uma ambição político-administrativa “modernizante”, que visa a cobertura geral e hegemónica do território angolano pelo Estado; e, por outro lado, uma muito sensível ânsia nacionalista (que nalguns casos assume feições mais “nativistas” de uma “autenticidade africana” menos sintonizada com os projectos de “modernização” dominantes) que insiste numa retoma das formas políticas “tradicionais”, tidas como “autónomas e espontâneas” (isto é, não influenciadas pela dominação europeia), cuja legitimação é construída pelo imaginário político como um reencontro, política e culturalmente imperativo, com “tradições ancestrais destruídas, ou subalternizadas, vítimas violentas da colonização”. De acordo com essa segunda parcela das pré-formatações que subtendem os discursos dos detentores angolanos do poder, redundaria, no fundo, numa questão de dignidade cultural e política assegurar esse reencontro histórico, reatando com essas “formas tradicionais”.
Muitas das autoridades estatais com quem falei em Angola esforçaram-se por tentar conciliar esses dois pólos, largamente antinómicos, da sua própria pré-formatação, num modelo unificado que permitisse levar a cabo a extensão, por fim político-militarmente possível com a derrota da UNITA (mas um modelo que, tal como no período imediatamente posterior á independência, depara com inúmeras dificuldades “logísticas”, nomeadamente em termos de organização e de recrutamento de pessoal), da administração do território e das populações do país pelo Estado. E pressente-se que a tensão, que é tão inevitável quão difícil de neutralizar, entre essas duas forças antagónicas
Para uma perspectiva parcialmente diferente da minha, é útil a leitura do artigo já citado de M. O. Hinz (1995), em que é defendida a possibilidade de uma compatibilização-integração jurídica, desde que “não-hierárquica”, dos dois sistemas de legitimação: o “tradicional” e o “democrático”. Em minha opinião, Hinz atem-se excessivamente, no seu trabalho, a questões técnico-jurídicas de harmonização, perdendo de vista o seu enquadramento político e diacrónico (precisamente as dimensões em que as maiores dificuldades me parecem ser suscitadas)., tem de alguma forma dominado as discussões e a ponderações político-jurídicas que têm vindo a ter lugar.
Antes de me debruçar sobre as implicações disto, vale no entanto a pena determo-nos um pouco no que subtende o jogo desta antinomia difícil, fornecendo-lhe alguma inteligibilidade histórica suplementar. Levar a cabo um pequeno excurso lateral, se se quiser.
Comecemos por trás. Uma das primeiras atitudes, no que toca à África, daquilo que Jan Nederveen Pieterse e Bhikhu Parekh
Jan Nederveen Pieterse e Bhikhu Parekh, 1995: 7. graficamente apelidaram de “cultural decolonizing gestures”, foi sem dúvida a teoria da négritude, desenvolvida em Paris nos anos 30 do século XX por intelectuais africanos francófonos que aí sonhavam com a auto-determinação dos seus povos, personalidades como Léopold Sedar Senghor e Aimé Césaire. Tratava-se da gestação de uma “filosofia” (era o termo usado) que advogava o reconhecimento de uma simultânea alteridade e humanidade dos africanos, uma asserção então tida (entre as elites europeias que pontificavam nos contextos coloniais, pacificados mas efervescentes, do entre-Guerras) como expressiva de uma postura saudavelmente “revolucionária”.
Todavia, a boa recepção destas ideias, mesmo quando elas eram conciliáveis com as ideologias universalistas então vigentes na Europa, tinha limites materiais muito concretos. Limiares que com rapidez a evolução das coisas galgou. Os tempos tinham mudado, e o que antes eram asserções de equivalência cultural, depressa se transformou em invocações “separatistas”. Variações sobre esse tema precursor, essas menos bem recebidas pelas intelligentsias ocidentais oficiais, adoptaram nomes como o de Africanité, autenticité africaine ou African authenticity, e transformaram-se (tanto na África francófona, como na anglófona, como ainda na lusófona) em títulos de programas nacionalistas firmemente anti-coloniais e anti-“neo-coloniais” que muitas vezes se assumiam como vanguardas militantes de experiências socialistas em África.
A adopção deste tipo de posturas, nos anos 50 a 70, intervalo em que emergiu e se afirmou a maior parte dos agrupamentos nacionalistas, propagou-se a numerosos líderes e movimentos irredentistas africanos da mais variada coloração político-ideológica, de Kwame Nkrumah a Mobutu Sese Seko, passando por Julius Nyerere, Jonas Savimbi e Kenneth Kaunda. Porventura potenciadas pela sua apropriação por políticos africanos tidos como “colaboracionistas” e “reaccionários”, muitas foram as críticas internas a este tipo de “gesto”, desde as que insistiam na improcedência de favorecer a libertação cultural e “espiritual”, na prática assim secundarizando a luta económica e política, às que alertavam para os perigos de uma romantização idílica do passado africano pré-colonial, ou àquelas outras que ridicularizavam a veleidade de proclamar uma negritude evidente por si própria.
Cedo em Angola, por exemplo, e perante um MPLA com fortes bases nas comunidades angolanas mestiças e brancas, foi assumida, pela mão autoritativa de Agostinho Neto, uma posição de firmeza contra expressões políticas de “negritude” ou “autenticidade”, insistindo (embora o tivesse feito com alguma ambiguidade) que não representavam correctamente a realidade empírica da fusão colonial e denunciando-as, para além do mais, como sendo retrógradas. Para o regime angolano da 1ª República (pelo menos oficialmente) posturas deste tipo redundavam em pouco mais do que numa espécie generalizada de “tribalismo”, que nos termos da “teoria das nacionalidades” local, afim da congénere soviética de pergaminhos estalinistas, tendiam a ser olhadas como tão perigosas como “fraccionistas”.
Curiosamente, os anos 70 e 80, apoiados primeiro na contestação a favor da universalização das liberdades cívicas nos Estados Unidos e depois na crescente agitação anti-apartheid focada no regime em vigor na África do Sul, vieram dar palco a diversos movimentos de afirmação negra, do anódino black is beautiful ao black power, ao muitíssimo mais radical black consciousness propugnado pelo activista sul-africano Steven Biko. Movimentos esses que, pela importância e centralidade política dos contextos de luta (os EUA e a África do Sul, o “último bastião do colonialismo em África”) em que se inseriam (tanto em termos da ordem bipolar, como num sentido humanista menos conjuntural), significaram um reganhar de legitimidade política, pelo menos em meios africanos que se consideravam “de esquerda”, para estas novas tendências político-identitária e de reconhecimento.
Em Angola, o apogeu desta fertilização cruzada situa-se em meados dos anos 80. A tónica dessas novas formulações (a expressão mais plena desta postura foi decerto a do carismático Steven Biko, uma espécie de Doppelgänger “negro”, em sentido literal e figurativo, de Nelson Mandela, expeditamente assassinado, quando já na prisão, pelas autoridades do regime do apartheid) era a da necessidade imperativa de uma afirmação política autónoma e independente dos africanos negros, sem que fossem feitas nenhumas concessões a hipotéticos apoios ou alianças com quaisquer outros agrupamentos “étnicos”. Esse apogeu coincidiu com as viragens prenunciadas no 2º Congresso do MPLA, em 1985, e as primeiras decisões de subalternização da tendência “argelina” (uma alusão tanto à sua cor de pele como à sua passagem por Argel) mais marxista-leninista até então ainda com foros de cidadania plena no partido único no poder, uma “sensibilidade” protagonizada por Lúcio Lara, “Iko” Carreira e Paulo Jorge, por exemplo
Cf. T. Hodges, op. cit.: 79. e, a um nível mais “intelectual”, o poeta António Jacinto.
Para diversos observadores da época, nomeadamente vários dos membros das novas e velhas elites “crioulas” e brancas
D. Birmingham, 2002: 148ss. situados no interior do MPLA, não se tratava de uma coincidência; muitos entreviram antes a mudança como um forte indício de uma fase mais aguerrida de uma velha luta por uma sobrevivência “racial”, cujos antecedentes no próprio interior do partido, alegou-se então, seriam “detectáveis desde os tempos áureos da luta armada”
Vd. e.g. J.-M. M. Tali, 2001, vol. 1: 119-161.. Em consonância, as tensões étnicas subiram de tom em Angola, um processo que continuou pelos anos 80 afora, assumindo várias faces e manifestando-se de múltiplas formas.
Esta dimensão da “etnicidade” (ou de “política de identidade e reconhecimento”) no interior do MPLA é um tema quase tabu em Angola, ao que porventura não será indiferente o facto de o exclusivismo étnico e o “racismo” serem críticas comuns tradicionalmente lançadas contra a UNITA. Nada disto foi objecto de qualquer estudo, pese embora a sua óbvia centralidade para a compreensão dos processos socioculturais subsequentes em Angola.
Os projectos de re-africanização integral da sociedade angolana pós-colonial, para além dos melindres e das dificuldades sociológicas com que tem deparado num país racialmente heterogéneo, em que muitos agrupamentos de não-negros se constituem em elites com alguma profundidade histórica
Cf. J. Dias, 1984, ou D. Birmingham, 1995, 2002: 148-151., esbarram também em condições materiais menos evidentes, limites de viabilidade conceptual. A minha finalidade, no longo comentário que se segue, é a de identificar a natureza de algumas dessas dificuldades conceptuais. Nesse contexto, e no que diz respeito às dificuldades inerentes à ligação das elites angolanas com Portugal, alguma coisa podemos acrescentar, no fundo revisitando as questões de um outro ângulo do que o do senso comum, numa resolução mais microscópica, por assim dizer.
Continuemos, novamente com um enquadramento geral. Como afirmaram Jan N. Pieterse e Bhiku Parekh
Jan N. Pieterse e Bhiku Parekh , 1995, op. cit.: 1)., “conquest and domination may have been perennial in human history, but Western imperialism differs from other episodes of domination” em vários sentidos interessantes que o tornaram num “much more complex and far-reaching process than any previous mode of domination”. À hegemonia nas esferas científica e tecnológica juntaram-se uma clara predominância nas áreas da economia e da política, numa mistura peculiar profundamente marcada por um universalismo programático que se reflectiu em conceitos como por exemplo os de raça, progresso, evolução, civilização, ou desenvolvimento, permeados de forma indelével por aquilo que não será exagerado apelidar de “efeitos de poder”.
A dominação colonial portuguesa em muitos sentidos acrescentou a esses efeitos da hegemonia ocidental geral outros mais, que em muitas instâncias se lhes adicionaram: uma forte tónica religiosa e um marcado sentido de “excepcionalismo” e de “destino manifesto” (para utilizar expressões norte-americanas emprestadas), bem como uma “personalização” das relações de dominação que ia estabelecendo. As configurações que isso assumiu variaram pouco. O colonialismo português foi em muitos casos persistente, como o foi em Angola, em garantir uma implantação local de portugueses e da “cultura portuguesa”, duas coisas concebidas e comunicadas como permanentes; e fez questão, por via de regra, de exercer o seu controlo colonial através de laços (reais ou putativos) de consanguinidade e afinidade que “naturalizaram” essa permanência.
Não é árduo compreender a potenciação que isso significou ao nível dos efeitos de poder a que fizemos alusão. Há porém uma dimensão das suas implicações que por norma negligenciamos.
Mais uma vez, esbocemos um enquadramento genérico. É comum insistir que a dominação colonial ocidental (e a portuguesa nisso não forma excepção) trouxe consigo ideias e valores “modernos”, e ideais como por exemplo os do liberalismo, os da industrialização, ou a ideia ela mesma do Estado. No caso específico da colonização de Angola, as formas discursivas “clássicas” que a intentam descrever concedem sempre, como arenas dessa “transmissão”, instituições como a instrução e a Casa dos Estudantes do Império (cuja centralidade para os movimentos nacionalistas independentistas é invariavelmente acentuada); as elites são, nessas narrativas, retratadas como “correias dessa transmissão”.
Um mínimo de atenção revela porém que a situação foi decerto bem mais complexa. As populações angolanas dominadas não foram seguramente meros receptores passivos de ideologias e sistemas importados “à peça” ou “por atacado”. Sofreram uma “tradução”, no sentido mais forte do termo. Como Pieterse e Parekh
Ibid: 2. insistiram, “values and institutions introduced by colonial rule could not last or even be understood unless they were grafted onto their hospitable traditional analogues”. Isso significou, naturalmente, processos complexos de interpretação e adaptação de ideias, instituições e práticas, tanto pelos colonos como pelos colonizados: os novos valores e instituições introduzidos pelo processo colonial penetraram como que por osmose; mas fizeram-no sempre mediados por uma forte “auto-consciência crítica”, chamemos-lhe assim, resultante das traduções e interpretações levadas a cabo. Sofreram reconfigurações. Muitas vezes, aliás, a dominação colonial não foi exercida sobre toda a população, nem o foi directamente
Cf. J. Herbst, 2000, op. cit.: 58-80..
Não é verdade, pura e simplesmente (sejam quais forem as versões messiânicas destes processo que a mitologia colonial e salvífica portuguesa prefira arvorar), que as tradições e instituições locais angolanas tenham sido destruídas, ou apagadas, pela colonização. Foram antes reformuladas, na maioria dos casos por intermédio da mediação dos próprios africanos, ou pelo menos de membros “co-optados” (quantas vezes por recurso aos processos de “naturalização” a que aludimos) das elites locais.
Da perspectiva de uma enorme parte das populações angolanas “subjugadas”, os colonizadores eram decerto entrevistos como mais um grupo incursor, portador de mais um idioma organizacional e relacional; um grupo ademais em muitos caso visto como um recurso a ser instrumentalizado para benefício próprio no meio sócio-político circundante
E: L. Schieffelin, 1995. Falar, como muitas vezes se fala, de transferências culturais directas e de uma “ocidentalização hegemónica” dos subalternos colonizados significa, por um lado, uma reificação e uma glorificação (ou, pelo contrário, uma demonização) indevidas da dominação colonial que efectivamente teve lugar, e são coisas que por isso tendem a ser enunciadas quase em exclusivo pelos mais fervorosos pró- e anti-colonialistas; para além do que, repetimos, redunda, por outro lado, numa minorização dos conquistados, implicitamente representados como meras vítimas passivas de um novo poder avassalador.
O resultado é conhecido. A imagem decorrente, profundamente enganadora, é a de sujeitos (angolanos ou quaisquer outros ex-colonizados) impotentes e submetidos, que ficariam inevitável e dolorosamente divididos entre uma parte “tradicional” e outra “moderna”.
Todavia, a realidade é bem mais complexa, como aliás seria de esperar tendo em vista a natureza da dominação colonial exercida, os múltiplos canais utilizados, e a participação nela (ambígua mas activa) de muitos dos mais bem posicionados (em termos de legitimidade local) “formadores de opiniões” entre os próprios colonizados. Ao contrário do que advogam as narrativas pró- e anti-coloniais “clássicas”, a resultante não é a criação de uma “esquizofrenia cultural”: é antes uma de fusão, lograda em termos de uma “hibridez cultural” profunda
Vd., eg, H. Bhabha, 1994, ou Z. Bauman, 1999..
O que foi produzido em Angola foi uma hibridização em que se torna extremamente difícil, e em muitos casos mesmo impossível, identificar quais os valores, instituições e identidades que fazem parte do legado colonial de origem estrangeira
Cf. F. Pacheco, 2002, op. cit: 11.. O produto final é uma configuração conceptual (ou “cultural”, se se preferir o termo) generalizada em que não se pode em boa verdade falar de fontes locais e de fontes externas, mas antes apenas em dimensões locais e em dimensões externas de todas as fontes
Vd. M. C. Neto, 2002: 7-8.
Para os actores sociais angolanos envolvidos que estejam apostados em exorcisar as “importações coloniais”, e em redescobrir (para com elas reatar) as formas “tradicionais”, as consequências podem tornar-se angustiantes. Já que, para tornar a citar Pieterse e Parekh
Idem, 3-, “even as colonialism did not involve the imposition of something entirely new and foreign, decolonization cannot consist in discarding what is deemed to be alien. Colonialism evolved a new consciousness out of the mixture of old and new; decolonization has to follow the same route. It requires not the restoration of a historically continuous and allegedly pure precolonial heritage, but an imaginative creation of a new form of consciousness and way of life”. Compreende-se que num contexto nocional deste género, re-africanizar por um retorno puro e simples a um “corpo de tradições” seja pouco mais que uma declaração de intenções
Cf. M. C. Neto, 2002, op. cit.: 8.. Como também se compreende a veemência das reacções de frustração desencadeadas pelas tentativas goradas de conseguir esse retorno em nome de agendas independentistas que advoguem formas exclusionárias de “nacionalismo angolano”.
6.2.4. OS LIMITES DA CONGRUÊNCIA
Uma coisa, no entanto, são as motivações dos actores sociais, outra a realidade político-jurídica nua e crua. Quaisquer que sejam os motivos, ou as justificações esgrimidas pelos seus defensores e independentemente das suas óbvias ressonâncias político-nacionalistas, a verdade é que o processo não deixa de esbarrar com escolhos.
Valerá a pena enumerar algumas das principais frentes de problematização
Boaventura de Sousa Santos (2003), na sua introdução geral ao trabalho já citado sobre “as justiças” em Moçambique, listou como “temas principais dos debates” contemporâneos sobre “tradicionalidade” e “multiculturalidade” naquele país: (i) “a africanidade e as políticas identitárias”, (ii) a “dupla legitimidade do poder e a patrimonialização do Estado”, (iii) “a especificidade das autoridades tradicionais”, (iv) “os limites do [seu] reconhecimento”, (v) a democraticidade das autoridades tradicionais”, e (vi) “a feitiçaria e a gestão multicultural dos conflitos”. Porventura com a excepção do último tópico (cuja discussão resulta certamente, em grande parte, da criação em Moçambique de “tribunais comunitários”, instituições que não têm contrapartida no caso angolano) são também estes os principais temas debatidos em Luanda e nalgumas das capitais provinciais pelos políticos, juristas, cientistas socias e responsáveis por ONGs implantadas em Angola que se preocupam com estas questões. Acrescenta-se-lhes, em Angola, uma recusa “modernista” liminar dessas autoridades, porventura menos representada em Moçambique. que esse desdobramento em duas calhas suscita: a exequibilidade político-democrática de conciliar-integrar entidades não-eleitas, e muitas vezes autocráticas, com outras eleitas e responsabilizáveis por sufragantes que as podem depor; as dificuldades “técnicas” de delimitação de competências de entidades que não só não reconhecem uma separação de poderes semelhante à embutida nas cartilhas democráticas, mas que tendem a não operar sequer distinções claras entre domínios como o jurídico, o político, ou o místico-religioso; ou a incongruência potencial resultante de delimitações-circunscrições diferentes entre o “público” e o “privado”, que não deixará de afligir muitos dos esforços de uma eventual articulação-divisão de atribuições e competências entre estas autoridades e o Estado
A um nível politico, o risco incorrido é.nos ensinado pela experiência histórica. Como escreveu J. Migdal (2001, op. cit.: 128): “in parts of colonial Africa […] the British attempted to extend the scope of the colonial state by incorporating tribal chiefs as paid officials. Many chiefs, for their part, gladly accepted the salary and any other perquisites that they could garner but often ignored the directives from their superiors in the state hierarchy. The demarcation between the state and other parts of society in such instances was difficult to locate and was in constant flux. Chiefs were state officials but sometimes – indeed, many times – simply used their state office and its resources to strengthen their rule as chiefs”..
Podemos enunciar isto de uma maneira alternativa, mais atida ao “jurídico” e aos ideais democráticos de uma Boa Governação que a 2ª República angolana pretende defender. Sem querer generalizar, não será demasiado abusiva a asserção de que as formas político-jurídicas tradicionais africanas têm por regra pouco em comum com um Estado de Direito: nelas, nem a legitimidade dos detentores do poder nem os seus actos estão submetidos ao “império da lei”. Em vez de Constituições, as “autoridades tradicionais” regem-se por um repertório muitas vezes riquíssimo, mas comparativamente pouco diferenciado, de preceitos morais, interpretações e re-interpretações dinâmicas de costumes, provérbios ou adágios. A sua autoridade tende a ser tão difusa como abrangente; mas não deixa por isso de ser imensa. Tudo isto é problemático. De facto, e como escreveu T. W. Bennett
T. W. Bennett. 1998: 16. A citação foi extraída de um muito interessante estudo deste juspublicista sul-africano sobre a contitucionalidade do reconhecimento da autoridades tradicionais na Namíbia e na África do Sul., “the inclusion of traditional rulers in a Constitution dedicated to democracy is a conspicuous anomaly”. Alguns dos pontos de aplicação dessa “anomalia” são fáceis de enumerar.
No que diz respeito às autoridades tradicionais, por exemplo, é de notar que por norma o exercício de funções legislativas não está na dependência de quaisquer sufrágios populares periódicos, antes resulta de regras de hereditariedade. Uma questão que não pode assim deixar de ser colocada é a de eventuais contradições entre estes sistemas hereditários e as cláusulas anti-discriminatórias da Constituição angolana. Poderá, designadamente, uma mulher no quadro das formas políticas “tradicionais” que o Estado reconhece-integra ocupar um lugar de chefia? Em todo o caso, legislações não são uma das características do Direito costumeiro africano.
Também a nível dos poderes executivos, as autoridades tradicionais tendem a ter um controlo pleno (muitas vezes legitimado por via de uma espécie de ligação directa aos antepassados, e cuja harmonização jurídica com o Direito estadual não é simples) na escolha e na distribuição de terras, na alocação de direitos de residência ou em eventuais expropriações, na mobilização de mão-de-obra, e na colecta de tributos e impostos: há poucas normas, nos costumes que na sua actuação as autoridades tradicionais invocam, que regulem o exercício de funções administrativas. Tanto a nível burocrático-normativo como a nível legal ou constitucional, há um claro deficit de checks and balances.
O mesmo pode ser dito, mutatis mutandis, no que toca aos poderes judiciais: tanto na delimitação de jurisdição como no plano dos procedimentos, como ainda no das punições e dos castigos, a actuação das autoridades tradicionais parece dificilmente compatibilizável com o que é legal e constitucionalmente aceitável.
O futuro nos dirá quais as soluções encontradas para os escolhos com que, previsivelmente, irá esbarrar este processo. Mas as questões suscitadas não me parecem ser de fácil resolução. E, por omissão ou por comissão, a progressão do processo político-legislativo angolano na regulamentação destas e doutras questões que esta tensão não deixará de suscitar está seguramente condenada a continuar a dar palco ao conjunto de pré-formatações que subtendem a sua intelegibilidade cultural local.
6.3. LITÍGIOS CONSTITUCIONAIS EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE
Se é verdade que o exemplo caboverdiano que atrás aflorei põe claramente em evidência um curioso e interessante entrosamento do jurídico e do sócio-religioso naquele país africano, e se o exemplo angolano que acabei de abordar é pelo seu lado revelador do tipo de dificuldades e incongruências de fundo suscitadas pelo pluralismo existente, o caso de S. Tomé e Príncipe é paradigmático da relativa (e também curiosa, porque com alguns pontos de aplicação inesperados) inextricabilidade do jurídico em relação ao político e ao sociocultural. No terceiro e último dos exemplos que esmiuço neste estudo-trabalho introdutório, abordarei algumas das questões mais fascinantes que resultam de um decantar detalhado da progressão histórico-política da 2ª República em S. Tomé e Príncipe. Novamente me preocupo com descortinar um enquadramento analítico unitário para a complexidade estrutural manifestada.
O ponto de aplicação do que se segue estará firmemente colocado nos litígios constitucionais tão característicos da 2ª República: não, evidentemente, por os considerar como causas da instabilidade política regularmente sentida nesta fase da vida política pós-colonial do arquipélago, mas visto se tratar de sintomas dela, e sintomas de particular interesse.
O percurso analítico que me proponho percorrer é simples. Aflorarei, um a um e também no seu inter-relacionamento, os dois traços distintivos maiores que enunciei. Em congruência com aquilo que tentei fazer no que diz respeito à resolução-condução de litígios em Cabo Verde, manterei sempre na linha da frente das preocupações que vou tentando equacionar os múltiplos mecanismos de legitimação política que, no arquipélago, subtendem aquilo que me vejo tentado a chamar o regime de funcionamento do sistema.
6.3.1. OS CONFLITOS CONSTITUCIONAIS NO ARQUIPÉLAGO: LINHAS DE FORÇA
Começando pelo pano de fundo: por muito breve que seja a descrição da segunda e mais recente fase (a da 2ª República que sobreveio à transição democrática encetada em 1987 e concretizada com eleições multipartidárias e uma nova Constituição em 1990
Na data de 1987 S. Tomé e Príncipe tornou-se no primeiro Estado africano a esboçar uma transição para o multipartidarismo e uma economia de mercado. Facto esse que parece ter passado despercebido a Michael Bratton e Nicolas van de Walle no seu magnífico estudo político comparativo, publicado em 1997, sobre aquilo que tão graficamente apelidaram de “democratic experiments” e de “regime transitions” que, entre 1989 e 1991 afectaram 48 dos 51 Estados do continente africano. Para uma visão minuciosíssima dos processos políticos pós-coloniais, é imprescindível a leitura da longa monografia de Gerhard Seibert (2001). Para uma discussão de pormenor sobre os conflitos político-constitucionais, ver A. Marques Guedes et al. (2002), sobretudo a terceira e última parte do trabalho de investigação levado a cabo).) da evolução política pós-colonial do arquipélago e micro-Estado de S. Tomé e Príncipe, as regularidades nela encontradas facilmente nos permitem enumerar algumas das características que lhe são transversais. O que é posto em evidência são outros tantos traços distintivos que (embora seja de realçar alguma tendência para uma estabilização progressiva) têm vindo a acentuar os contornos da esfera político-constitucional santomense.
Dois deles saltam à vista, por assim dizer. Por um lado, assiste-se ciclicamente em S. Tomé a uma marcada instabilidade política, um desequilíbrio periódico crónico (talvez a melhor descrição seja a de um equilíbrio instável) que originou crises governativas profundas, e que tem vindo a dar corpo a mudanças abruptas e democraticamente imprevistas de Chefes de Governo das ilhas, dissoluções repentinas da Assembleia Nacional, um perigoso levantamento militar, conflitos institucionais, etc..
Por outro lado, verifica-se em S. Tomé e Príncipe uma fulanização constante e sistemática dos processos políticos. O facto não é novo: no arquipélago, as questões pessoais dominaram sempre a senda política, sobrepondo-se às questões públicas, institucionais ou formais, ferindo ou enfraquecendo incontestavelmente uma eventual acção política prolongada empreendida com “sentido de Estado”. Com o advento da democracia isso tem-se vindo a tornar mais nítido. Desta perspectiva destaca-se, sobretudo, o confronto político-social recorrente entre Miguel Trovoada e M. Pinto da Costa, que aliás começou logo na 1ª República e no âmbito do MLSTP, o partido único de então.
Trata-se de um litígio cuja retoma constante de facto marcou todo o panorama político do jovem Estado equatorial durante os anos 90
Esta curiosa “bipolaridade personalizada” teve porventura o seu canto de cisne com a chegada ao poder do actual Presidente, Fradique de Menezes, e com a sua rápida cristalização nos panoramas políticos de S. Tomé e Príncipe.. Mas é também de salientar a rica coreografia de constante criação e recriação, em S. Tomé e Príncipe, de entidades político-partidárias e forças activas nas arenas formais e informais do arquipélago, sob a égide de personalidades (regra geral membros das elites tradicionais locais
Gerhard Seibert (op. cit.: 439-484), levou a cabo um estudo minucioso das relações de patrocinato e clientelismo políticos (para além de um esboço minucioso e impressionante no seu alcance, das relações de parentesco) entre as várias personagens (na sua larga maioria membros das elites “forras” dos ilhéus santomenses) que se movem nos palcos políticos do arquipélago.) dotadas de marcado poder carismático e por isso com uma notável capacidade de mobilização popular
Por outro lado ainda, e em terceiro e último lugar, assistimos em S. Tomé e Príncipe a uma relativa hegemonia, difícil de abalar e patente sobretudo a nível local e autárquico, do antigo partido único da 1ª República, o (comparativamente) muito bem organizado MLSTP. As racionalizações abundam, no arquipélago, para esta surpreendente capacidade de sobrevivência que a todos entra pelos olhos dentro; mas trata-se de um facto que quase todos têm dificuldade em compreender e em explicar: é curioso, com efeito, que os santomenses tanto empenho tenham tido em exorcisar um regime, para depois continuarem a manter sistematicamente aberta a porta por onde a tentação de uma sua restauração (levada a cabo, ademais, com as mesmas faces) ameaça esgueirar-se. No estudo já citado (sobretudo nas conclusões finais que redigi), propus uma explicação sociológica detalhada para este facto..
O que me leva a formular um ponto que creio bastante óbvio. Sugiro que um dos principais focos de problemas político-constituiconais de S. Tomé e Príncipe se prende com a distribuição dos poderes pelos diversos órgãos de soberania consagrados na Constituição, maxime a sua disseminação entre a Assembleia Nacional, o Governo e o Presidente da República; bem como com o consequente modo de relacionamento entre estes órgãos. Os problemas cíclicos que daí advêm não são compreensíveis senão no contexto do figurino constitucional de distribuição de poderes adoptado nas ilhas desde o início da 2ª República.
Desta perspectiva, é de particular interesse o recorte constitucional que diz respeito ao sistema de Governo santomense, visto ser isso o que está no cerne dos problemas político-constitucionais que têm vindo a ocorrer: uma simples observação das crises que têm eclodido, por muito cursória que possa ser, permite-nos asseverá-lo com confiança.
6.3.2. A BICEFALIA SEMIPRESIDENCIALISTA: UMA CATADUPA DE CRISES
É fácil equacionar, em termos formais, as dificuldades encontradas. E, por conseguinte, não é difícil gizar os termos de uma interpretação delas. Uma plena compreensão do sistema de Governo e da natureza agonística do relacionamento pessoal entre os vários actores políticos, tão típico dos cenários políticos no país, são o que melhor nos permite explicar grande parte dos litígios político-constitucionais existentes. Mais: num contexto sociocultural como o santomense, o sistema de Governo tal como está configurado na Constituição Política proporciona, positivamente, a existência de conflitos latentes.
A Constituição Política de 1990 de S. Tomé e Príncipe adoptou um sistema de Governo semipresidencial
Dentro da doutrina nacional ver, por todos, Armando M. Marques Guedes (1978) e J. Gomes Canotilho (2002). Entre os autores estrangeiros ver, por todos, Maurice Duverger (1978).. Embora inspirada na Constituição da República Portuguesa, neste aspecto a Constituição Política santomense aproximou-se mais da actual Constituição Francesa, uma vez que consagrou a instalação na ordem político-jurídica formal do Estado de um semipresidencialismo de pendor presidencialista
No mesmo sentido, Jorge Bacelar Gouveia, em discurso proferido na Assembleia Nacional, a 22 de Agosto de 2000, quando da cerimónia comemorativa dos 10 anos da actual Constituição de S. Tomé e Príncipe. Em sentido aparentemente divergente, cfr Vital Moreira (1992). O autor considera haver em S. Tomé e Príncipe um semi-presidencialismo com pendor presidencial, mas coloca tal sistema, não a par do francês, mas entre o francês e o português. No sentido do texto, ver a discussão incluída na monografia de Carlos Araújo (2000)..
Note-se que, por natureza, o chamado sistema semipresidencialista tanto pode dar origem a uma situação de predominância presidencial ou governativa
Ou até parlamentar, se bem que essa hipótese não seja muito crível em S. Tomé e Príncipe, onde a hegemonia dos partidos políticos e de figuras individuais esbatem quaisquer veleidades de protagonismo autónomo de entidades parlamentares; como lapidarmente me declarou o Presidente Miguel Trovoada, “não temos tribos para politizar, mas temos partidos para tribalizar”., dependendo a distinção do jogo simultâneo das maiorias parlamentares, da posição do Presidente em relação à maioria parlamentar em cada momento e conjuntura existente e, quando o Presidente e o Primeiro-Ministro são da mesma cor partidária, da posição e influência de cada um dentro do partido que partilham. Mas certos sistemas de Governo semipresidenciais, como o sistema de Governo equacionado na Constituição Francesa e na Constituição Política de S. Tomé e Príncipe, contêm elementos que, independentemente das vicissitudes acima enunciadas, conferem ao Presidente um protagonismo dentro, no interior, do “jogo” político
Maurice Duverger afirmou, famosamente, que, no sistema semipresidencial, existe como que uma “águia com duas cabeças” (referindo-se à posição de bicefalia em que nele convivem o Chefe de Estado e o Chefe de Governo). Essa bicefalia tende a não ser fácil de gerir. Tal é particularmente verdade naqueles casos em que, para manter a imagem de Duverger, uma das águia tenha o bico mais afiado do que o da outra; é aquilo que se verifica, por exemplo, em situações de semipresidencialismo de pendor presidencial como aquele que vigora em S. Tomé e Príncipe. Para uma discussão fascinante sobre esta questão aplicada ao caso português, ver o curto mas incisivo artigo, já antigo, de M. Rebelo de Sousa (1977).. Será este o caso no arquipélago desde a instauração da 2ª República.
Cabe agora ilustrar a prática político-constitucional em S. Tomé e Príncipe, sobretudo no que respeita aos litígios constitucionais que emergiram. Tentarei, sempre que possível, ilustrar com alusões pormenorizadas aos casos desses conflitos que marcaram a actividade política no período da 2ª República
Dada a ausência de informações fidedignas em relação à crise constitucional que muito recentemente tem vindo a assolar (o Presidente Fradique de Menezes dissolveu a Assembleia, e por conseguinte, desencadeou eleições antecipadas, em finais de Janeiro de 2003) este último caso não irá ser abordado. É, no entanto, praticamente indistinguível dos anteriores que aqui afloro..
A ausência de regras claras e precisas tem-se associado a divergências no exercício de poderes políticos. O que deu azo em S. Tomé e Príncipe, na última dezena de anos, a vários litígios político-constitucionais graves. Podemos aventar hipóteses mais ou menos plausíveis para as suas causas de fundo; mas não restam dúvidas de que se encontram na Constituição em vigor motivos que os propiciam. Dedicarei os próximos parágrafos desta secção do meu estudo a ilustrar, um a um
A reconstituição pormenorizada de cada um destes casos envolveu esforços de vários tipos. Por um lado, leituras de notícias em jornais (em S. Tomé e em Portugal), bem como de artigos de opinião publicados na época. Mas por outro lado, foi por vezes imprescindível completar imagens e detalhar minudências em conversas com alguns dos protagonistas neles envolvidos. Não quero deixar de aqui agradecer a disponibilidade para connosco longamente rememoriar acontecimentos, involuções e alegações, de Miguel Trovoada, Francisco Fortunato Pires, Armando M. Marques Guedes (que encabeçou uma das missões de “intermediação”, a relativa ao Caso 1, a seguir a exercer funções, para que fora eleito, de primeiro Presidente do Tribunal Constitucional português) e Jorge Miranda, três dos personagens-chave dos dois primeiros casos. Não posso deixar também de aqui exprimir gratidão a N’gunu Tiny e Ravi Afonso Pereira, por todo o apoio empenhado que me prestaram na recolha e tratamento destes dados, tanto em S. Tomé e Príncipe quanto em Lisboa. Os casos são aqui descritos exactamente nos mesmos termos que utilizei ao redigir o Relatório de então (A. Marques Guedes et al., 2002: 142-147)., estes conflitos.
Caso 1
A 22 de Abril de 1992 o Presidente Miguel Trovoada demitiu o Primeiro-Ministro, Daniel Daio, do Governo formado pelo PCD, como vimos o partido vencedor das primeiras eleições livres em S. Tomé e Príncipe. O agravar pontual da crise económico-social, em virtude da aplicação dos princípios de desenvolvimento social e económico exigidos pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, desencadearam uma onda indignada de protestos na sociedade santomense. A reacção de Trovoada foi imediata: terá sido em resposta a isso, como foi então alegado, que o Presidente santomense demitiu o Primeiro-Ministro
Ver Gerhard Seibert (2001: e.g. 396-437), para outras razões que terão estado na génese da atitude de M. Trovoada. Para mais pormenores relativamente à petite histoire política da 2ª República, é utilíssima a leitura deste esplêndido estudo de Seibert.. O fundamento invocado foi “a necessidade de se acabar com a instabilidade política e de se repor o normal funcionamento das instituições”. O descontentamento popular desceu de tom, mas não se calou.
A 16 de Maio Norberto Costa Alegre foi nomeado e empossado Chefe de Governo pelo Presidente Miguel Trovoada. Iniciou-se um novo período de coabitação, que não durou muito tempo.
Em 1994 uma nova crise de proporções maiores abalou os alicerces da então muitíssimo jovem democracia santomense. Este conflito nasceu de uma divergência, mais programática e menos genérica, entre o Governo e o Presidente, uma clivagem relativa à política governamental económico-financeira. O pano de fundo de protestos mantinha-se.
Nas suas tentativas de gerir a situação e de aplicar as receitas exigidas, o Governo aprovou, como órgão competente para “conduzir a política geral do País” (art. 96º da Constituição Política), um conjunto de diplomas legais que diziam respeito à gestão orçamental.
O Presidente da República, ao abrigo do art. 76º, al. m), e art. 77º do texto fundamental, vetou os diplomas governamentais. Tratava-se de uma intervenção com a natureza de clara interferência na orientação e condução da política governamental. Intervenção e interferência essas inteiramente legítimas (no sentido de estarem de acordo com a Constituição) segundo o entendimento do Presidente da República. Foram as seguintes as palavras do Presidente Trovoada quando do estalar desta segunda fase da crise: “ ...concordei com a existência de organizações autónomas para a promoção de certos financiamentos. O que vetei foi a criação de fundos dirigidos directamente pelo gabinete do Primeiro-Ministro e sob a sua tutela. Foi a falta de transparência”. Mais, continuou o Presidente Trovoada com alguma mordacidade: “...as taxas de juro devem ser iguais para todos os cidadãos. Não pode ser o Primeiro-Ministro a fixá-las, com um director executivo que, por acaso, até era a sua mulher. Quero transparência na coisa pública”
Miguel Trovoada em entrevista concedida ao Jornal Publico, Portugal, 17 de Julho de 1994..
Os termos em que estes volte-faces foram retratados eram reveladores. Para o Governo, para além de excessiva, a intervenção do Presidente ultrapassara os poderes que a Constituição lhe confere. Por isso, a actuação do Chefe de Estado violava o texto fundamental. Em consequência, um despacho do Primeiro Ministro pretendeu “anular” o diploma presidencial e “declará-lo inconstitucional”.
A situação de crise agravou-se, mas tornou-se também mais específica. O Presidente da República entendeu que actuara no âmbito dos seus poderes constitucionais; e sustentou, ainda, que Primeiro Ministro e Assembleia Nacional só teriam competência para declarar a inconstitucionalidade das suas próprias leis e dos diplomas governamentais, mas nunca a de um Decreto Presidencial.
Os acontecimentos precipitaram-se em catadupa. O Primeiro-Ministro, Norberto Costa Alegre, foi demitido. Foi nomeado um Governo de iniciativa Presidencial. A Assembleia Nacional foi dissolvida a 10 de Julho de 1994. Eleições legislativas foram marcadas para 2 de Outubro do mesmo ano. O clima de turbulência foi amainando.
Caso 2
Uma polémica, desta vez em torno da vacatura do cargo presidencial.
Em meados de 1996 (e na sequência dos acontecimentos delineados no Caso anterior), o Presidente da Assembleia Nacional pretendia ocupar o cargo de Chefe de Estado enquanto não se realizassem as novas eleições presidenciais e até ter lugar uma nova tomada de posse. O Presidente da República defendeu que deveria ele próprio manter o cargo até às novas eleições, nas quais seria mais uma vez candidato.
Alguns juristas portugueses, na sequência desta posição do Presidente da República, pronunciaram-se casualmente sobre o assunto na comunicação social portuguesa
Nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, em comentário na Rádio portuguesa.. As opiniões formuladas parecem ter sido unânimes: os constitucionalistas deram a entender que, mais uma vez neste conflito, a razão e o direito estavam do lado do Presidente da República.
Em S. Tomé e Príncipe, o ambiente político-social re-aqueceu: em círculos próximos do poder e das oposições discutiu-se aberta e insistentemente a possibilidade de uma nova dissolução da Assembleia Nacional. Ao que tudo indica tendo em conta a opinião informal de jurisconsultos portugueses, ventilada por meios de comunicação social e abundantemente esgrimida no arquipélago, a questão foi resolvida pacificamente. Miguel Trovoada manteve-se na presidência até à sua reeleição.
Caso 3
Um quarto litígio, de menores proporções e mais fácil resolução, mediou entre estes dois, e envolveu um diferendo entre o Presidente e o Governo no que diz respeito ao reconhecimento de Taiwan (a que o Presidente era favorável).
Depois de dois mandatos sucessivos de Miguel Trovoada, e não podendo este recandidatar-se, Fradique de Menezes foi eleito para a chefia da Presidência da República em Julho de 2001. Fradique de Menezes assumiu o cargo e claramente sentiu-se legitimado para mais: na sequência da sua expressiva vitória, o novo Presidente alegou que a mesma implicara “um juízo de reprovação” popular em relação à política seguida pelo MLSTP. Este partido tinha apresentado como candidato presidencial o líder do partido e ex-Presidente Pinto da Costa, tendo este sido derrotado.
O primeiro movimento coube a Fradique de Menezes. O Presidente convidou o Primeiro-Ministro a colocar o seu lugar à disposição. Em resposta, Posser da Costa anuiu, acedendo mas solicitando ao Presidente uma manifestação de confiança política materializada numa sua recondução no cargo.
Fradique de Menezes aparentemente não concordou. E em consequência Presidente e partido do Governo ficaram como que de candeias às avessas. Seguiram-se sucessivos desentendimentos com o MLSTP na escolha de um Chefe de Governo alternativo. Sem solução à vista, a situação depressa se tornou insustentável. A breve trecho, agastado, o Presidente da República resolveu formar um Governo de sua própria iniciativa (uma possibilidade que a Constituição lhe confere), o que acabou por fazer em Setembro de 2001. Este executivo de iniciativa presidencial manteve-se em funções por um período aproximado de 5 meses. Não teve grande sucesso: durante este período o executivo não apresentou o seu programa de Governo ao Parlamento.
6.3.3. DA AUSÊNCIA DE INSTÂNCIAS JURISDICIONAIS LOCALMENTE TIDAS COMO CREDÍVIES AO PERFIL DO PROCESSAMENTO-RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS CONSTITUCIONAIS SANTOMENSES
Com o intuito de tornarmos clara a origem e a natureza dos conflitos político-constitucionais que têm eclodido em S. Tomé e Príncipe, importa analisar, ainda que de forma leve e breve, a natureza da forma do seu processamento-resolução.
Em S. Tomé e Príncipe não existe um Tribunal Constitucional para a eventual fiscalização dos actos políticos e normativos dos órgãos detentores do poder político. A ausência de tal instância jurisdicional resultará
E ainda que (e este ponto é fundamental) seja genericamente aceite entre as élites santomenses a necessidade de criar no arquipélago uma instância (variando depois as opiniões existentes quanto à sua natureza) que permita dirimir litígios constitucionais., na opinião dos santomenses com quem conversei sobre o tema, de três factores, constituindo todos eles (para ela) causas bastantes plausíveis: (i) insuficiência de recursos humanos qualificados; (ii) insuficiência de meios financeiros; e (iii) receio de politização da instância julgadora, uma vez que a Democracia ainda está a dar os seus primeiros passos em S. Tomé e Príncipe.
Se a opção da não criação de um tribunal deste tipo nas ilhas me parece defensável por uma ou várias dessas razões, já tenho dificuldades em concordar com aqueles que, na prática, defendem a manutenção das coisas tal como estão, por isso que a situação existente me parece perigosa. E isto, em boa parte, porque não existe em S. Tomé e Príncipe nenhuma instância jurisdicional autónoma que assegure uma efectiva fiscalização da constitucionalidade. É verdade que se poderia ter optado por atribuir tal competência a uma secção autónoma do Supremo (tal como, por exemplo, se passa em Cabo Verde); mas até a data tal solução não foi seguida. Nos termos do art. 111º da Constituição santomense, é a Assembleia da República que detém o poder de fiscalização da constitucionalidade, embora dentro de determinados limites e sob determinadas condições. É necessário que os tribunais remetam a questão da inconstitucionalidade, levantada por sua iniciativa, pela iniciativa do Ministério Público ou por qualquer das partes, para a Assembleia Nacional e que esta, antes de decidir, admita a arguição da inconstitucionalidade
Este artigo da Constituição suscita várias dúvidas de interpretação e tem vindo a ser contestado pelas mais altas autoridades do país..
Não é líquido, porém, que a Assembleia Nacional santomense possa dirimir conflitos entre o Presidente da República e o Governo, apesar de que a Constituição, para balancear os poderes, prudentemente exija que o Presidente da República tome posse perante a Assembleia Nacional. A questão da eventual competência da Assembleia santomense para o fazer pode suscitar opiniões divergentes; mas, na história política recente do país, a verdade é que isso teve resposta “jurisprudencial”, como mais adiante veremos.
Em suma e numa palavra, para resumir este meu primeiro ponto: se os litígios político-constitucionais já são graves pela sua natureza, mais graves ainda se tornam não havendo qualquer instância jurisdicional de processamento-resolução que deles se encarregue. Isto mesmo foi ilustrado nos Casos 1 e 3. Em ambas as situações o Presidente da República de S. Tomé e Príncipe demitiu um Chefe de Governo que era apoiado por uma maioria parlamentar absoluta, formando, de seguida, um Governo de iniciativa presidencial. Em ambos os casos, apesar de se estar face a fortes clivagens institucionais, não se pode afirmar peremptoriamente que se tratasse de situações que pusessem em perigo o normal funcionamento das instituições democráticas no arquipélago, ou sequer perante uma situação de grave crise política. E sendo estas as condições normais (até do ponto de vista do Direito Comparado) para a demissão do Primeiro-Ministro e substituição de um elenco governativo por outro (ainda que de iniciativa presidencial), não é de fácil compreensão a legitimidade da atitude do Presidente santomense nos casos referidos.
Não deixa porém, insisto, de haver aqui um problema real de omissão. Se a Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe não tinha (como ainda não tem) poderes de fiscalização do acto que estiver em causa (no caso um Decreto Presidencial), como se poderá então fiscalizar a actuação do Presidente da República nestes casos? Não havendo uma instância jurisdicional que possa sindicar tais actuações, apenas o juramento prestado pelo Chefe de Estado à Constituição, o bom senso político, e a vontade expressa do povo, poderão de algum modo servir de guia para o bom exercício dos poderes presidenciais. Há no arquipélago uma nítida carência de (digamo-lo assim) instâncias capazes de objectivamente assegurar a resolução de pelo menos alguns dos problemas mais complexos e importantes da “saúde democrática” da 2ª República.
Não é, porém, essa a única carência a que haverá que obviar. A falta de instâncias subjectivas para a resolução deste tipo de situações de crise política em S. Tomé e Príncipe também é notória. Este segundo ponto, complementar do primeiro mas não menos importante que ele, parece-me fundamental: diz respeito ao papel crucial preenchido nestes processos pelas representações socioculturais localmente mantidas. Entendo aqui por instâncias subjectivas de resolução de conflitos o conjunto de juristas e outros especialistas em determinada matéria (para o caso, Direito Constitucional e porventura Ciência Política) que de forma independente e utilizando os seus conhecimentos possam dar pareceres interpretativos de textos normativos (no caso, a Constituição santomense e outros textos para-constitucionais). Em princípio, “instâncias” deste segundo género existem no arquipélago: em S. Tomé e Príncipe residem juristas santomenses de grande qualidade intelectual e científica que, prima facie, poderiam elaborar tais pareceres interpretativos em matéria constitucional. Mas apenas em princípio: em virtude da marcada partidarização da vida social, estes juristas encontram-se, na sua maioria, conotados com uma determinada cor partidária, o que lhes retira (em todo o caso parece ser essa a opinião geral dos santomenses) “legitimidade” e independência para poderem ser olhados como instâncias capazes de assegurar uma “boa” resolução dos conflitos que eclodem. Na ausência de tais instâncias, como resolver os litígios?
Entra aqui em operação uma dimensão “cultural” curiosa do “jurídico” em S. Tomé e Príncipe. Uma observação atenta revela-a. Qualquer litígio político-constitucional, tal como aliás o seu próprio nome indica, contém em si mesmo uma elevada carga política. Por conseguinte a resolução de conflitos como estes, na ausência de mecanismos de “juridificação”
No sentido de mecanismos que consensualmente logrem restringir questões ao domínio considerado como sendo do espaço mais ritual, formalizado e enxuto do jurídico, sem as deixar efervescer no âmbito quotidiano “comum” da conflitualidade político-faccional típica no arquipélago. eficazes (como, por exemplo, um Tribunal Constitucional, ou outra instância jurisdicional funcionalmente equivalente), remete inevitavelmente para uma solução política.
No Caso 2, a solução foi resolvida politicamente, apesar de alguns especialistas (portugueses) em Direito terem opinado sobre a situação. O Presidente da República de S. Tomé e Príncipe, através do diálogo político, resolveu a questão em termos institucionais com a Assembleia Nacional e directamente com o Presidente da Assembleia, Dr. Francisco Fortunato Pires.
No Caso 1, a situação assumiu, como vimos, proporções de elevada e potencialmente perigosa instabilidade política, pondo em causa o normal funcionamento das instituições democráticas. Contudo, apesar desse clima de forte instabilidade e conflitualidade política, podemos afirmar que a (aparente?)
A interrogação encontra justificação nas páginas deste trabalho que especificamente se debruçam sobre este caso e os seguintes, já que em todos eles aquilo que parece estar em causa são os limites do poder presidencial. pacificação ocorreu por via política. De facto, o diálogo, ainda que difícil, entre o Presidente da República, a Assembleia Nacional, o PCD e os restantes partidos políticos, bem como a omissão de certos comportamentos políticos por parte do PCD, foi sem dúvida aquilo que possibilitou o delineamento de uma via para a estabilização política santomense.
O mesmo, mutatis mutandis, quanto ao Caso 3.
Sendo assim, torna-se particularmente interessante suscitar a questão da relevância do Direito (em sentido estreito e formal) na resolução de conflitos como os que estão em causa. A questão é pois: ainda é o Direito relevante? A resposta, apesar de hesitante, deverá ser positiva; mas assume contornos inesperados.
Analisemos a fundamentação da resposta que sugiro. A componente política na resolução de tais conflitos assume um carácter natural. De facto não se poderia compreender, nesta sede, a ausência da dimensão política. Mas podemos também encontrar uma dimensão jurídica na resolução dos conflitos em análise. E, se sim, como e onde? De uma forma no mínimo curiosa. Ao recorrer-se (como foi o caso) a pareceres jurídicos produzidos por constitucionalistas portugueses
À parte o parecer publicado por Vital Moreira (listado na bibliografia final), não são públicos os estudos levados a cabo pelos vários juristas portugueses envolvidos. Repito aqui os meus agradecimentos a Armando M. Marques Guedes e a Miguel Trovoada pelas conversas que comigo e a minha equipa tiveram e que permitiram a sua reconstituição (confirmada com a totalidade daqueles com quem no arquipélago troquei impressões sobre estes temas)., incorporou-se de alguma forma o “jurídico” na resolução dos conflitos político-constitucionais; ao chamá-los a formular e veicular uma opinião sobre as questões no centro dos conflitos, definindo por exemplo o desenho constitucional dos poderes dos diversos órgãos de soberania (no caso Assembleia Nacional, Governo e Presidente da República), como que existiu o que talvez possamos chamar uma “legitimação” do político através do fenómeno jurídico (ou como consequência do processo de “juridificação” destas tensões).
Mas não, porém, de maneira linear. Note-se que existindo essa dimensão jurídica na resolução dos conflitos, esta não se manifesta em todo o caso de forma isolada, antes aparecendo imbricada com a dimensão política
A minha conclusão mais abstracta é, como pode verificar-se, a de que a resolução dos conflitos político-constitucionais em S. Tomé e Príncipe apresenta assim, e mais uma vez de uma maneira não-trivial, um dupla natureza: política e jurídica. O Direito, por isso, se bem que apenas parcialmente e muitas vezes de forma indirecta, ainda é relevante no arquipélago. Poderá para lá disto existir uma outra relevância do jurídico nestes processos, que seria instrutivo investigar. Fracassando a resolução política, haverá sempre a hipótese (pelo menos nocional) do recurso a uma intervenção dos tribunais. Ainda que para questões com elevada carga política (quaisquer que elas sejam), ao que sabemos os tribunais em S. Tomé tendem, por via de regra, a colocar muitos entraves a uma intervenção desse tipo. Se o fariam também no que diz respeito a conflitos constitucionais, é coisa em relação à qual não podemos, senão, aventar hipóteses académicas. Além disso, actuando o poder judicial não se sabe qual seria a sua “legitimidade” e força para executar decisões. As dúvidas justificam-se sobretudo pela ausência de um Tribunal Constitucional ou de uma secção constitucional no Supremo, num contexto social local em que uma politização do discurso jurídico é culturalmente muitíssimo mais compreensível esperado (e é decerto bem mais habitual) do que uma juridificação da acção e das práticas políticas.. Apesar dos pareceres jurídicos produzidos por constitucionalistas portugueses não terem naturalmente em S. Tomé e Príncipe uma qualquer força vinculativa, eles trazem em todo o caso (e fazem-no de maneira que julgo intrinsecamente interessante escrutinar) uma legitimidade acrescida às diversas opiniões dos actores políticos, contribuindo para um ambiente de pacificação.
É em si mesmo interessante o facto de que esta legitimidade tenha, ao que tudo indica, duas bases de sustentação. Em primeiro lugar, o facto de os pareceres decisivos serem enunciados em termos “jurídicos” e não em termos “políticos”. Como se o “idioma” e o tipo de coerência normativa em causa fizessem a diferença para os diversos protagonistas envolvidos. Em segundo lugar, o facto de os pareceres serem enunciados por juristas portugueses e não por nacionais santomenses. Como se o estar (ou melhor, o ser tido como estando) acima da refrega política e, de algum modo, “mais perto da fonte”, desse aos primeiros uma credibilidade e por isso uma legitimidade acrescidas.
Não é precisa uma grande reflexão para notar que este último é um facto extraordinário, que remete efectivamente as questões para fora do âmbito do Direito Constitucional e porventura mesmo do do Direito em geral. Com efeito, podemos considerar haver, como genericamente relevantes do ponto de vista do “Direito Político”, três grandes dimensões de quaisquer litígios (ou outras questões) constitucionais: a textual, a factual e a normativa. Particularmente interessante no caso santomense é o facto de a normatividade em causa não ser claramente “jurídica”
Quanto mais não seja visto não ser produzida por uma entidade “soberana”, seja pelo Estado santomense, por um seu “Tribunal Constitucional”, ou sequer por cidadãos nacionais do arquipélago. E é surpreendente verificar que, para além de escolher privilegiar essa normatividade “híbrida”, os santomenses elegem muitas vezes recorrer à mediação de juristas da ex-potência colonial.
A conjugação destes dois factos, por um lado, remete as interpretações textuais para um limbo “para-jurídico”. E, por outro lado, torna a sua recepção (ainda que com o estatuto de “pareceres”), uma questão que defere a solução para âmbitos sociológicos com curiosas vertentes históricas e culturais que seriam de fascinante exploração. Como diriam os estruturalistas, tudo se passa como se a ausência de instâncias objectivas ou subjectivas formais abrisse a porta à mediação informal de “autoridades” portuguesas tidas como particularmente aptas a dirimir litígios em âmbitos (os da separação de poderes no Estado, por exemplo) em que a antiga potência colonial é reputada como legítima visto, nomeadamente, se considerar que terá quanto a eles uma maior expertise ou neutralidade e isenção
Nesse quadro, será particularmente interessante apurar qual o papel (se algum de peso) preenchido pelos jurisconsultos portugueses quanto ao mais recente litígio no arquipélago: aquele que levou, em inícios do presente ano de 2003, à dissolução unilateral da Assembleia Nacional pelo Presidente da República santomense e à consequente convocação de eleições antecipadas no país. Vários juristas portugueses se pronunciaram de imediato, em diversos meios de comunicação social. Veremos qual o desenlace de um conflito cujo padrão corresponde, assaz exactamente, aquele que delineei para os anteriores..
Em suma: os conflitos constitucionais são em S. Tomé e Príncipe resolvidos politicamente; mas parecem sê-lo melhor se esse esforço for reforçado por uma dimensão jurídica. É verdade que isso também se verifica noutros Estados. Mas no arquipélago o desenho da combinação entre esses dois factores é especialmente interessante; nele essa solução compósita opera sobretudo (ou tem-no feito) através de pareceres jurídicos, opiniões de jurisconsultos respeitados que reforçam, quer a montante quer a jusante, a legitimidade das decisões eventualmente tomadas.
6.3.4. AS DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DA LITIGAÇÃO CONSTITUCIONAL EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE: TRAÇOS DISTINTIVOS
Esta conclusão não é de maneira nenhuma trivial: dispomos agora de informações suficientes para, se não levar a cabo (propondo uma resposta de maneira final e conclusiva), pelo menos encetar uma análise mais sociológica no sentido pleno (isto é, sem que o social seja encarado como um mero contexto externo), e por conseguinte mais bem fundamentada, das razões de fundo para a eclosão, aparentemente tão sistemática, de questões e diferendos que estão na base dos conflitos político-constitucionais. Uma análise que vai além tanto de leituras jurídico-constitucionais puras e depuradas como daquelas outras que se limitam a personalizar os motivos dos participantes. Tais equações jurídicas ou psicologísticas são, infelizmente, os tipos mais comuns de explicações formuladas para dar conta das situações de crise politico-constitucional em S. Tomé e Príncipe. Mas não são muito convincentes. Já que me parece que, ainda que possam seguramente ter algum fundamento, são perspectivas redutoras que, ao secundarizar de uma ou de outra maneira a imbricação sociológica da vida constitucional no todo da vida sociocultural santomense, nos condenam a pouco ou nada compreender quanto à mecânica dos acontecimentos turbulentos que têm vindo a colorir os processos políticos no arquipélago. Uma perspectivação “unitarista” como a que sugeri permite-nos, para além de tudo o mais, propor generalizações mais dinâmicas e mais bem fundamentadas, e com maior eventual utilidade comparativa, para a eclosão regular destas crises em S. Tomé e Príncipe.
Com efeito, chegados a este patamar, não é árduo equacionar uma explicação de fundo mais inclusiva que, para concluir este já longo exemplo, gostaria de esboçar. Da perspectiva proposta, os traços mais marcantes dos conflitos político-constitucionais santomenses parecem-me ser três: (i) o fenómeno da ocidentalização do Direito Constitucional santomense, (ii) algum desvirtuamento do texto originalmente previsto e (iii) as práticas constitucionais geradas pelos diversos actores “oficiais” da cena política do arquipélago.
Nos mesmos termos em que ouvi esta expressão utilizada por numerosos santomenses (que repetidamente no-la lamentaram), entendo aqui por “ocidentalização” do Direito Constitucional do arquipélago o fenómeno que se caracteriza pela importação das regras constitucionais vigentes nas democracias ocidentais, sem ter em atenção as particularidades da sociedade onde estas regras aspiram a vigorar. Isto é: a “ocidentalização” é como que um mecanismo cujo traço distintivo primordial se salda pela realização de transferências efectuadas ou levadas a cabo sem ter em conta o contexto sócio-político do “país de acolhimento”. Foi precisamente isso o que aconteceu em S. Tomé e, em geral, nos países da África Central e Austral, em Estados onde as práticas tradicionais apontariam porventura para a preferência por um outro tipo de sistema, ou recorte de normas constitucionais.
Recordemos alguns pormenores basilares quanto à 2ª República santomense e ponhamo-los em contexto. No arquipélago foi adoptado, depois da transição democrática e em virtude da influência da Constituição Portuguesa de 1976, um sistema de Governo semi-presidencialista; e foi-o mesmo quando a preferência tradicional da enorme maioria dos santomenses (ainda que talvez menos que em muitos outros casos de sociedades africanas da região) sugeria antes a adopção de um sistema onde a responsabilidade de representação e governação estivessem reunidas numa única personagem, a do Presidente da República. E, na prática, é precisamente isso o que muitas vezes tende a ser localmente presumido.
Na realidade, quando o cidadão comum de S. Tomé e Príncipe tem um problema no seu dia-a-dia dirige-se não raramente ao Presidente da República, não entendendo – nem fazendo o mínimo esforço no sentido dessa compreensão, visto a ideia lhe ser culturalmente alheia – o facto de o Chefe de Estado por via de regra lhe afirmar que não tem poderes para resolver a sua pretensão
As preferências expressas (explícita e implicitamente) por todos os santomenses com quem troquei impressões apontam efectivamente com veemência e nitidez para um sistema “presidencialista”. Esta conclusão é hoje pacífica no arquipélago. Pressionado por esse género de responsabilização popular, o Presidente santomense (supomos, seja este quem seja) vê-se constantemente empurrado a invadir a esfera de actuação do Governo e, com isso, a provocar crises institucionais graves. Fá-lo tendo a vontade popular, na maioria dos casos, do seu lado.. Não será excessiva a seguinte generalização: a bicefalia embutida no figurino constitucional santomense roça o culturalmente incompreensível no arquipélago.
Um segundo traço de marca tem por base aquilo que designei por desvirtuamento da Constituição santomense, e será decerto aquele que menos interesse tem para este trabalho. A primeira versão original da Constituição, produzida em Lisboa para S. Tomé e Príncipe, desenhou para o arquipélago, como já tive ocasião de referir, um sistema semi-presidencialista. Seguiu-se pior: porventura por estar (erroneamente, como se veio a verificar com o andar das coisas) confiante numa vitória fácil e segura, o MLSTP, então ainda o partido único, alterou o texto daquela versão, reforçando os poderes presidenciais; e permitindo, em linhas gerais, que o Presidente partilhasse as funções governativas.
O problema é aqui técnico-jurídico. E reside no facto de, a par destes “novos” poderes, não terem sido estabelecidos de maneira suficiente os imprescindíveis mecanismos de fiscalização, uma divisão minuciosa e enxuta de competências, bem como uma nova lógica de checks and balances. Em resultado na Constituição santomense como que é esboçado um presidencialismo que nunca nela aparece assumido.
Termino este exemplo fazendo uma referência ao terceiro ponto focal que identifiquei: o enviesamento das práticas. Qual o problema a meu ver aqui em causa? A jusante das duas deficiências anteriores, foi-se moldando em S. Tomé e Príncipe uma prática constitucional pouco clara e que se tem traduzido num sem-fim de conflitos e lutas institucionais e pessoais. Sem sombra de dúvida que poderão ser aventadas motivações de natureza mais personalizada como estando na origem dos litígios verificados: é o que, na sua maioria, os santomenses parecem inclinados a fazer. Mas uma análise que se ativesse a esses limites seria pobre.
Ao longo do tempo, os diversos actores políticos da 2ª República santomense foram invocando (na maioria dos casos com algum fundamento) a legitimidade das suas decisões e actuações com base nos precedentes criados pelos seus antecessores. Isto conduz-me, uma vez mais, a mencionar o factor negativo da ausência de instâncias objectivas de resolução-processamento destes conflitos. Na ausência de tais mecanismos só uma futura (e, ao que tudo indica, fortemente desejada) revisão constitucional poderá interromper as práticas reiteradas do passado mais recente. Revisão já hoje (2003) em curso.
Parte III
PEDAGOGIA E PROGRAMA
[W]e believe that comparative study can aid us in our more parochial task of understanding the law itself. We think we can understand our own “England” better by having visited other shores, and we are confident that others can benefit from the same experience.
J. M. Balkin (1991), “Law, Music, and other Performing Arts” 4, University of Pennsylvania Law Review: 6.
7. O DESIGN DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE DIREITOS AFRICANOS: PEDAGOGIA, OBJECTIVOS E FINALIDADES
Perante todos os condicionalismos que fui enumerando ao longo desta introdução, face aos objectivos que me prossigo, e tendo em mente o tipo de enquadramento transdisciplinar que ilustrei nos três exemplos paradigmáticos que acabei de expor, não será difícil compreender o design global do programa que organizei e que me proponho ministrar no corrente ano lectivo. Tudo aquilo que tentei pôr em evidência no que precede foi tomado em linha de conta na sua elaboração. Ou seja, foram ponderadas tanto as finalidades almejadas quanto as limitações existentes.
Voltando ao que atrás foi dito, mas agora de outro ângulo: por essas e outras razões o programa que apresento não é excessivamente ambicioso nem, dada a escassez de dados fiáveis, em bom rigor poderia sê-lo, se quisermos dele exigir, como me parece imprescindível, um mínimo de seriedade científica. Sem me querer repetir desnecessariamente, reafirmo que não é minha intenção delinear uma qualquer verdadeira “família” de Direitos Africanos, o que em todo o caso não creio que seja realmente possível. Insisto também ainda que não é ensaiada uma cobertura exaustiva do âmbito jurídico em nenhum dos casos aqui abordado. Pretendo, no entanto, chegar mais além, para lá de um programa pura e simplesmente indicativo; e intento conseguir bem equacionar e formular mais do que meras generalidades.
7.1. OBJECTIVOS E FINALIDADES
Convém decerto pormenorizar com maior minúcia em que sentido me esforço por fazê-lo. Longe de tentar apenas sugerir direcções e métodos de estudo e investigação, a disciplina semestral leccionada visa disponibilizar conhecimentos jurídicos úteis. E tenta levá-lo a cabo nos termos de um quadro analítico que permita tornar mais inteligíveis as dinâmicas próprias de vários dos Direitos em vigor em África, os inputs, e as restrições materiais (umas políticas, outras económicas, algumas outras ainda culturais, para além daquelas que paradoxal e pura e simplesmente resultam da complexidade estrutural e da multidimensionalidade dos nexos plurais em que se embrenham os domínios jurídicos africanos contemporânea) com as quais estes sistemas têm tido que conviver.
Tal como já tive a oportunidade de insistir, o enquadramento analítico que preferi é histórico e sociocultural (ou sócio-antropológico, como também o apelidei). Para o delinear, repito, recorro a metodologias oriundas de variados domínios disciplinares. E circunscrevo a sua aplicação a um âmbito de estudo particular: com o intuito de conseguir gizar um quadro analítico unificado para ordenamentos jurídicos tão pluridimensionais e complexos como aqueles de que tento começar a dar conta nesta disciplina, centro a minha atenção na constituição progressiva de uma interacção (tanto positiva como negativa) entre o Estado e a sociedade civil presentes em cada um dos países africanos sobre os quais me debruço. Parece-me ser esse o contexto, ou enquadramento, mais amplo em que se torna possível encetar uma ponderação de conjunto das múltiplas ordens normativas que em cada caso coexistem
O que tentei levara a cabo, de maneira pormenorizada, nos trabalhos que publiquei sobre Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, e que detalhei também, no que toca ao caso angolano, no último estudo que produzi (vd. A. Marques Guedes et al., 2001, 2002, 2003, ops. cit.:secções relevantes). Dedico uma sessão do programa da disciplina (a sessão 21, a penúltima) a uma discussão comparativa sobre este tema (ver Anexo)..
Por outro lado ainda, e a nível mais geral, será empreendido durante o semestre um esforço no sentido de delinear uma articulação sistemática daquilo que aqui é abordado (esforço esse logrado por intermédio de uma série de conexões empíricas e metodológicas, umas vezes explícitas, outras implícitas) com conteúdos programáticos de diversas outras disciplinas do Curso. Esta dimensão interdisciplinar (lato sensu) parece-me crucial. O tipo de estudo dos Direitos africanos que proponho sugere ressonâncias múltiplas. As razões exógenas para tal são simples de compreender: a expectativa é a de que esta disciplina (e este programa), em conjunto com o trabalho de investigação que no terreno tenho vindo a levar a cabo com grupos de alunos da Faculdade, venham a constituir o germe de uma frutuosa linha de acção científica e pedagógica
Reatando, aliás, um ensino, uma aprendizagem, e esforços de investigação relativamente a Direitos sobre os quais (salvo raras e honrosas excepções) as Universidades portuguesas infelizmente pouco se têm debruçado. bem implantada e firmemente ancorada na FDUNL.
Tendo em conta aquilo que precede, e respeitando e situando-se sempre nos termos da progressão histórico-cronológica dos Estados e das populações em causa, esta disciplina do Curso visa dois objectivos principais: em primeiro lugar, tenta demonstrar a utilidade de uma abordagem que utilize conceitos e métodos pluridisciplinares para uma melhor compreensão e uma melhor circunscrição dos “sistemas jurídicos” africanos contemporâneos e das “estruturas políticas” que os sustentam. Em segundo lugar, e sobretudo, a disciplina propõe-se ilustrar, por meio de casos seleccionados (relativos a tópicos por regra de interesse para a formação de juristas, mas naturalmente segundo critérios de relevância também histórico-político-sociológica) em contextos tão distintos quanto possível, tanto a variabilidade dos dispositivos e “sistemas políticos e jurídicos” existentes, como algumas das coordenadas sócio-políticas por que se afere (e que, em simultâneo, condicionam) a diversidade verificada.
De um ponto de vista mais genérico, e em consonância com as perspectivas recentes nas Ciências Sociais, e sobretudo na Antropologia e na Ciência Política (e, espera-se, em ressonância óbvia com o levado a cabo noutras cadeiras da licenciatura em Direito), o programa que elaborei pretende realçar, com um intuito no essencial didáctico, a importância de referências sistemáticas aos contextos sociais e culturais e à utilização de métodos e conceitos comparativos para uma maior compreensão tanto dos nexos sociais jurídicos como dos políticos; e destes dois últimos, no que à sua interrelação diz respeito. Como é evidente, sem qualquer pretensão de exaustividade; mas lançando a rede num arco tão amplo quanto o possível para um ensino restrito a duas aulas semanais durante, apenas, um semestre.
Antes de passar ao programa propriamente dito, resta-me sublinhar que o ensino dos Direitos africanos no estrangeiro é levado a cabo em moldes bastante semelhantes ao que escolhi, pelo menos naqueles casos em que não está em causa a aprendizagem sistemática do Direito positivo em vigor num determinado Estado ou grupo de Estados. A título meramente indicativo, e tendo em mente a natureza do presente estudo, alguns exemplos bastarão.
Na maior parte das instituições britânicas, francesas, holandesas, alemãs, ou norte-americanas de Ensino Superior (para me restringir aos exemplos mais óbvios e mais significativos) a análise destes ordenamentos jurídicos tende a ser empreendida no quadro do estudo do Direito Comparado; assim é a norma em Oxford, Cambridge, ou na Universidade de Londres, em Paris, Leiden, Frankfurt, Yale ou Harvard. Mas nem sempre esse é o caso. Em muitas outras instituições não africanas onde estes Direitos são ensinados, como por exemplo no School of Oriental and African Studies de Londres, no London School of Economics, em Bruxelas, na Sorbonne (Paris I) e na Université de Paris X (Nanterre), ou na Universidade de Leiden, é antes assumida uma postura histórico-político-sociológica explícita como quadro analítico de eleição.
Em muitíssimos dos casos, estão apenas sob escrutínio parcelas destes Direitos, a maioria das vezes aquelas ligadas a áreas económicas, político-administrativas, ou à família e à propriedade. Não é tudo: as preferências económico-geográficas são igualmente marcadas. Os Direitos islâmicos tendem a ser privilegiados em detrimento de outros, como também é o caso daqueles Direitos em vigor em Estados negro-africanos grandes e poderosos como a África do Sul, a Nigéria, e o Quénia, ou ainda os daqueles outros, como o Botswana, cujos índices de desenvolvimento são considerados como sendo especialmente promissores.
A estes critérios pragmáticos de selecção junta-se um último, de natureza histórica; o que não constituirá decerto surpresa. Assim, os estudos sobre Direitos africanos levados a cabo tendem a colocar os seus principais pontos de aplicação nos Direitos dos Estados pós-coloniais com os quais os Estados ocidentais em que se estão implantadas as instituições que albergam o ensino desses Direitos mantiveram no passado (ou mantém ou retêm no presente) relacionamentos particularmente intensos: nas instituições francesas estuda-se, por conseguinte, sobretudo os Direitos dos Estados africanos francófonos, na Grã-Bretanha são privilegiados os Direitos dos Estados anglófonos do Continente, enquanto que holandeses, belgas e alemães se dedicam preferencialmente ao ensino dos Direitos em vigor nas suas respectivas áreas de influência histórica. Em minha opinião, é também este um dos quadros em que, mutatis mutandis, devemos ver as escolhas geográfico-nacionais das Universidades norte-americanas em que são empreendidos estudos sobre estes Direitos: são nelas ensinados os Direitos dos Estados que instrumentalmente mais importantes se apresentam para os Estados Unidos, para a Universidade em causa, para o regente da cadeira ministrada, ou para os alunos que potencialmente a frequentam
Menos relevância me parecem ter invocações de motivos como eventuais “responsabilidades históricas” (que em todo o caso me parecem versões modernizadas da velha “missão civilizacional” ocidental) face às ex-colónias, quaisquer que sejam as boas intenções de quem as advoga. As instituições ocidentais, pelo menos neste caso, parecem pautar-se por considerações menos idealizadas nas escolhas que fazem quanto às cadeiras ministradas..
7.2. PEDAGOGIA E SISTEMÁTICA
O programa aqui proposto para a disciplina semestral de Direitos Africanos como disciplina de opção para os alunos da licenciatura em Direito (sobretudo alunos do 5º e 4º anos) corresponde, com algumas alterações, àquele que ministrei no ano lectivo de 2001-2002. Aproxima-se bastante mais do que utilizei no segundo ano em que a disciplina funcionou, em 2002-2003. Algumas modificações houve, no entanto, como resultado, sobretudo, das lições aprendidas com essas experiências.
O programa está dividido num módulo introdutório e três partes substanciais, cada uma delas com um título genérico. Por sua vez, cada uma dessas partes foi subdividida em sessões temáticas (de três a seis por parte, algumas delas plurais), de que se apresenta um resumo e para cada uma das quais é indicado um conjunto de referências bibliográficas. Ao título de cada sessão segue-se um número (nalguns casos, os das plurais, mais do que um) entre parêntesis, que as ordena. De um total de vinte seis sessões, apenas vinte e duas correspondem a aulas em que é discutida matéria nova. Três das sessões remanescentes incluem uma aula de revisão ministrada depois de terminada cada uma das partes do programa da disciplina. Por uma questão de prudência uma sessão será mantida como lastro.
Dadas as suas características e os seus objectivos e finalidades, a disciplina semestral de Direitos Africanos irá ser ministrada segundo um método didáctico particular. Cada sessão abrange uma hora lectiva e meia. O programa está organizado numa vintena de sessões, cujo formato será o de seminários temáticos.
A Parte introdutória do programa (o grupo das primeiras sessões substantivas deste) irá consistir de outras tantas apresentações-discussões, de uma espécie de colóquios orientados, esmiuçando os temas genéricos de enquadramento abaixo arrolados. Nas cinco sessões seguintes, da Parte I, bem como nas da Parte II e última do programa, a forma preferida deverá ser a de seminários mais participados e interactivos: as discussões estarão focadas em curtos trabalhos apresentados por alunos e/ou em mais prolongadas intervenções levadas a cabo por especialistas para o efeito convidados.
O formato, pelo menos idealmente, ganhará se propender para o de um brainstorming controlado sobre os tópicos escolhidos para o programa da disciplina. Nas sessões intercalares de revisão, um apanhado dos temas que constam de cada uma das partes do programa será levado a cabo a um mais alto nível de generalidade. O facto de a disciplina ter sido programada para contar sobretudo com inscrições de alunos dos 4º e 5º anos torna pedagogicamente viável a utilização deste formato, mais participado e interactivo, e por isso intelectual e cientificamente muitíssimo mais exigente.
Em termos mais deliberadamente pedagógicos, uma das finalidades é a de problematizar, pondo-os em perspectiva implícita, alguns dos pressupostos tácitos tão típicos das abordagens jurídicas mais dogmáticas levadas a cabo quanto a estes Direitos. Outra é a de levar os discentes a tomar consciência da utilidade de incluir, no estudo dos Direitos africanos, uma atenção especial a níveis de análise que se complementam uns aos outros. Espero assim concorrer para uma aprendizagem e uma compreensão mais ampla e criativa dos âmbitos jurídicos africanos em sentido lato. O programa da disciplina dá, nomeadamente, forte relevo à imbricação entre “o político”, “o jurídico” e a economia, “o político”, “o jurídico” e a religião, o parentesco, etc., no âmbito genérico de uma reflexão sobre a articulação estreita entre a organização social, a cultura e o normativo; ou a sociedade, a cultura e o poder na África contemporânea. Simultaneamente no geral e nos mais diversos contextos geográficos e históricos, e muito em particular nos PALOP.
Respeitando, como não poderia deixar de ser, os Regulamentos da Faculdade, a avaliação dependerá de um exame escrito final, sendo no entanto tomados em linha de conta, para uma sua valorização positiva, tanto os trabalhos apresentados pelos alunos como as suas intervenções nas aulas.
Como afirmei (e é facilmente verificável que sigo essa prescrição) tanto o conteúdo das sessões propostas como a sua selecção enquanto tópicos substantivos e como, ainda, o seu encadeamento, respondem a muitas das condicionantes histórico-metodológicas e das preocupações pedagógicas atrás expostas. A preocupação foi, primeiro, a de disponibilizar aos alunos uma passagem (inevitavelmente à vol d’oiseau, dada a duração semestral ser exígua) sucinta mas tão exaustiva quanto possível por alguns dos textos fundamentais para o estudo dos Direitos africanos em geral e, em particular, para o dos PALOP. Segundo, o lograr levá-lo a cabo sem nunca perder de vista tanto a natureza do curso que frequentam (em termos de currículo e de objectivos), quanto a dimensão “táctica” e “cosmopolita” que uma disciplina como esta sempre tem. Aqui e ali, o programa proposto potencia ainda, expondo-as, algumas das articulações transdisciplinares que uma investigação antropológico-jurídica como aquela que aqui proponho exige e tem vindo a ajudar a concretizar.
Cumpre-me tornar evidentes algumas dessas potenciações tácticas e cosmopolitas, como as apelidei. A primeira secção do programa desta disciplina trata, em conformidade com elas, vários temas interligados, o que para além de melhor situar, de um ponto de vista histórico e político, as questões substantivas que posteriormente irão ser esmiuçadas, tem a virtude (assim o espero) de nos permitir mais claramente delinear um quadro analítico e metodológico que as torna mais inteligíveis. Nesse sentido serão circunscritos na primeira parte, introdutória, do programa, tópicos muito específicos.
Enumerarei alguns. A investigação sobre Direitos africanos e a sua inserção no âmbito do estudo geral dos sistemas jurídicos comparados. Uma problematização, se bem que incipiente, da natureza estrutural do pluralismo jurídico: o que inclui atenção a mecanismos como os da diversidade, policentralidade e hierarquias. Os novos Estados africanos e as suas múltiplas ordens normativas: os Direitos estatais e os regimes ditos consuetudinários. O impacto do tipo de sistema jurídico herdado do país colonizador. A invenção de tradições. O estatuto dos “Direitos tradicionais” na nossa ordem jurídica e nas das ex-colónias portuguesas em África.
O programa apresentado não procura, naturalmente e no seguimento do que já antes se disse, dar corpo a uma cobertura exaustiva dos complexos e multidimensionados sistemas jurídicos africanos que aqui são tocados; aborda tão somente, ainda que o faça em pormenor, alguns tópicos muito específicos relativos aos Direitos contemporâneos dos Estados “lusófonos” em África. Depois das sessões introdutórias de enquadramento com que o programa desta disciplina começa, segue-se por isso um bloco modular de seis temas (organizados num número variável de sessões, de acordo com a quantidade e o detalhe dos dados fiáveis disponíveis) que versam (por esta ordem) uma introdução geral aos Direitos do Estado (no essencial de origem portuguesa) vigentes nos cinco PALOP (uma sessão), a resolução de litígios e o pluralismo em Cabo Verde (três sessões), a administração pública, a administração da justiça, e os conflitos constitucionais em S. Tomé e Príncipe (mais uma vez três sessões), a multiplicidade de fontes normativas na Guiné-Bissau (uma só sessão), o não-reconhecimento do poder local e a crise da tutela do Estado em Angola (quatro outras sessões), a estruturação do Estado e o sistema jurídico em Moçambique (novamente apenas uma sessão).
Outros tópicos poderiam ter sido escolhidos. Estes são porém temas que, para além de diversificados, me parece oferecerem o valor acrescentado de ajudar a construir imagens relevantes das realidades sócio-políticas vividas nos cinco Estados “lusófonos”, compostas através de lentes jurídicas. Embora tal não signifique um desconhecimento das especificidades próprias destas ex-colónias, essas abordagens serão levadas a cabo contra o pano de fundo de análises de outros casos semelhantes conhecidos na África pós-colonial.
Mas tento não me ficar por aí. Depois de se deter neste núcleo substantivo de temas, o programa da disciplina debruça-se sobre várias das suas implicações-condições. De alguma forma retomando aquilo que foi indicado e tratado nas sessões introdutórias, a nossa atenção virar-se-á, num terceiro passo, para questões que talvez devam ser apelidadas de “meta-jurídicas”. Serão, nesse contexto, tratados temas ligados com as relações entre modelos normativos abstractos e práticas concretas, ou outros que se prendem com a articulação genérica entre a definição de jurisdições e mecanismos de legitimação. O contraste entre Estados africanos democráticos e não-democráticos é ponderado. É discutido também o papel crucial preenchido, na África contemporânea, pela interacção entre as sociedades civis locais e os respectivos Estados.
Em termos mais gerais, nesta última secção são postas em evidência questões suscitadas pela ligação próxima, por via de regra patente nesses países, entre o campo da política e o do Direito. Uma ponderação contextualizada das situações de crise que tais intimidades desencadeiam, forma o fecho do programa.
Como já referi, o programa que se segue corresponde àquele entregue aos alunos na sessão inicial de apresentação da disciplina (no segundo semestre do ano lectivo de 2002-2003). Cada aula tem um título, dele consta um resumo e, ainda, uma bibliografia. Logo no primeiro dia de aulas, a cada sessão será atribuída uma data concreta. Todos os alunos ficam assim, desde cedo no semestre, informados quanto ao programa da disciplina e ao encadeamento dos temas uns nos outros.
8. PROGRAMA
Introdução
OS DIREITOS AFRICANOS EM TERMOS COMPARATIVOS E NUM ENQUADRAMENTO ANALÍTICO E METODOLÓGICO HISTÓRICO-SOCIOLÓGICO
O ESTUDO DOS DIREITOS AFRICANOS: DO DIREITO COMPARADO À ANTROPOLOGIA JURÍDICA (1)
A constituição dos Direitos africanos como objecto de estudo científico. O costume e o Direito não-escrito. As formas normativas “consuetudinárias” e os Direitos estaduais: dos modelos evolucionistas aos modelos pluralistas. Entre a comparação de sistemas e a comparação funcional. As diferentes expressões do jurídico na África contemporânea.
Paul Bohannan (1965), “The differing realms of the law”, em (ed.) L. Nader, The Ethnography of Law, American Anthropologist, special publication 67(6, parte 2): 33:42.
Max Gluckman (1969h) “Concepts in the comparative study of tribal law”, em (ed.) L. Nader Law in Culture and Society: 349-374, University of California Press.
Paul Bohannan (1969), “Ethnography and Comparison in Legal Anthropology”, ibid: 401-419.
René David (1982), Les Grands Systèmes de Droit Contemporains: 14-15, 563-593, Dalloz, Paris.
Jacques Vanderlinden (1996), “L’Anthropologie Juridique, science de la coutume”, Anthropologie Jurudique: 47-60, Connaissance du Droit, Dalloz, Paris.
K. Zweigert e H. Kötz (1998, trad. da 3ª ed. alemã de 1996), An Introduction to Comparative Law: 48-62 e outros extractos, Clarendon Press, Oxford.
Geneviève Chrétien-Vernicos (2001), “Les Droits originellement africains”, em Cours D’Histoire du Droit, 5, Université de Paris 8, Vincennes.
OS DIREITOS AFRICANOS PÓS-COLONIAIS E O PLURALISMO JURÍDICO EM ÁFRICA (2)
As ordens jurídicas plurais na África contemporânea. Natureza complexa de muitos dos sistemas jurídicos africanos e algumas das questões que tal suscita. Multiculturalidade e diversidade de ordens normativas. Os limites do Direito dos Estados na África de hoje e o pluralismo daí decorrente. A oscilação nas perspectivas doutrinárias sobre o estatuto do costume como fonte do Direito em Portugal.
Brian Z. Tamanaha (1993), “The folly of the “social scientific” concept of legal pluralism”, Journal of Law and Society 20 (2):192-217.
Étienne Le Roy (1997), “La face cachée du complexe normatif en Afrique francophone”, em (eds.) Robert, Ph., Soubiran-Paillet, F., e van de Kerchove, M., Normes, Normes Juridiques, Normes Pénales. Pour une sociologie des frontiéres (tomo 1): 123-138, L’Harmattan, Paris.
Jacques Vanderlinden (1998), “Villes africaines et pluralisme juridique”, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 42: 245-274.
António A. V. Cura (1999), “O costume como fonte do Direito e Portugal”, Boletim da Faculdade de Direito: 241-272, Universidade de Coimbra.
Bernard Durand (2002)”The construction of a juridical society”, em J. Kirshner e L. Mayali, Privileges and the Rights of Citizenship. Law and the juridical construction of civil society: 227-276, Michigan State University.
OS USOS E COSTUMES, A CODIFICAÇÃO E OS “DIREITOS TRADICIONAIS” (3)
A codificação como mecanismo de transformação profunda dos Direitos tradicionais não-escritos em África. A redução de uma normatividade plural a um sistema simples “rule-oriented”. A perda do dinamismo original pela cristalização artificial de “regras”. A normalização como forma de poder.
Francis Snyder (1981), “Colonialism and legal form. The creation of ‘customary law’ in Senegal”, The Journal of Legal Pluralism: 49-81, London.
Martin Chanock (1985), Law, Custom and Social Order, The Colonial Experience in Malawi and Zambia, Cambridge University Press, extractos.
Pierre Bourdieu (1986), “Habitus, code et codification”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 64: 40-44.
António M. Hespanha (1993), “Sabios y rústicos. La dulce violencia de la razón jurídica”, em La Gracia del derecho, Economia de la Cultura en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
Jacques Vanderlinden (2000), “Les Droits Africains entre positivisme et pluralisme”, Bulletin des Séances de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer 49: 279-292, Bruxelles.
Rui M. Pereira (2001), “A ‘Missão Etognósica de Moçambique’. A codificação dos ‘usos e costumes indígenas’ no Direito colonial português”, Caderno de Estudos Africanos 1: 125-178, Centro de Estudos Africanos, ISCTE, Lisboa.
A ESCOLA DA INVENTION OF TRADITION E OS DITOS DIREITOS COSTUMEIROS AFRICANOS (4)
A codificação (formal ou informal) dos Direitos tradicionais e a alteração do seu estatuto. Um caso paradigmático de fabricação de uma ordem jurídica africana pseudo-tradicional. A invocação da tradição enquanto mecanismo, ou instrumento, pragmático legitimador.
Sally Falk-Moore (1986), Social Facts and Fabrications. “Customary” Law in Kilimanjaro, 1880-1980, Cambridge University Press, extractos, sobretudo introdução e conclusões.
SOBRE O DIMENSIONAMENTO CULTURAL DAS ORDENS JURÍDICAS (5)
Uma perspectivação fenomenológica e culturalista de um tipo de”pluralismo jurídico” em África: o exemplo magrebino dos tribunais cádi em Marrocos, hoje. O lugar destes tribunais no sistema judiciário geral. O jurídico ou uma perversão-instrumentalização de um sistema? As lógicas próprias das formas tradicionais.: mecanismos alternativos de resolução de litígios? Os limites destes tipos de modelizações.
Lawrence Rosen (1991), The Anthropology of Justice: law as culture in an Islamic society, Cambridge University Press
Parte 1
DIREITOS NALGUNS ESTADOS AFRICANOS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA
OS DIREITOS OFICIAIS NAS EX-COLÓNIAS PORTUGUESAS EM ÁFRICA ANTES E DEPOIS DAS INDEPENDÊNCIAS. TRADIÇÃO E INOVAÇÕES (6)
Um esboço geral, a traço grosso, dos Direitos oficiais contemporâneos dos Palops. Das ordens jurídicas tradicionais aos regimes coloniais, às transformações ocorridas depois das independências: passos de uma progressão histórica. As traves mestras essenciais destes Direitos.
Marcello Caetano (1934), lições coligidas por Mário Neves, Direito Público Colonial Português: 18-66, texto reproduzido em (org.) Diogo Freitas do Amaral, 1994, Estudos de História da Administração Pública Portuguesa: 449-502, Coimbra.
Jorge Miranda (1997), “Os sistemas constitucionais dos países africanos de língua portuguesa”, em Manual de Direito Constitucional. tomo 1. Preliminares. O Estado e os sistemas constitucionais: 237-241, Coimbra Editora.
Raúl C. Araújo (2000), Os sistemas de transição democrática nos Palop, Studia Iuridica 53, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora.
Jorge Bacelar Gouveia (2001, 2ª ed., original de 1993), “A influência da Constituição portuguesa de 1976 nos sistemas jusconstitucionais lusófonos”, em As Constituições dos Estados Lusófonos: 11-18, Ed. Notícias, Lisboa.
Patrick Chabal (2002), “Lusophone Africa in Historical and Comparative perspective”, em Patrick Chabal et al, A History of Postcolonial Lusophone Africa: 137-185, Hurst & Company, London.
A RESOLUÇÃO “OFICIAL” DE LITÍGIOS E OS PLURALISMOS JURÍDICO E JURISDICIONAL EM CABO VERDE (7, 8 e 9)
A organização judiciária, dos tribunais civis aos militares. As formas híbridas de resolução e encaminhamento de litígios: natureza e pontos focais, das instâncias de mediação laboral aos “tribunais de família”, passando pelos “Tribunais de Zona” da primeira República. A possessão e a bruxaria como mecanismos tradicionais profundamente ligados à conceptualização e ao “processamento” local de conflitos.
Armando Marques Guedes et al. (2001), “Litígios e pluralismo em Cabo Verde. A organização judiciária e os meios alternativos”, Themis. Revista da Faculdade de Direito da UNL 3: 1-69, Lisboa.
Elisa Silva Andrade (2002), “Cape Verde”, em Patrick Chabal et al, A History of Postcolonial Lusophone Africa: 264-291, Hurst & Company, London.
Está disponível muita legislação caboverdiana, bem como uma colectânea de toda a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde. Há ainda numerosos artigos, uns científicos, outros doutrinários, sobre o Direito estadual caboverdiano.
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A JUSTIÇA, E OS CONFLITOS CONSTITUCIONAIS EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE (10, 11 e 12)
A organização judiciária contra o pano de fundo da natureza da administração pública no arquipélago. As formas híbridas de resolução e encaminhamento de litígios: natureza e pontos focais existentes. Mestres, bruxos, curandeiros e conflituosidade social. Os litígios constitucionais endémicos durante a Primeira e a Segunda Repúblicas.
Augusto Nascimento (2001), “Mutações sociais e políticas em S. Tomé e Príncipe nos séculos XIX e XX: uma síntese interpretativa”, Centro de Estudos Africanos e Asiáticos, IICT, Lisboa.
Gerhard Seibert (2002), “São Tomé e Príncipe”, em Patrick Chabal et al, A History of Postcolonial Lusophone Africa: 291-316, Hurst & Company, London.
Armando Marques Guedes et al (2002), Litígios e legitimação. Estado, sociedade civil e Direito em S. Tomé e Príncipe, Almedina.
Está disponível toda a legislação santomense produzida desde a independência até 2000 e muita outra posterior. Há ainda vários livros e artigos sobre temas conexos com as práticas locais de encaminhamento e resolução de litígios.
A MULTIPLICIDADE DE FONTES NORMATIVAS NA GUINÉ-BISSAU: O PLURALISMO E A SUA RECEPÇÃO (13)
Resumo a definir posteriormente.
Luís Barbosa Rodrigues (1995), A Transição Constitucional Guineense, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
Augusto Silva Dias (1996), “Problemas do Direito Penal numa sociedade multicultural: o chamado infanticídio ritual na Guiné-Bissau”, Revista Portuguesa de Direito Criminal 6: 209-232; Lisboa.
António Duarte Silva (1997), A independência da Guiné-Bissau e a descolonização portuguesa: estudo de história, direito e política, Edições Afrontamento, Porto, extractos.
Joshua Forrest (2002), “Guinea-Bissau”, em Patrick Chabal et al, A History of Postcolonial Lusophone Africa: 236-264, Hurst & Company, London.
Mais bibliografia a definir posteriormente.
O PODER LOCAL, AS AUTORIDADES TRADICIONAIS E A CRISE DE LEGITIMIDADE DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANGOLA (14, 15, 16 e 17)
O Estado na Angola colonial e o Estado angolano pós-colonial. O criação-reposição de uma administração local (ou periférica) e as eventuais formas de autonomia. Os poderes locais tradicionais e a sua ponderação. Tradição e mudança. Da eventual natureza de uma reforma constitucional do Estado angolano a esse nível: política e Direito.
M. O. Hinz (1998), “The “traditional” of traditional government: traditional versus democracy-based legitimacy”, em (eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz e J. L. Sidano, op. cit.: 1-14, University of Namibia.
B. Hlatshaswayo (1998), “Harmonizing traditional and elected structures at the local level: experiences of four Southern African Development Community countries”, em (eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz e J. L. Sidano, op. cit.: 131-155, University of Namibia.
Carlos Feijó (2001), Problemas actuais do Direito Público angolano. Contributos para a sua compreensão, Principia, Lisboa, extractos.
David Birmingham (2002), “Angola”, em Patrick Chabal et al, A History of Postcolonial Lusophone Africa: 137-185, Hurst & Company, London.
Armando Marques Guedes et al (2003), Pluralismo e Legitimação. A edificação jurídica pós-colonial de Angola, Almedina.
Está disponível toda a legislação angolana produzida desde a independência sobre o tema. Há ainda vários livros e artigos científicos e doutrinários, bem como muitos outros sobre temas ligados às práticas locais de encaminhamento e resolução de litígios em diversas regiões daquele país.
UM EXEMPLO GENÉRICO: A ESTRUTURAÇÃO DO ESTADO E O SISTEMA JURÍDICO EM MOÇAMBIQUE (18)
O sistema jurídico à data da independência. Os Direitos tradicionais. A ordem jurídica moçambicana depois da independência: continuidades e transformações. As Constituições de Moçambique. A organização judiciária do Estado. As mudanças políticas e as alterações jurídicas resultantes: da tutela colonial ao período democrático e pluripartidário actual passando pelo monopartidarismo.
Susana B. Brito (2002), “Mozambique national report”, em International Encyclopedia of Comparative Law, Max Planck Institut, Hamburg.
Malyn Newitt (2002), “Mozambique”, em Patrick Chabal et al, A History of Postcolonial Lusophone Africa: 185-236, Hurst & Company, London.
Está disponível alguma legislação moçambicana produzida desde a independência. Há ainda vários livros e artigos científicos e doutrinários (produzidos tanto por especialistas moçambicanos como por portugueses), bem como muitos outros sobre temas ligados às práticas locais de encaminhamento e resolução de litígios em diversas regiões daquele país.
Parte 2
SISTEMAS JURÍDICOS PLURAIS, OS ESTADOS E A LEGITIMAÇÃO
OS CONTEXTOS POLÍTICOS DAS ORDENS JURÍDICAS ESTATAIS NA ÁFRICA CONTEMPORÂNEA (19)
Os Estados africanos face à globalização: especifidades histórico-políticas. Os processos de descolonização e os regimes militares: estruturas e mecanismos causais. A “quasi-soberania” e os “graus de estaticidade”. Mecanismos políticos internos e pressões sistémicas. Os processos de democratização na África contemporânea. Implicações ao nível jurídico.
Charles Tilly (1992), “Soldiers and states in 1992”, capítulo 7, Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992: 192-228, Oxford, Basil Blackwell.
Luis Rodríguez-Piñero Royo (2000), “Del partido único al ‘buen gobierno’: el contexto internacional de los processos de democratización en el África Subsahariana después de la guerra fria”, em (ed.) Francisco Xavier Peñas, África en el sistema internacional. Cinco siglos de frontera: 209-267, Universidad Autónoma de Madrid.
Christopher Clapham (2000), “Degrees of statehood”, em (ed.) S. O. Vandersluis, The State and Identity Construction in International Relations: 31-49, Millenium, London.
IMPACTOS POLÍTICOS DA GLOBALIZAÇÃO EM ÁFRICA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS AO NÍVEL DA NATUREZA ESSENCIAL DOS ESTADOS E DO SEU PODER (20)
Estudos paralelos de quatro exemplos de impactos nefastos da globalização em regimes políticos autoritários africanos. A competição interna e o acesso aos recursos externos. A “privatização” do Estado. A soberania enquanto “valor acrescentado”. O papel de organizações não-estatais. E o jurídico?
William Reno (1998), Warlord Politics and African States, Lynne Rienner Publishers, Boulder and London.
OS ESTADOS E A PROGRESSÃO DAS SOCIEDADES CIVIS NA ÁFRICA LUSÓFONA. DA LEGITIMIDADE À LEGITIMAÇÃO (21)
Especificidades das sociedades civis africanas. As características particulares das incipiências exibidas. Os referencias comunicacionais comuns e a eficácia dos mecanismos de legitimação jurídica. A interlocução entre as sociedades civis dos PALOP e os respectivos Estados e a legitimidade destes últimos. Outros mecanismos de legitimação.
(eds.) Jean & John Comaroff (1999), Civil Society and the Political Imagination in Africa, University of Chicago Press, introdução e extractos.
E. Gyimah-Boadi (2000), “Civil society and democratic development in Africa”, comunicação lida no Workshop on Democracy and Development in Africa, Fundação Calouste Gulbenkian.
António Leão Correia e Silva (2001), “O nascimento do Leviatã crioulo. Esboços de uma Sociologia Política”, Cadernos de Estudos Africanos 1: 52-69, Centro de Estudos Africanos, ISCTE, Lisboa.
Fernando Pacheco (2001), “Sociedade civil em Angola”, em Angola. Direito, Democracia, paz e desenvolvimento: 259-275, Faculdade de Direito da UAN, Luanda.
Armando Marques Guedes et al (2001, 2002 e 2003), op. cit.: secções relevantes.
O JURÍDICO, O FUTURO E A LEGITIMIDADE DOS ESTADOS AFRICANOS PÓS-COLONIAIS (22)
A ideologia estatista ocidental como modelo. O pós-colonialismo enquanto ideologia e sistema justificativo. Os imaginários presentes. Das reformas democráticas aos imperativos políticos descentralizantes e ao pluralismo etnolinguístico e cultural. A legitimação pelo desenvolvimento económico. O que é o jurídico na África pós-colonial contemporânea? Que futuro para África?
Jan Nederveen Pieterse e Bhikhu Parekh (1991), “Shifting imaginaries: decolonization, internal decolonization, postcoloniality”, em Pieterse, J. N. e Parekh, B., The Decolonization of Imagination. Culture, knowledge and power: 1-20, Zed Books, London and New Jersey.
Étienne Le Roy (1997), “Gouvernance et décentralisation, ou le dilemme de la legitimité dans la réforme de l’État africain de la fin du XXéme siécle”, em (ed.) Gemdev, Les Avatars de l’État en Afrique: 153-160, Karthala, Paris.
__________ (1998), “En dévidant la pelote de Pénélope. Quelques conditions à reunir en vue de l’instauration d’un État plural en Afrique francophone” (comunicação não publicada, apresentada num colóquio em Dakar).
Peter Englebert (2000), State Legitimacy and Development in Africa, Lynne Rienner Publishers, introdução e conclusões.
BIBLIOGRAFIA SUPLEMENTAR
Para um melhor enquadramento e uma mais detalhada contextualização da disciplina, serão porventura úteis mais referências bibliográficas, umas de índole geral, outras de carácter mais particular. Assim, e à parte os textos listados para as sessões sugiro a consulta de:
(i) geral, sistemas jurídicos plurais em África, os Estados e os sistemas políticos africanos
R. Abel (1974), “A comparative theory of dispute institutions in society”, Law and Society Review 8: 218 ss..
E. Agostini (1991), capítulo sobre a exportação do Direito, em Direito Comparado: 266-315, Resjurídica, Lisboa.
Luís Felipe Alencastro (2000), O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico sul, Companhia das Letras, S. Paulo.
Valentim Alexandre (1998) “Ruptura e estruturação de um novo Império”, em Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, História da Expansão Portuguesa, vol. IV, Do Brasil a África (1808-1930), Círculo dos Leitores.
Ralph A. Austen (1993), “The moral economy of witchcraft: an essay in comparative history”, em (eds.) Jean & John Comaroff, op. cit.: 89-111.
Jorge Bacelar Gouveia (2001, 2ª ed., original de 1993), “A influência da Constituição portuguesa de 1976 nos sistemas jusconstitucionais lusófonos”, em As Constituições dos Estados Lusófonos: 11-18, Ed. Notícias, Lisboa.
Robert H. Bates (1999), “The economic bases of Democratization”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 83-95, Lynne Rienner, Publications.
Jean François Bayart, (1989), L’État en Afrique, Fayard, Paris.
Jean-François Bayart, , Stephen Ellis e Béatrice Hibou (1999), The Criminalization of the State in Africa, The International African Institute, James Currey e Indiana University Press.
T. W. Bennett (1998), “The constitutional base of traditional rulers in South Africa”, em (eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz e J. L. Sidano, op. cit.: 14-31, University of Namibia.
Heike Behrend (1999), Alice Lakwena & the Holy Spirits. War in northern Uganda, 1986-97, James Curry, Fountain, EAEP, Ohio University Press.
T. Bierschenk (1998), “Les arénes locales face à la descentralisation et à la démocratisation”, em (eds.) T. Bierschenk e J. P. Olivier de Sardan, Les Pouvoirs du Village: Le Bénin rural entre démocratisation et décentralisation, Karthala, Paris.
David Birmingham (1996), The Decolonization of Africa, Ohio University Press.
(ed.) R. Blanpain (1996-2001), International Encyclopaedia of Laws, Contract, separatas relatives ao Direito do Burundi (1994), da África do Sul (1996) e da Nigéria (2000), Kluwer Law International, The Hague, London, New York.
Paul Bohannan (1957), Justice and Judgement among the Tiv, Oxford University Press.
Michael Bratton e Nicolas van de Walle (1997), Democratic Experiments in Africa. Regime transitions in comparative perspective, Cambridge University Press.
Marcello Caetano (1994, original de 1934) “Direito colonial”, em Direito Público Colonial Português, Lisboa, pp. 18-66, em Estudos de História da Administração Pública Portuguesa, edição organizada e prefaciada por Diogo Freitas do Amaral, Coimbra.
Paul Caplan (1995), Understanding Disputes. The Politics of Argument, Berg.
Patrick Chabal et al (2002), A History of Postcolonial Lusophone Africa, Hurst & Company, London.
Christopher Clapham (1996), Africa and the International System. The politics of State survival, Cambridge University Press.
Narana Coissoró (1966), The Customary Laws of Succession in Central Africa, Lisboa.
John Comaroff e Simon Roberts (1981), Rules and Processes. The cultural logic of dispute in an African context, The University of Chicago Press.
(eds.) John & Jean Comaroff (1993), Modernity and its Malcontents. Ritual and power in postcolonial Africa, The University of Chicago Press.
(eds.) Jean & John Comaroff (1999), Civil Society and the Political Imagination in Africa, University of Chicago Press.
René David (1972, original de 1966), Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo: direito comparado, Meridiano, Lisboa.
__________(1982), Les Grands Systèmes de Droit Contemporains, Dalloz, Paris.
Gueorgui Derliguian (1994), “Literatura soviética sobre o colonialismo português e a África lusófona”, Revista Internacional de Estudos Africanos 16-17: 273-289, Centro de Estudos Africanos e Asiáticos, IICT, Lisboa.
Maurice Duverger (1978), Xeque Mate, Lisboa, Edições Rolim.
Stephen Ellis (1999), The Mask of Anarchy. The destruction of Liberia and the religious dimension of an African civil war, Hurst & Company, London.
(eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz e J. L. Sidano (1998) Traditional Authority and Democracy in Southern Africa, University of Namibia
Sally Falk-Moore (1978). Law as Process: an anthropological approach, Routledge & Kegan Paul, London.
James Ferguson (1994), The Anti-Politics Machine. “Development”, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho, University of Minnesota Press.
Peter Francis (1984), “New directions in the study of African law”, Africa 54 (4): 81-88.
C. F. Fisiy e P. Geschiere (2001), “Witchcraft, development and paranoia in Cameroon. Interactions between popular, academic and state discourse” em (eds.) H. Moore e T. Sanders, op. cit.: 226-247.
Max Gluckman (1955), The Judicial Process among the Barotse of northern Rhodesia, Manchester University Press.
________ (1965), Ideas in Barotse Jurisprudence, Manchester University Press.
(ed.) Max Gluckman, (1965), Politics, Law and Religion in Tribal Society, London.
________ (ed.), (1969), Ideas and Procedures in African Customary Law, Oxford University Press.
P. F. Gonidec(1968), Les Droits Africains. Évolution et sources, Auzias, Paris.
P. H. Gulliver (1963), Social Control in an African Society. A study of the Arusha: agricultural Masai of northern Tanganyka, Routledge, London.
____________(1996), “On avoidance”, em (eds.) D. Parkin, L. Kaplan e H. Fisher, op. cit.: 125-144.
(eds.) John Harbeson, Donald Rothchild e Naomi Chazan (1994), Civil Society and the State in Africa, Lynne Rienner, Boulder.
John Harbeson (1994), “Civil society and political renaissance in Africa”, em (eds.) J. Harbeson, D. Rothchild e N. Chazan, Civil Society and the State in Africa: 1-29, Lynne Rienner, Boulder.
______________(1999), “Rethinking Democratic Transitions: Lessons from Eastern and Southern Africa”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 39-57, Lynne Rienner, Publications.
Jeffrey Herbst (1999) “The Role of Citizenship Laws in Multiethnic Societies: evidence from Africa”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 267-285, Lynne Rienner, Publications.
_____________(2000), States and Power in Africa. Comparative lessons in authority and control, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
António M. Hespanha (1993), Justiça e Litigiosidade. História e prospectiva, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
____________(2000), “O Antigo Regime nos Trópicos. A dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII)”: 170.
Robert Jackson (1990), Quasi-States: sovereignty, international relations and the Third World, Cambridge University Press.
(ed.) Richard Joseph (1999), State, conflict and Democracy in Africa, Lynne Rienner, Publications.
Richard Joseph (1999), “The Reconfiguration of Power in Late Twentieth-Century Africa”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 57-83, Lynne Rienner, Publications.
(eds.) J. Kirshner e L. Mayali (2002), Privileges and the Rights of Citizenship. Law and the juridical construction of civil society, Michigan State University.
(ed.) V. Knapp (1973), International Encyclopedia of Comparative Law, “National Reports” sobre a Etiópia (J. Vanderlinden), a Guiné Equatorial (D. E. Cánovas), Egipto (C. Chehata), Uganda (P J. Nkambo Mugerwa e M G. Matovu), Alto Volta R. Decittignies e Seydou Madani Sy), Tübingen, Mouton, The Hague.
David Lan (1985), Guns and Rain: Guerrillas and spirit mediums in Zimbabwe, James Currey, London & University of California Press.
Mario G. Losano (1983), “A difusão extra-europeia do Direito codificado” e “O Direito consuetudinário africano”, em Os Grandes Sistemas Jurídicos: 108-11, 135-146, Presença, Lisboa.
Norrie MacQueen (1997), The Decolonisation of Portuguese Africa: metropolitan revolution and the dissolution of Empire, Longman, London.
Armando Marques Guedes (2000), “A dispersão e o centralismo burocrático. Disputas na Cooperação Cultural do Estado português, 1974-1999” Themis. Revista da Faculdade de Direito da UNL 1 (1): 33-80, Lisboa.
_______________(2002), “Os Estados pós-coloniais, as novas políticas africanas e a liberdade de informação”, Fundação Calouste Gulbenkian, no prelo.
Armando M. Marques Guedes (1978), Ideologias e Sistemas Políticos, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa. (idem, 1984, Instituto de Altos Estudos Militares, Lisboa).
(eds.) Henrietta Moore e Todd Sanders (2001), Magical Interpretations, Material Realities. Modernity, witchcraft and the occult in postcolonial Africa, Routledge, London e New York.
Henrietta Moore e Todd Sanders (2001), “Magical interpretations and material realities: an introduction”, em (eds.) H. Moore e T. Sanders, op. cit.: 1-28.
Vital Moreira (1992), Notas sobre o sistema de Governo e poder do Presidente segundo a Constituição de São Tomé e Príncipe, Coimbra.
Ana Cristina Nogueira da Silva (2002), “L’Africa nelle costituzioni portoghesi del XIX secolo”, em Le Carte e la Storia, Rivista di Storia delle Instituzioni, VIII (I): 19-29.
Adebayo Olukoshi (1999), “State, conflict and Democracy in Africa: the complex process of renewal”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 451-467, Lynne Rienner, Publications.
(eds.) D. Parkin, L. Kaplan e H. Fisher (1996), The Politics of Cultural Performance, Berghahn Books, Providence-Oxford.
Jan Nederveen Pieterse e Bhikhu Parekh, (1995), “Shifting imaginaries: decolonization, internal decolonization, postcoloniality”, em Pieterse, J. N. e Parekh, B., The Decolonization of Imagination. Culture, knowledge and power: 1-20, Zed Books, London and New Jersey.
Rui Pinto Duarte (2000) “Sistemas Jurídicos Comparados”, FDUNL, Cursos on-line, internet.
Leopold Pospisil (1967). “Legal levels and multiplicity of legal systems in human societies”, The Journal of Conflict Resolution 9 (1): 2-26, New York.
D. Ray (1998), “Chief-State relations in Ghana. Divided sovereignty and legitimacy”, em (eds.) E. A. van Nieuwaal e W. Zips, Sovereignty, Legitimacy and Power in West African Societies. Perspectives from Legal Anthropology, Lit Verlag, Hamburg.
Marcelo Rebelo de Sousa (1977), “Sistema semipresidencial: definição e perspectivas”, Nação e Defesa 2 (3): 5-15, Estado-Maior do Exército Português, Lisboa.
Norbert Rouland (1994), Legal Anthropology, The Athlone Press, London.
Luis Rodriguez-Piñero Royo (2000), “Del partido unico al ‘buen govierno’: el contexto internacional de los procesos de democratización en el África susahariana después de la guerra fria”, em (ed.) Xavier Peñas, África en el sistema internacional. Cinco siglos de frontera, Universidad Autonoma de Madrid.
N. Sacco (1995), Il Diritto Africano, Utet, Torrino.
Todd Sanders (2001), “Save our Skins. Structural adjustment, morality and the occult in Tanzania”, em (eds.) H. Moore e T. Sanders, op. cit.:160.184.
Francis Snyder (1981), “Colonialism and legal form. The creation of ‘customary law’ in Senegal, The Journal of Legal Pluralism: 49-81, London.
______________(1981), “Anthropology, dispute processes, and law: a critical introduction”, British Journal of Law and Society 8(2): 141-180.
Brian Z. Tamanaha (1993), “The folly of the ‘social scientific’ concept of legal pluralism”, Journal of Law and Society 20(2): 192-217.
Nuno Severiano Teixeira (1986), “Entre África e a Europa: política externa portuguesa, 1890-1986” Política Internacional 12: 55-86, Lisboa.
Victor Turner (1957), Schism and Continuity in an African society. Fission and fusion among the Ndembu of Zambia, Manchester University Press & The International African Institute.
Paulo Valverde (2000), Máscara, Mato e Morte em S. Tomé, Celta, Lisboa.
Nicolas van de Walle (1999), “Globalization and African Democracy”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 95-119, Lynne Rienner, Publications.
G. J. van Niekerk (1998), “Democratic aspects of traditional conflict management: unofficial dispute resolution”, em (eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz e J. L. Sidano, op. cit.: 83-102, University of Namibia.
E. A. van Nieuwaal (1987), “Chiefs and African States: some introductory notes and an extensive bibliography of African chieftaincy”, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 25-26.
____________________(1996), “States and Chiefs: are chiefs mere puppets?”, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law: 37-38.
T. von Trotha (1996), “From administrative to civil chieftaincy: some problems and prospects of African chieftaincy”, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law: 37-38.
Crawford Young (1999), “The Third Wave of Democratization in Africa: ambiguities and contradictions”, (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 15-39, Lynne Rienner, Publications.
(ii) o caso de Cabo Verde
Direito e Cidadania (publicação periódica independente), vários dos números regulares.
Júlio Monteiro Jr. (1974) Rebelados da ilha de Santiago em Cabo Verde, Centro de Estudos de Cabo Verde, Praia.
Benvindo Mosso Ramos (1998), “Que organização judiciária para Cabo Verde”, Revista Jurídica, 25: 9-20, Ministério da Justiça e da Administração Interna de Cabo Verde, Praia.
Revista Jurídica (publicação periódica oficial), vários dos números regulares.
Raul Varela (1998), “Que organização judiciária para Cabo Verde”, Revista Jurídica, 25: 21-27, Ministério da Justiça e da Administração Interna de Cabo Verde, Praia.
(iii) o caso de S. Tomé e Príncipe
Gerhard Siebert (2001), Camaradas, Clientes e Compadres. Colonialismo, socialismo e democratização em S. Tomé e Príncipe, Vega, Lisboa.
Paulo Valverde (2000), Máscara, Mato e Morte em S. Tomé. Textos para uma etnografia de S. Tomé, Celta Editora, Oeiras.
(iv) o caso da Guiné-Bissau
a acrescentar
(v) o caso de Angola
Raúl C. Araújo (2000), Os sistemas de Governo de transição democrática nos PALOPS, Studia Iuridica, Coimbra Editora.
___________(2001), “A problemática do Chefe de Governo em Angola”, na Revista da Faculdade de Direito Agostinho Neto, n.º 2, Luanda.
Fred Brigland (1986), Jonas Savimbi: a key to Africa, Mainstream, Edinburgh.
Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola (2001), Diagnóstico Preliminar sobre o Sistema de Administração da Justiça–perspectiva estático-estrutural, Luanda.
Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto (2001), Revista, números 1 e 2, Luanda.
Carlos Feijó (2001), “O semi-presidencialismo em África e, em especial, nos PALOP”, na Revista da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, nº 2.
________(2001), Problemas actuais do Direito Público angolano. Contributos para a sua compreensão, Principia, Lisboa.
João Paulo Guerra (2002), Savimbi. Vida e Morte, Bertrand Editora, Lisboa.
Alexandre Miguel Mestre (2002), “Angola. Country information”, em H. M. Kritzer, Legal Systems of the World. A political, social and cultural encyclopedia, vol. I: A-D, ABC Clio.
Maria da Conceição Neto (2002), “Do passado para o futuro. Que papel para as autoridades tradicionais”, comunicação não-publicada, Forum Constitucional, Huambo.
______________(2002a), “Respeitar o passado – e não regressar ao passado”, comunicação não-publicada, I Encontro Nacional sobre Autoridades Tradicionais, Luanda.
Ordem dos Advogados de Angola (1998), Revista, número 1, Luanda.
________________(1999), Revista, número 2, Luanda.
Fernando Pacheco (2002), “Autoridades tradicionais e estruturas locais de poder em Angola: aspectos essenciais a ter em conta na futura Administração Autárquica”, comunicação não-publicada, Ciclo de Palestras sobre Descentralização e o Quadro Autárquico em Angola, Fundação Friedrich Ebert, Luanda.
(PNUD) Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2002), Estudo sobre a Macro-Estrutura da Administração local, Luanda.
Jean-Michel Mabeko Tali (2001), Dissidências e Poder de Estado. O MPLA perante si próprio (1962-1977). Ensaio de história política, 2 volumes, Editorial N’zila, Luanda.
Inge Tvedten (2001), Angola 2000-2001. Key development issues and the role of NGOs, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Christian Michelsen Institute, Bergen.
(vi) o caso de Moçambique
Aguiar Mazula et al. (1998), As Autarquias Locais em Moçambique, Maputo.
Malyn Newitt (1995), A History of Mozambique, Indiana University Press, Bloomington.
Carolyn Nordstrom (1995), “War on the front lines”, em (eds.) C. Nordstrom e A. Robben, Fieldwork under fire: contemporary studies of violence and survival: 129-153, University of California Press, London.
mais referências a acrescentar
Américo Simango (1999), Introdução à Constituição Moçambicana, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
ANEXOS
Anexo 1: Quadro relativo a palavras e expressões relacionadas com feitiços e bruxaria em Cabo Verde
1-Termos crioulo 2- Significado 3- Expressões
contratado
contratado
Pessoas que não têm o poder de fazer feitiços, mas celebraram com o diabo um contrato nos termos do qual lhe dão a sua alma e a alma de outras pessoas, como pagamento pelos serviços por ele prestados. Dão as almas ao diabo através de “presentes” amaldiçoados, que oferecem ás suas vítimas.
malfêtu
maldade
feitiço negativo
corda
corda
feitiço negativo
fazi corda; fazi malfêtu
fazer corda; fazer uma maldade
Fazer um feitiço negativo
cordeiro
aquele que faz corda
Aquele que faz feitiços por encomenda de outrem, que não tem conhecimentos para tal. Não possui, em princípio, poderes sobrenaturais, mas “estudou” feitiçaria.
curandeiro
aquele que cura
Aquele a que se recorre para obter curas para os males (físicos e não só) de que as pessoas padecem. Fá-lo através de rezas, rituais, poções...
casa di corda
casa de corda
casa ou “consultório” do “cordeiro”
méstri
mestre
Um misto de “cordeiro” e “curandeiro”
casa di méstri
casa do mestre
casa ou “consultório” do “mestre”
bruxa(o)
bruxa(o)
Mais poderosa(o) e mais temida(o) do que a feiticeira(o), é alguém que por natureza tem certos poderes, entre os quais o de se transformar num animal ou mesmo em outra pessoa.
fiticêra
Feiticeira(o)
Menos poderosa e menos temida do que a bruxa, é alguém que aprendeu o “ofício” e normalmente utiliza os seus “poderes” para fazer “corda” em vez de curar ou ajudar.
messinho; guarda
guarda
Espécie de amuleto ou talismã. São objectos que depois de submetidos a um ritual se acredita que protegerão as pessoas que os usarem.
fitcha corpo
fechar o corpo
[opp. «da camba pé» ]
Fazer ou submeter-se a certos rituais, cujo objectivo é colocar dentro do corpo de uma pessoa, algo (um objecto ou uma poção) que se acredita que o protegerá. É, portanto, “fechar o corpo” para que nenhum mal possa entrar, mesmo que a pessoa se submeta a grandes riscos. Estas pessoas perdem, normalmente o medo de se expor ao perigo, pois sentem-se invencíveis
da camba pé
[camba= entrar]
opp. «fitcha corpo»
fazer um grande feitiço
Fulano cumi Beltrano
Fulano comeu Beltrano
Diz-se que Fulano “comeu” Beltrano, porque através de um olhar ou de um “presente” amaldiçoado, Fulano fez com que Beltrano adoecesse, tivesse um acidente, ou se tornasse infeliz.
Anexo 2: : Quadro relativo a palavras e expressões relacionadas com feitiços e bruxaria em S. Tomé e Príncipe
1-Termos crioulos 2- Significado 3- Expressões
Paga devê
Pagar um dever que se deixou por cumprir numa outra vida anterior; alguém que se deixou noutra encarnação está a reivindicar alguma coisa que não vai deixar a alma da pessoa em causa em paz nesta vida enquanto não for satisfeita; normalmente trata-se de prestação como dar de comer ao marido, por ex.; muito associado à doença das crianças.
“Se não pagá devê morre”;
“tá doente porque não pagou devê direito”;
“tá devido”.
Flêcê
Uma questão sem contornos “jurídicos”, mas aqui incluída para sianlizar a importância “extra-económica” das relações de troca em S. Tomé e Príncipe.
Oferecer na igreja pelo bom parto que teve; normalmente a oferta é um ritual com elementos necessários como a presença de um padre ou vela a arder.
“Se pariu tem que flêcê a parida ao padre”.
Trancar/Fechar o corpo
Tornar a pessoa imune aos feitiços que contra si possam lançar; ritual que normalmente se faz à nascença mas que pode ser feito a qualquer momento.
“Tá com corpo muito aberto”;
“tem que lavar corpo com banho de flores para trancar”.
Quibanda
Local de trabalho de um curandeiro.
“Eu vou a uma quibanda”.
Sentença
“Ritual receitado” pelo curandeiro para que o doente pague o seu dever.
“Depois de ir ao curandeiro, ele diz que tem sentença”.
Xicote
Bater em alguma coisa.
“Ele tem que ir para uma estrada em cruz com outra, leva flores, arranja sete crianças para dar xicote na estrada e esta fica sozinha na estrada”.
Disprezo
Praga; normalmente cura-se esta com a Bíblia, através da oração: colocam-se folhas à volta da igreja e para afastar a praga tem que se apanhar as folhas, cozinhá-las e pô-las dentro de um cesto que se equilibra na cabeça; ao despejar a água do cesto as folhas não podem cair.
“Ela fez um disprezo por mim”.
Paulo Valverde
Esta lista suplementar de termos foi extraída da obra póstuma notável de Paulo Valverde (2000).: Quadro terminológico (S. Tomé e Príncipe)
“Trocar cabeça” – operação através da qual um curandeiro, com o objectivo de consolidar os seus poderes, mata um outro, mediante feitiço, apoderando-se depois do espírito do morto.
“Ver mato”, “andar no mato”, “ir ao mato” - acto de ir a um curandeiro. Trata-se de um mato metafórico, visto ser no mato que existem recursos terapêuticos e alimentares; mas os curandeiros vivem em espaços habitados.
“A caixa” ou “o navio” - referência ao corpo do curandeiro enquanto receptáculo das entidades espirituais mobilizadas para a cura.
“Limpar”- é um sinónimo de purificar e aparece a maioria das vezes em relação ao corpo.
“Praga”, “pedir praga”, “cortar praga” - a praga pode ser de qualquer natureza e quem “tem praga” pode não conseguir fazer as mais variadas coisas devido àquela. Por exemplo, um jovem vinhateiro nunca mais conseguiu trepar ás palmeiras para extrair o vinho da palma, porque o seu rival lhe “pediu uma praga”.
“Capela” ou “paço do mestre curandeiro” - trata-se de um espaço considerado como sagrado, que é englobado e produzido pelo mato.
BIBLIOGRAFIA GERAL DESTE. ESTUDO
E. Agostini (1991), capítulo sobre a exportação do Direito, em Direito Comparado: 266-315, Resjurídica, Lisboa.
Graham Allison (196
(ed.) A. Allot (1971), Integration of Customary and Modern Legal Systems in Africa, New York.
Luís Felipe Alencastro (2000), O Trato dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico sul, Companhia das Letras, S. Paulo.
Gabriel A. Almond e James S. Coleman (1960), The Politics of the Developing Areas, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Louis Althusser (1966), Pour Marx, Librairie François Maspero, Paris.
Maria Lúcia Amaral (1998), Responsabilidade do Estado e dever de indemnizar do legislador, Coimbra Editora, Coimbra.
(ed.) Talal Asad (1975), Anthropology and the Colonial Encounter, Ithaca Press, London.
Ralph A. Austen (1993), “The moral economy of witchcraft: an essay in comparative history”, em (eds.) Jean & John Comaroff, op. cit.: 89-111.
Robert Bates (1981), Markets and States in Tropical Africa: the political bases of agricultural policies, University of California Press, Berkeley.
Robert H. Bates (1999), “The economic Bases of Democratization”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 83-95, Lynne Rienner, Publications.
Jean François Bayart, (1989), L’État en Afrique, Fayard, Paris.
Jean-François Bayart, Stephen Ellis e Béatrice Hibou (1999), The Criminalization of the State in Africa, The International African Institute, James Currey e Indiana University Press.
T. W. Bennett (1998), “The constitutional base of traditional rulers in South Africa”, em (eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz e J. L. Sidano, op. cit.: 14-31, University of Namibia.
Heike Behrend (1999), Alice Lakwena & the Holy Spirits. War in northern Uganda, 1986-97, James Curry, Fountain, EAEP, Ohio University Press.
T. O. Beidelman (1986), Moral Imagination in Kanguru Modes of Thought, Indiana University Press.
Paul Bohannan (1957), Justice and Judgement among the Tiv, Oxford University Press.
Michael Bratton e Nicolas van de Walle (1997), Democratic Experiments in Africa. Regime transitions in comparative perspective, Cambridge University Press.
Vitalino Canas (1998), “Autoridade tradicional e poder local”, em As Autarquias Locais em Moçambique: 103-107, Maputo.
J. Gomes Canotilho (2002), Direito Consitucional e Teoria da Constituição, 6.ª edição, Almedina, Coimbra.
João Caupers (1994), Administração Periférica do Estado – Estudo de Ciência da Administração, Lisboa.
Patrick Chabal et al (2002), A History of Postcolonial Lusophone Africa, Hurst & Company, London.
Patrick Chabal (2002), “Lusophone Africa in Historical and Comparative perspective”, em Patrick Chabal et al, op. cit.: 3-137.
Patrick Chabal e Jean-Pascal Daloz (1999), Africa Works. disorder as political instrument, London Currey, London.
Naomi Chazan,..............Mortimer, ...................Ravenhill e Donald Rothchild (1992), Politics and Society in Contemporary Africa, MacMillan, London.
Martin Chanock (1985), Law, Custom and Social Order: the colonial experience in Malawi and Zambia, Cambridge University Press.
Christopher Clapham (1996), Africa and the International System. The politics of State survival, Cambridge University Press.
Christopher Clapham (2000), “Degrees of statehood”, em (ed.) S. O. Vandersluis, The State and Identity Construction in International Relations: 31-49, Millenium, London.
Jean L. Cohen e Andrew Arato (1992), Civil Society and Political Theory, MIT Press, Cambridge.
James Coleman (1954), “Nationalism in Tropical Africa”, American Political Science Review 48 (2).
John Comaroff e Simon Roberts (1981), Rules and Processes. The cultural logic of dispute in an African context, The University of Chicago Press.
(eds.) John & Jean Comaroff (1993), Modernity and its Malcontents. Ritual and power in postcolonial Africa, The University of Chicago Press.
(eds.) Jean & John Comaroff (1999), Civil Society and the Political Imagination in Africa, University of Chicago Press.
Robert Dahl (1971), Polyarchy: Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven.
René David (1972, original de 1966), Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo: direito comparado, Meridiano, Lisboa.
__________(1982), Les Grands Systèmes de Droit Contemporains, Dalloz, Paris.
__________(1984), “Sources of Law. Custom”, em (ed.) V. Knapp, International Encyclopedia of Comparative Law: 97-110, J. C. B. Mohr, Tübingen e Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London.
Mireille Delmas-Marty (1999), “A mundialização do Direito: probabilidades e risco”, Studia Iuridica 41, Colloquia 3: 131-145, Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra.
Maurice Duverger (1978), Xeque Mate, Edições Rolim, Lisboa.
David Easton (1965), A Systems Analysis of Political Life, Wiley, New York.
S. N. Eisenstadt (1966), Modernization: Protest and Change, Prentice-Hall, New Jersey.
Stephen Ellis (1999), The Mask of Anarchy. The destruction of Liberia and the religious dimension of an African civil war, Hurst & Company, London.
Pierre Englebert (2000), State Legitmacy and Development in Africa, Lynne Reinner, Boulder.
(eds.) F. M. Engelbronner, M. O. Hinz e J. L. Sidano (1998) Traditional Authority and Democracy in Southern Africa, University of Namibia.
(eds.) Peter Evans, Dietrich Raeschsmeyer e Theda Skocpol (1985), Bringing the State Back In, Cambridge University Press.
Sally Falk-Moore (1978). Law as Process: an anthropological approach, Routledge & Kegan Paul, London.
__________(1986), Social Facts and Fabrications. “Customary” Law in Kilimanjaro, 1880-1980, Cambridge University Press.
__________(2001), “Certainties undone: fifty turbulent years of legal anthropology, 1949-1999”, The Journal of the Royal Anthropological Institute: 95-116, London.
James Ferguson (1994), The Anti-Politics Machine. “Development”, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho, University of Minnesota Press.
Carlos Ferreira de Almeida (1998), Introdução ao Direito Comparado, Almedina, Coimbra.
__________(2000), Direito Comparado. Ensino e Método, Edições Cosmos, Lisboa.
C. F. Fisiy e P. Geschiere (2001), “Witchcraft, development and paranoia in Cameroon. Interactions between popular, academic and state discourse” em (eds.) H. Moore e T. Sanders, op. cit.: 226-247.
Meyer Fortes e E. E. Evans-Pritchard (1940), African Political Systems, Oxford University Press.
Diogo Freitas do Amaral (1994), Curso de Direito Administrativo, vol. I, 2ª ed., Coimbra.
Ernest Gellner (1994), The Conditions of Liberty; civil society and its rivals, Oxford University Press.
Anthony Giddens (1984), The Constitution of Society, Polity Press, Cambridge.
Sally Falk-Moore (1978). Law as Process: an anthropological approach, Routledge & Kegan Paul, London.
__________(1986), Social Facts and Fabrications. “Customary” Law in Kilimanjaro, 1880-1980, Cambridge University Press.
__________(2001), “Certainties undone: fifty turbulent years of legal anthropology, 1949-1999”, The Journal of the Royal Anthropological Institute: 95-116, London.
James Ferguson (1994), The Anti-Politics Machine. “Development”, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho, University of Minnesota Press.
Carlos Ferreira de Almeida (1998), Introdução ao Direito Comparado, Almedina, Coimbra.
__________(2000), Direito Comparado. Ensino e Método, Edições Cosmos, Lisboa.
P. F. Gonidec(1968), Les Droits Africains. Évolution et sources, Auzias, Paris.
Jürgen Habermas (1965), Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt.
Jürgen Habermas (1992), The Structural Transformation of the Public Sphere: an inquiry into a category of bourgeois society, Polity, Cambridge.
Jürgen Habermas (1996), Between Facts and Norms. Contributions to a discourse theory of Law and democracy, MIT Press, Cambridge, Massachussets.
John Harbeson (1994), “Civil society and political renaissance in Africa”, em (eds.) J. Harbeson, D. Rothchild e N. Chazan, Civil Society and the State in Africa: 1-29, Lynne Rienner, Boulder.
John W. Harbeson (1999), “Rethinking Democratic Transitions: Lessons from Eastern and Southern Africa”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 39-57, Lynne Rienner, Publications.
(eds.) John Harbeson, Donald Rothchild e Naomi Chazan (1994), Civil Society and the State in Africa, Lynne Rienner, Boulder.
David Held (1989), Political Theory and the Modern State, Polity Press, Cambridge.
Jeffrey Herbst (1999) “The Role of Citizenship Laws in Multiethnic Societies: evidence from Africa”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 267-285, Lynne Rienner, Publications.
______________(2000), States and Power in Africa. Comparative lessons in authority and control, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
António M. Hespanha (1993), Justiça e Litigiosidade. História e prospectiva, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
___________(1998, original de 1997), Panorama da Cultura Jurídica Europeia, Livros Europa América.
Thomas Hodgkin (1956), Nationalism in Colonial Africa, New York University Press.
(ed.) Signe Howell (1997), The Ethnography of Moralities, European Association of Social, Anthropologists, Routledge.
Robert Jackson (1990), Quasi-States: sovereignty, international relations and the Third World, Cambridge University Press.
Robert Jackson e Carl Roseberg (1983), “Why Africa’s weak states persist: the empirical and the juridical in statehood”, World Politics 35: 1-24.
Richard Joseph (1999), “The Reconfiguration of Power in Late Twentieth-Century Africa”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 57-83, Lynne Rienner, Publications.
(ed.) Richard Joseph (1999), State, conflict and Democracy in Africa, Lynne Rienner, Publications.
Edward Keene (2002), Beyond the Anarchical Society. Grotius, colonialism and order in world politics, Cambridge University Press.
Robert Keohane e Joseph Nye (1977), Power and Interdependence, Harper Collins.
(eds.) J. Kirshner e L. Mayali (2002), Privileges and the Rights of Citizenship. Law and the juridical construction of civil society, Michigan State University.
(ed.) V. Knapp (1984), International Encyclopedia of Comparative Law, J. C. B. Mohr, Tübingen e Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London.
Stephen Krasner (1978), Defending the National Interest, Princeton University Press.
(eds.) Hilda e Leo Kuper (1961), African Law: adaptation and development, Berkeley University Press, Berkeley.
Karl Larenz (1997, original de 1991), Metodologia da Ciência do Direito, Fundação Calouste Gulbenkian.
Karl Llewellyn and E. A. Hoebel (1942), The Cheyenne Way. Conflict and case law in primitive jurisprudence, University of Oklahoma Press.
Steven Lukes (1973), Émile Durkheim: his life and work. A historical and critical study, Penguin Books.
Mario G. Losano (1983), “A difusão extra-europeia do Direito codificado” e “O Direito consuetudinário africano”, em Os Grandes Sistemas Jurídicos: 108-11, 135-146, Presença, Lisboa.
Mahmood Mamdani (1996), Citizen and Subject. Contemporary Africa and the legacy of late colonialism, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Michael Mann (1993), The Sources of Social Power, vol. 2, Cambrige University Press.
Armando Marques Guedes (2002), “Os Estados pós-coloniais, as novas políticas africanas e a liberdade de informação”, Fundação Calouste Gulbenkian, no prelo.
Armando Marques Guedes et al. (2001), “Litígios e pluralismo em Cabo Verde. A organização judiciária e os meios alternativos”, Themis. Revista da Faculdade de Direito da UNL 3: 1-69, Lisboa.
________(2002), Litígios e Legitimação. Estado, sociedade civil e Direito em S. Tomé e Príncipe, Almedina, Coimbra.
___________(2003a), Pluralismo e Legitimação. A edificação jurídica pós-colonial de Angola, Almedina.
___________(2003b), “Law as Culture?”, (ed.) A. M. Hespanha, Feelings of Justice in Macao, ICS, Lisboa.
Armando M. Marques Guedes (1978), Ideologias e Sistemas Políticos, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa. (idem, 1984, Instituto de Altos Estudos Militares, Lisboa).
Aguiar Mazula et al. (1998), As Autarquias Locais em Moçambique, Maputo.
Joel S. Migdal (2001), State in Society. Studying how states and societies transform and constitute one another, Cambridge University Press.
Alexandre Miguel Mestre (2002), “Angola. Country information”, em H. M. Kritzer, Legal Systems of the World. A political, social and cultural encyclopedia, vol. I: A-D, ABC Clio.
Júlio Monteiro Jr. (1974) Rebelados da ilha de Santiago em Cabo Verde, Centro de Estudos de Cabo Verde, Praia.
José Armando Morais Guerra (1994), Direito da Economia Angolana, Escher, Lisboa.
Vital Moreira (1992), Notas sobre o sistema de Governo e poder do Presidente segundo a Constituição de São Tomé e Príncipe, Coimbra.
Joël Moret-Bailly (2002), “Ambitions et ambiguïtés des pluralismes juridiques”, Droits. Revue Française de théorie, de philosophie et de culture juridiques 35 (2): 195-207.
Maria da Conceição Neto (2002), “Do passado para o futuro. Que papel para as autoridades tradicionais”, comunicação não-publicada, Forum Constitucional, Huambo.
____________(2002a), “Respeitar o passado – e não regressar ao passado”, comunicação não-publicada, I Encontro Nacional sobre Autoridades Tradicionais, Luanda.
James March e Johan P. Olsen (1979), Ambiguity and Choice in Organizations, Universitetsforlaget, Bergen, Norway.
Adebayo Olukoshi (1999), “State, conflict and Democracy in Africa: the complex process of renewal”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 451-467, Lynne Rienner, Publications.
James O’Connor (1973), The Fiscal Crisis of the State, St. Martin’s Press, New York.
Fernando Pacheco (2002), “Autoridades tradicionais e estruturas locais de poder em Angola: aspectos essenciais a ter em conta na futura Administração Autárquica”, comunicação não-publicada, Ciclo de Palestras sobre Descentralização e o Quadro Autárquico em Angola, Fundação Friedrich Ebert, Luanda.
Jan Nederveen Pieterse e Bhikhu Parekh, (1995), “Shifting imaginaries: decolonization, internal decolonization, postcoloniality”, em Pieterse, J. N. e Parekh, B., The Decolonization of Imagination. Culture, knowledge and power: 1-20, Zed Books, London and New Jersey.
Rui Pinto Duarte (2000) “Sistemas Jurídicos Comparados”, FDUNL, cursos on-line, Internet.
Talcott Parsons (1952), The Social System, Tavistock Press, London.
Leopold Pospisil (1967). “Legal levels and multiplicity of legal systems in human societies”, The Journal of Conflict Resolution 9(1): 2-26.
Nicos Poulantzas (1968), Pouvoir Politique et Classes Sociales, Maspero, Paris.
Gyan Prakash (2002), “Civil society, community and the nation in colonial India”, Etnográfica 6 (1): 27-41, Lisboa.
A. R. Radcliffe-Brown e Darryl Forde (1950), African Systems of Kinship and Marriage, Oxford University Press.
Marcelo Rebelo de Sousa (1977), “Sistema semipresidencial: definição e perspectivas”, Nação e Defesa 2 (3): 5-15, Estado-Maior do Exército Português, Lisboa.
William Reno (1998), Warlord Politics and African States, Lynne Rienner Publishers, Boulder and London.
Luis Rodriguez-Piñero Royo (2000), “Del partido unico al ‘buen govierno’: el contexto internacional de los procesos de democratización en el África susahariana después de la guerra fria”, em (ed.) Xavier Peñas, África en el sistema internacional. Cinco siglos de frontera, Universidad Autonoma de Madrid.
Lawrence Rosen (1991), The Anthropology of Justice: law as culture in Islamic society, Cambridge University Press.
Norbert Rouland (1994), Legal Anthropology, The Athlone Press, London.
Richard Sandbrook (1988), The Politics of Africa’s Economic Stagnation, Cambridge University Press.
Jean-Pierre Olivier de Sardan (1996), “L’économie morale de la corruption en Afrique”, Politique Africaine 63: 97-116, Paris.
_____________ (1999), “A moral economy of corruption in Africa?”, The Journal of Modern African Studies 1 (37): 25-52, London.
Gerhard Siebert (2001), Camaradas, Clientes e Compadres. Colonialismo, socialismo e democratização em S. Tomé e Príncipe, Vega, Lisboa.
Américo Simango (1999), Introdução à Constituição Moçambicana, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
Rogério Soares (1969), Direito Público e Sociedade Técnica, Coimbra.
(eds.) June Starr and Jane Collier (1989), History and Power in the Study of Law: new directions in legal anthropology, Cornell University Press.
(ed.) George Stocking Jr. (1991), Colonial Situations. Essays on the contextualization of ethnographic knowledge, University of Wisconsin, Madison.
Brian Z. Tamanaha (1993), “The folly of the “social scientific” concept of legal pluralism”, Journal of Law and Society 20 (2):192-217.
Charles Tilly (1992), Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992, Oxford, Basil Blackwell.
Miguel Vale de Almeida (2002), “’Longing for oneself’: hybridism and miscegenation in colonial and post-colonial Portugal”, Etnográfica 6 (1): 181-201, Lisboa.
Paulo Valverde (2000), Máscara, Mato e Morte em S. Tomé. Textos para uma etnografia de S. Tomé, Celta Editora, Oeiras.
Jacques Vanderlinden (1996), Anthropologie Juridique, Dalloz, Paris.
Nicolas van de Walle (1999), “Globalization and African Democracy”, in (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 95-119, Lynne Rienner, Publications.
José Carlos Vieira de Andrade (2001), Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 2ª. edição, Coimbra.
Crawford Young (1999), “The Third Wave of Democratization in Africa: ambiguities and contradictions”, (ed.) R. Joseph, State, conflict and Democracy in Africa: 15-39, Lynne Rienner, Publications.
Kenneth Walz (1979), Theory of International Politics, Reading, Massachusets.
Franz Wieacker (1993, original de 1967), História do Direito Privado Moderno, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Karl Zweigert e Hein Kötz (1987), An Introduction to Comparative Law, The Clarendon Press, Oxford.
PAGE 236

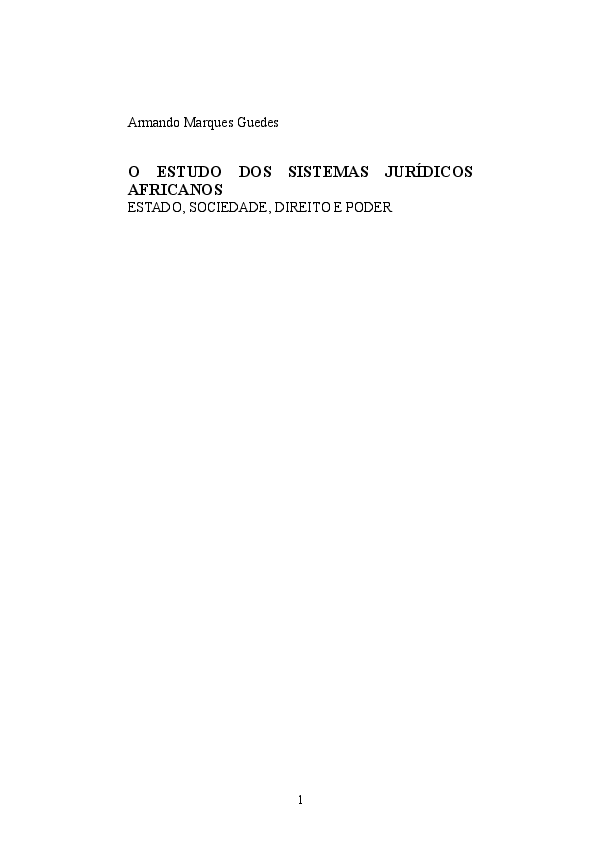
 Armando Marques-Guedes
Armando Marques-Guedes